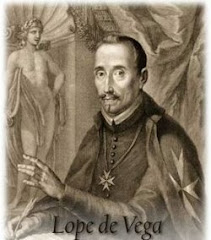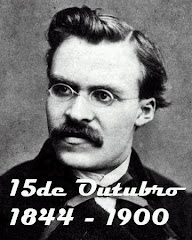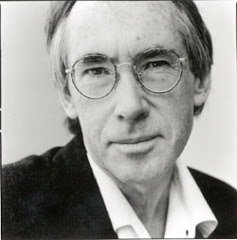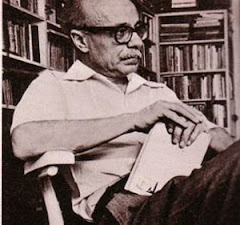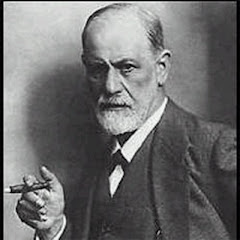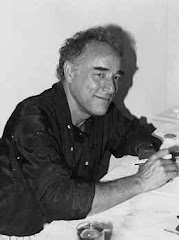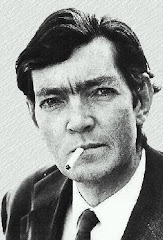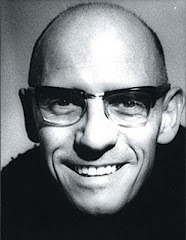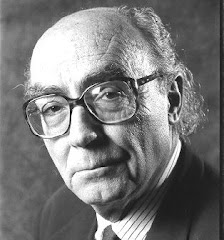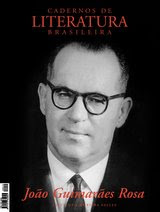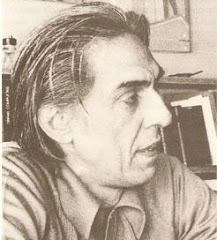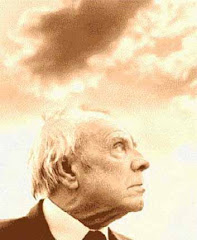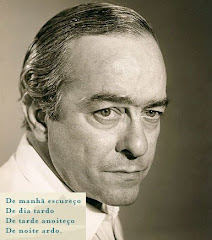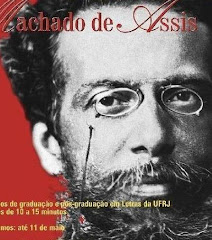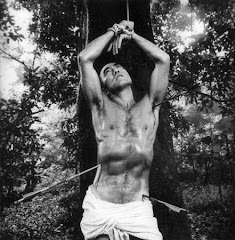Entrevista publicada in Pucheu, Alberto. A Fronteira Desguarnecida (Poesia Reunida 1993 - 2007). Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2007.
.
Considerado um dos poetas mais atuantes da cena artística e cultural deste início de milênio, Alberto Pucheu nasceu no Rio de Janeiro em 1966. É escritor e professor de Teoria Literária da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicou os seguintes livros: Escritos da Indiscernibilidade. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2003. A Vida É Assim. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001. Ecometria do Silêncio. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999. A Fronteira Desguarnecida. Rio de Janeiro: Ed. Sette Letras, 1997. Escritos da Freqüentação. Rio de Janeiro: Ed. Paignion, 1995. Na Cidade Aberta. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1993. Organizou o livro: Poesia(e)filosofia; por poetas-filósofos em atuação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Sette Letras, 1998, que contou com a participação de Adélia Prado, Antonio Cicero, Fernando Santoro, Marco Lucchesi, MD Magno, Orides Fontela e Rubens Rodrigues Torres Filho, além da do próprio organizador. Participa das antologias: 7+1. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1997 (organizada por Guilherme Zarvos) e A poesia fluminense no século XX. Rio de Janeiro: FBN/Imago/UMC, 1998 (organizada por Assis Brasil).
Em torno dos Escritos da Indescernibilidade foi feita a entrevista a seguir. Nela, o poeta define seus Escritos..., transita pela República platônica, assume a “relevância” do esquecimento enquanto categoria nietzscheana, fala do “escuro” enquanto conceito poético, na poesia de Manuel de Barros, e nos brinda com uma bela reflexão acerca dos “corpos múltiplos” que se formam a partir dos “encontros” entre a poesia e a filosofia. Vale a pena mergulhar na letra de Pucheu, e entender porque André Gardel considera os Escritos... “um livro teórico com andadura e compleição poéticas, com conceitos e definições que nascem de eixos de formação de linguagem...”. Com a palavra, o poeta de A Fronteira Desguarnecida – texto com o qual o autor recebeu, em 1996, o prêmio de poesia da Fundação Biblioteca Nacional/INL para obra em curso.
NG – Depois da poesia de A Vida é assim (2001), o que são os Escritos da Indescernibilidade (2003)?
AP: O livro de uma confluência das forças que me formam, poéticas e filosóficas. O livro de uma mestiçagem de alguém para quem a aprendizagem da poesia esteve e está intimamente ligada à aprendizagem filosófica. O livro de uma pessoa cujo caminho não a fez distinguir a suposta liberdade poética da exigência de um suposto rigor do pensamento filosófico. O livro de um poeta para quem a visão que a crítica literária tem da poesia raríssimas vezes teve importância, e que, em contraposição àquela, sempre privilegiou os textos dos filósofos sobre poesia, literatura e arte. O livro de quem sente a necessidade e o desejo de pensar o poético. O livro impulsionado, todo ele, pela requisição para que o poeta pensasse a própria poesia. Assim, vejo os Escritos da Indiscernibilidade como um livro do meio do caminho. Do meio do caminho de minha vida. Como um livro da perplexidade do entre, um livro para entrar na perplexidade, como disse Jorge de Lima: "Mas que venham de vós perplexidades/ entre as noites e os dias, entre as vagas/ e as pedras, entre o sonho e a verdade, entre..."
NG: O que seria “entrar” na perplexidade?
AP: Uma possibilidade para entrarmos na perplexidade, buscando freqüentá-la o quanto der, é nos mantermos no entre. Entre no entre, seria um convite, um slogan poético, não tautológico. A admiração é filha do entre, daquela zona em que se é, simultaneamente, os dois pólos e nenhum, daquela ambiência em que, ao mesmo tempo, se é e não se é, daquele lugar que, concomitantemente, é um não-lugar – entre o dentro e o fora, entre as noites e os dias, entre o sonho e a verdade, entre as vagas e as pedras, entre. Como, além de em Jorge de Lima, já está
em Hesíodo, o espanto é, sim, filho das vagas e das pedras, é litorâneo – nossa cidade. O jeitinho do carioca: admirar, exclamar, espantar-se, sempre, seja com o que for, o futebol, a paisagem, uma batida de carro, um assalto, uma esquina, uma mulher bonita... Melhor do que ninguém, o povo sabe que o jeitinho do Rio é o do entre: conta a anedota que, aqui, cafetão se apaixona, puta tem orgasmo, traficante se vicia...
Engendrador da exclamação, o entre é a pura passagem, a abertura de um movimento em que nada se estabiliza, em que nada se configura inteiramente, o bueiro da criação. Parece-me salutar, portanto, e mesmo necessário, levá-lo como passageiro da escrita, ele, que, dela, é seu motor. Todos os dias, peço carona a ele, com alguma esperança. E ele deposita no bolso de minha poesia algumas palavras-imagens-conceitos que a atravessam: miscigenação, indiscernibilidade, fronteira desguarnecida etc, tudo que quer desalgemar o poético, tudo que quer deixá-lo fugidio pela cidade, perigoso, arrastando o que lhe aparece pela frente.
NG: No segundo fragmento dos Escritos da Indiscernibilidade, você escreve sobre a “formação de corpos múltiplos”, a partir dos “encontros” entre Filosofia e Poesia. Esse fragmento sugere que a ação do pensamento e o exercício da linguagem possuem “particularidades que, ...mantêm suas respectivas diferenças...”. A quais diferenças você se refere nesta relação entre Filosofia e Poesia? E o que são esses “corpos múltiplos”?
AP: A pergunta pelas diferenças não me parece intrínseca ao livro, mas aquela, talvez, para a qual ele deseja apontar uma alternativa, outra, sem recusar, entretanto, que distinções possam existir. A rápida e, pelo que me lembro, única menção às diferenças, autenticando inteiramente sua pergunta, aparece tão somente como a tentativa de não querer determinar que a confluência seja um ponto final, estanque, único, anulador de diversidades que podem existir e que, de fato, existem. Se existe uma zona de mestiçagem entre elas, há também uma de diferenciação: esta é a peculiaridade e o enigma de tal relação: poesia e filosofia são discerníveis, sem deixarem de ser indiscerníveis, e indiscerníveis, sem deixarem de ser discerníveis. Em meu percurso de busca de uma ou outra indiferenciação, sempre me interroguei sobre o fato de as pessoas tomarem o divórcio entre elas como um ponto de partida inquestionável. Isto porque, para mim, demarcar claramente a separação é tão difícil quanto tecer a fusão.
Historicamente, entretanto, algumas intensidades que jogaram mais para o lado da filosofia podem ser percebidas, assim como outras que preferiram a poesia. Poder-se-ia pensar, por exemplo, no conceito e na idéia como mais acentuados pela filosofia, enquanto que a imagem e o sensório teriam privilegiado a poesia. A irônica exclusão dos poetas da cidade platônica atravessaria esta questão, mas, como disse, a expulsão parece-me inteiramente irônica (como falta o sentido de riso nos – maus – leitores de Platão! Os comentadores são demasiadamente sérios, adiposos, enquanto Platão sabia a leveza do rir como poucos, possuía a arte e a sutileza do riso, ausentes naqueles que, ainda hoje, o criticam a partir de estereótipos tolos). Resumindo, o que quero dizer é que os ESCRITOS só mencionam as diferenças para não tornar as indiferenças exclusivistas. As indiferenças são acolhedoras das diferenças, precisam delas como precisamos dos mapas para desguarnecer as fronteiras, como precisamos do sujeito e do objeto para poder superar a relação entre sujeito e objeto. E por aí em diante.
A outra parte da questão diz respeito aos encontros entre poesia e filosofia como formadores de corpos múltiplos. Não gosto de pensar poesia e filosofia como disciplinas estanques, matérias apreensíveis, pais de filhos únicos, mas como forças que deslizam simultaneamente em várias direções, criando inúmeros planos, gerando encruzilhadas intensivas imprevisíveis. Os encontros entre elas se desdobram em efeitos inclassificáveis, indetermináveis. Longe de mim querer estabelecer um novo gênero poético-filosófico a partir destes esbarros, que são, antes, justamente, a impossibilidade de determinação de um gênero. Não quero determinar esse indeterminável, classificar esses inclassificáveis, estancar esse movimento prolífero. Esses esbarros assinalam a impossibilidade de fixidez, a possibilidade de um contínuo desdobramento inapreensível.
NG: Essa expulsão dos poetas da República platônica gera querelas infindas. Você faz disso uma leitura irônica, atentando para os “maus” “leitores de Platão” e seus “estereótipos tolos”. Quais são eles?
AP: Realmente, parece-me, alguns estereótipos se cristalizaram em relação à leitura que se faz de Platão. O primeiro, e mais evidente, é a tentativa de transformar seus diálogos em um sistema, ao invés de pensá-los como um teatro do pensamento no qual questões que estimularam e calcaram (continuam calcando e estimulando) o percurso ocidental vão surgindo segundo uma eficácia provi-sória inerente ao jogo ficcional da filosofia. A filosofia tem seu jogo ficcional, e Platão é o grande mestre nisso. Outro lugar-comum que estanca nossa compreensão dos diálogos é a confusão feita entre Platão e Sócrates, como se este representasse nos diálogos as idéias daquele, como se fosse seu porta-voz. De alguma maneira, Sócrates é um personagem de grande importância, mas, de maneira alguma, Platão, que é a construção das redes de múltiplas e móveis conexões e disjunções que alimentam constantemente o pensamento, aniquila a pluralidade de vozes que se entrechocam; esbarros, estes sim, que são a assinatura de uma tal polifonia – os arranjos platônicos do pensamento, nos quais a hierarquia das vozes não é estanque nem unívoca. Platão é tão difícil porque não pensa por nós, mas, pensando, nos dá o que pensar. O erro é acreditar que ele pensa por nós.
Outro estereótipo é o de Platão contra os poetas. Ora, Platão cria um amálgama, uma fusão dos vários tipos de discursos (poéticos, teatrais, religiosos, políticos, retóricos, eróticos, matemáticos...) que circulavam na Grécia, inventando, assim, um novo tipo de escrita: os diálogos filosóficos. Os antigos jamais opunham poesia e filosofia em Platão. Muito pelo contrário. Diôgenes de Laêrtios nos deixa uma observação importante: “Aristóteles diz que a forma de seus [de Platão] escritos ficava entre a poesia e a prosa”. E Nietzsche, que foi quem, paradoxalmente, melhor entendeu Platão, afirmou: “Nos diálogos de Platão, aquilo que possui um destacado sentido artístico é, na maior parte das vezes, o resultado de uma rivalidade com a arte dos oradores, dos sofistas, dos dramaturgos de seu tempo, descoberta para que ele pudesse dizer por fim: ‘Vejam, também posso fazer o que os meus maiores adversários podem; sim, posso fazê-lo melhor do que eles. Nenhum Protágoras criou mitos tão belos quanto os meus, nenhum dramaturgo, um todo tão rico e cativante quanto o Banquete, nenhum orador compôs discursos como aqueles que eu apresento no Górgias – e agora rejeito tudo isso junto, e condeno toda a arte imitativa! Apenas a disputa fez de mim um poeta, um sofista, um orador!’ Que problema se abre para nós, quando perguntamos pela relação da disputa na concepção da obra de arte!”
NG: Uma nítida inscrição do esquecimento perpassa seus atuais ESCRITOS... (p. 24 e 46, p. ex..). Além dessa categoria nietzschiana, o que mais o aproxima do autor de ‘A Origem da Tragédia’?
AP: Realmente, Nonato, suas perguntas vão sempre em pontos importantes. O esquecimento é de grande relevância nos ESCRITOS, como na poesia que venho escrevendo. Nietzsche é um grande pensador do esquecimento. Borges, no magnífico ‘Funes, O Memorioso’, sobre o personagem que sofre um acidente e perde a possibilidade de esquecer, lembrando-se de absolutamente tudo, escreve alguma coisa como: Desconfio que Funes já não pensa. Há uma necessidade do esquecimento para o pensamento. A epígrafe de NA CIDADE ABERTA, meu primeiro livro, é uma frase, de fundamental importância para mim, que escutei no meio da rua:
Assim, na bucha, eu não falo não, mas deixa eu me esquecer que, de repente, eu falo. Impressionante, esta frase. Fiquei comovido quando a escutei, vinda de um homem qualquer, simples, humilde, no meio da rua. Pessoalmente, sou um grande esquecido, portanto, como se não bastasse sua necessidade para a arte, o esquecimento, ainda por cima, cotidianamente, me atravessa. Nunca padecerei da perda da memória, pois esta, a memória, nunca a tive.
Agora, o que mais me aproxima de Nietzsche? Puxa vida! Foi Nietzsche quem me levou para a filosofia. A leitura de ‘Assim Falou Zaratustra’, em um grupo de estudos que fiz casualmente com Rosângela Ainbinder, que permitia e insuflava maravilhosamente a intensidade do livro a cada encontro, mudou radicalmente minha vida. A conseqüência do grupo foi um namoro dolorosamente terminado, uma faculdade abandonada, muitos amigos deixados, um estágio com ótimo emprego garantido largado, enfim, uma revolução pessoal. Nietzsche me ensinou que, para suportar o tranco do filosófico e do literário, nos perdemos, nos desligamos de algumas relações de camaradagem, nos tornamos incompatíveis com certos amores de ontem, abandonamos inúmeros hábitos, não reconhecemos prazeres que antes sentíamos... A literatura e a filosofia, entretanto, nada têm a ver com tristezas, falta de amizades, carência de amores, ausência de todos e quaisquer hábitos, privilégio de desgostos – claro que não, a literatura e a filosofia jogam um outro jogo. Tudo isso pode ser preciso para que nós sejamos surpreendidos por novos encontros, novas relações, novos amores, novas disposições, novas possibilidades de vida ainda mais festivas, ainda mais audazes. A literatura e a filosofia jogam um jogo de alegrias. Nós não medimos a literatura nem a filosofia, não possuímos uma fita métrica que comporte seus tamanhos, vislumbramos apenas muito pouco de suas envergaduras. Ao contrário, elas é que nos medem, exigindo de nós, a cada momento, uma dedicação, um preparo, um exercício. A literatura e a filosofia se confrontam com nossa individualidade, enfrentam-na, atacam-na. Por isso, ainda que em nome de vida, ou melhor, sobretudo por estar em nome de vida, investindo-nos, elas são tão temerosas. Elas nos ameaçam com seu excesso de vida, e, da ameaça, o perigo: nos perdermos na encruzilhada, na indiscernibilidade, na imediaticidade, em vida.
NG: Há nos Escritos da Indiscernibilidade uma forte presença da reflexão, do pensamento. Gostaria que você falasse acerca do imaginário na sua criação.
AP: Tenho um forte desejo, Nonato, que, um dia, espero cumprir. Para mim, em minha vida, poesia e filosofia foram fundamentais e indiscerníveis. Muitas vezes, confesso que quase sempre, lia livros de filosofia como se fossem de poesia, e livros de poesia como se fossem de filosofia. Deve ser alguma disfunção da sensibilidade, alguma deformação cerebral. Mas sempre considerei que, se a filosofia era necessária como ingestão, ao nível do resultado da digestão, quem queria sair era mesmo uma escrita poética. Apesar disso, eu espero cumprir um certo arco, conseguir realizar aquilo que meu trabalho e minha vida vêm me requisitando, que é a tentativa de ir de um lado a outro do arco: poemas, escritos da miscigenação e ensaios. Não para ativar uma completude de gêneros, para mim, intimamente, desvalorizada, mas apenas para aprender que estamos pensando o tempo todo de dentro de um deslizamento que apaga os gêneros, para aprender que há uma fluidez constante inerente ao pensamento, para aprender, talvez, que o processo do ensaio, dos poemas e das miscigenações faz parte da mesma aprendizagem, da aprendizagem da escrita, do pensamento, da vida, para aprender que temos de estar abertos àsforças que nos guiam e às requisições do momento, para aprender, enfim, que não há arco nenhum, mas apenas a espiral intensiva da criação.
NG: Ao escrever sobre a poesia de Manoel de Barros, você toma como ponto de partida “o escuro como inerente à poesia, como origem que cada poema resguarda”. Isso vale também para uma poética urbana como a sua?
AP: O escuro, em Manoel de Barros, faz parte de um conjunto de conceitos poéticos inter-relacionados, tais como: escuro, origem, poesia, mistério, terra, ser, inominado, pré-, silêncio e, sobretudo, natureza. Ele mesmo distingue, entretanto, natureza de “natural”, como se o “natural” fosse o já explicitado do mundo, o superficial fotográfico, enquanto que natureza, acatando o natural, é o movimento imanente de geração contínua do natural, que acolhe, com isso, no superficial, a profundidade obscura. Em geral, quando se aproximam de Manoel de Barros, as pessoas o lêem freqüentemente pelo natural, pelo exótico, pelo pantaneiro – no sentido regionalista da palavra: é um grande engano. Há que se ler o poeta por aquilo que ele entende por natureza. Nesse sentido, ele é um pré-socrático, um Heráclito contemporâneo. Como os pré-socráticos, Manoel de Barros escreveu seu peri physeos, “acerca da natureza”. Pouco importa que os elementos utilizados, que as imagens explicitadas, sejam naturais. Por muito tempo quis escrever o meu peri polis, “acerca da cidade”, pensar a cidade pela dinâmica de pensamento oriunda dos pré-socráticos. Por isso, pouco me importa se Manoel de Barros usa em seus poemas sapos, lesmas, rãs, tuiuiús etc. O que me importa é a nova-arcaica maneira de pensar que ele conseguiu instaurar, sua nova-arcaica imagem do pensamento. E isso independe dos elementos naturais. Natureza, como Manoel de Barros a entende, e cidade, tal qual a entendo, não são dissociadas. Elas se presenciam através do mesmo movimento. Eu poderia dizer que sou um poeta da natureza, no sentido dele, no sentido grego, ainda que pouquíssimas palavras do natural perpassem meus escritos, ainda que meus escritos privilegiem as palavras, acontecimentos e sintaxes urbanos. E poderia dizer que Manoel de Barros é um poeta urbano, no meu sentido. Mal comparando, e, obviamente, sem a menor pretensão, como Guimarães Rosa disse que Dostoievski é sertanejo. Agora, para mim mesmo, os arranjos escapam um pouco a essa dinâmica. Eles acatam um certo jogo da superfície. Por isso, para mim, eles foram diferentes, surpreendentes, levando-me a tentar pensá-los em “Escritos da sintaxe do trânsito”.
NG: Próximo ao Maracanã, no Rio de Janeiro, existe um outdoor cujo texto chama atenção do leitor: “O mundo não é, ele está sendo”. Como poeta urbano, como você lê essa assertiva inusitada do discurso midiático?
AP: Como poeta urbano, leio esse outdoor do ônibus, do carro, da bicicleta, do trem, do metrô, do táxi, a pé, leio-o de óculos, de lente, de binóculo, leio-o por entre máquinas, celulares, jornais, buzinas, aviões, camelôs, edifícios, fumaças, assaltos, leio-o conforme eu “estiver sendo”. Mas como, às vezes, não sou poeta urbano, nem sempre o leio como poeta urbano. Pode até ser que, em alguns momentos, eu nem o leia. Ou até que o eu tenha se esquecido de si com o grito de gol
no Maracanã.