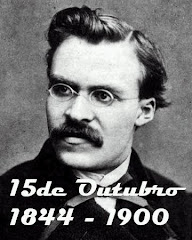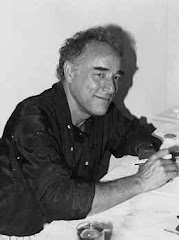Entrevista publicada em Rede de Letras n 4
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Outubro de 2003
O Rede de Letras (Letras no Mundo) traz, nesta edição, uma bela entrevista com um conhecedor de poesia atual, já que o tema foi objeto de estudos para a sua tese de doutorado, defendida recentemente. O tema é instigante, já que fala do fazer literário atual, ainda em processo de discussão. O entrevistado, com generosa paciência para responder a tantas perguntas, nos concedeu belas reflexões.
Muitos dos alunos do Curso de Letras estão estudando o tema, e vão fazer um belo proveito dos ensinamentos deixados. Outros virão a estudar, em Literatura Brasileira, e já podem ir se preparando. Ou, mesmo quem nada tenha a estudar sobre o tema, terá, ao longo da leitura, um espaço inteligente de prazer.
Nosso convidado: NONATO GURGEL
Mestre em Literatura Comparada pela UFRN e doutor em Ciência da Literatura, pela UFRJ, ele defendeu recentemente a tese Seis poetas para o próximo milênio. Possui publicações em livros, jornais e revistas das áreas de artes e culturas. É professor do Curso de Letras, da UNIGRANRIO, e consultor literário do PACC – Programa Avançado de Cultura Contemporânea, da UFRJ.
1. Você pesquisou, em tese recentemente defendida, seis poetas brasileiros contemporâneos. São nomes distintos, que refletem a multiplicidade do olhar no mundo atual. Mesmo assim, haveria denominadores comuns entre os seis nomes por você selecionados?
NG: É verdade, Gilda, a tese Seis poetas para o próximo milênio reflete essa multiplicidade característica do nosso tempo. Por isso selecionei autores cujas produções poéticas são representativas das últimas três décadas. Ou seja: reúno um autor que começou a publicar nos anos 60 (e que continua produzindo), destaco autores da chamada geração marginal, dos anos 70/80, mais alguns poetas que começaram a produzir nos anos 90, e que são hoje representativos do que alguns críticos chamam de uma "nova estética do rigor". São eles: Ana Cristina Cesar, Antonio Cicero, Armando Freitas Filho, Eucanaã Ferraz, Marco Lucchesi e Paulo Leminski. É difícil encontrar "denominador comum" entre eles, mas existe pelo menos um procedimento estético que os aproxima: uma perene "consulta" ao arquivo de formas da tradição. Todos eles se valem da tradição para construírem suas obras; seja essa a tradição do nosso considerado alto modernismo, com a qual Ana, Armando e Eucanaã tanto dialogam, ou a tradição clássica, estetizada, principalmente, por Cicero, Lucchesi e Paulo Leminski.
2. Falemos um pouco de Leminski, com seus valores contraculturais e libertários. Dos poetas por você analisados, ele representaria a facção que se alimenta do Concretismo. No entanto, esse movimento é visto de forma negativa, pela maioria dos críticos, por ser cerebral. Mas Leminski parece contrariar essas observações da crítica, tendo sido bastante popular e, ao mesmo tempo, um nome singular dentro de um momento de "literatura marginal". Como você veria a plurifacetada contribuição do "mulato-polaco" curitibano?
NG: Paulo Leminski é, dentre os autores da "literatura marginal", aquele que mais domínio possui do arquivo de formas da tradição. Talvez ele seja, dentre os seis poetas, o mais consciente da importância da forma. "Não somos os ossos de Ovídio?" – pergunta Cartésius logo no início do Catatau (1975). Como poeta, escritor, tradutor, ensaísta, compositor ou apresentador de TV, Leminski utilizava esse "estoque de formas" da tradição com maestria e singularidade. Esse trânsito por vários territórios da arte e da cultura, mais a utilização de múltiplos suportes midiáticos, transformam o autor e sua obra num signo profícuo e sedutor. Não é à toa que ele, assim como Ana C., são tão relidos na contemporaneidade. Ambos ganharam reedições, vídeos, biografias e viraram, respectivamente, personagens de romances como Fantasma, de José Castelo, e Teatro, de Bernardo Carvalho.
3. Alguns dos poetas de sua "antologia" já eram alvo de uma preocupação antiga de sua parte, como Ana C. Você tem trabalhos publicados, que revelam uma certa afinidade. Mas ela é um nome, no mínimo, polêmico: não consegue estabelecer uma unanimidade da crítica. Quais os elementos que você distingue na poesia de Ana C.?
NG: Tenho realmente uma antiga e forte identificação com o texto da Ana. Sei que para parte da crítica sua obra é discutível, às vezes considerada inacabada. Mas penso que esse inacabamento, essa noção do fragmento, também fazem parte do projeto estético do nosso tempo. Considero Ana C. a poeta que melhor traduz a sensibilidade de sua geração alternativa, aflita e ainda meio utópica. Além disso, ela possui excelente repertório artístico e cultural. Como poeta, ensaísta ou tradutora, Ana consegue estetizar na página muito do que sua geração vivenciou na pele. Essa relação entre a construção da linguagem e o comportamento como elemento crítico é fundamental para entendermos a sua geração. Isso às vezes faz falta nos dias de hoje, quando alguns poetas se voltam basicamente para a questão da forma, do rigor estético, que é bacana, fundamental; mas pode parecer, em alguns casos, algo meio asséptico e/ou até mesmo estéril.
.
Admiro a eletricidade do texto da Ana. A teus pés (1982) é, para mim, um dos mais belos livros produzidos no Brasil finisecular. O leitor pode não gostar de sua poética, mas é quase impossível ser indiferente a ela. Dentre os múltiplos "elementos" dessa poética, distingo os procedimentos do simulacro e da intertextualidade tão belamente construídos a partir de autores como Baudelaire ("Carta de Paris"), Drummond ("O homem público nº 1") e Bandeira ("Atrás dos olhos das meninas sérias"), dentre outros... Tais procedimentos caracterizam como alegórica a poética de Ana C. e de uma parte da sua geração.
4. Sem dúvida, a categoria de "alegoria", trazida para a cena da crítica por Walter Benjamin – e sobre quem você falou da Semana de Letras, da Unigranrio, é importante para podermos entender a literatura contemporânea. Mas há uma melancolia, implícita na visão alegórica. Você a percebe na literatura atual, principalmente no Brasil?
NG: Essa pergunta é interessante e sofisticada. A alegoria, como você sabe, traduz a necessidade do autor estetizar a diferença, a voz do outro. Evidencia, portanto, o desejo do sujeito contrapor-se ao que é da esfera do símbolo – "manifestação do absoluto" – e que se inscreve no espaço da ordem, da lei. Nesse sentido, percebo como alegórica uma parte da produção literária contemporânea na qual se insere, por exemplo, João Gilberto Noll. Quanto à melancolia "implícita na visão alegórica", e que está associada a uma certa nostalgia em função da perda do original, do absoluto, não consigo vislumbrar com muita nitidez no atual contexto. Penso que a melancolia pressupõe uma certa contenção emotiva, uma armazenagem de sentimentos que não detecto na literatura brasileira deste início de milênio, onde vejo mais uma "sangria", um excesso de exposição, de polifonia, de performances repetitivas... Isso se pensarmos na convergência temática de objetos como a violência e a banalização da vida, tão presentificadas nas páginas de prosadores como, por exemplo, Marçal Aquino e Patrícia Melo – herdeiros daquela estética urbana e cortante à la Ruben Fonseca.
5. Bem, creio que não podemos deixar de tocar em cada um dos nomes, que compõem o rico mosaico de tua tese: seria, no mínimo, um vazio imenso nessa entrevista. Então, chegou a vez de Antônio Cícero, que tem, pelo menos, duas facetas igualmente importantes no cenário brasileiro: o de ser poeta e também compositor da MPB, irmão, que é, da cantora Marina. Mas o A. C., diferente do Leminski, atua no campo midiático de um modo distinto do que o faz na poesia propriamente dita, enquanto o Leminski não respeitava muito essas fronteiras. A sua poesia de certo modo incorpora o filão filosófico (cerebral), enquanto a música é a região da erotização da linguagem (prazer). Como vês esse processo de A. C. e as distinções face ao percurso de Leminski?
NG: Você está certa: o "filão filosófico" de Cícero esplende bem mais em sua poesia escrita. Mas não sei fazer distinções entre a dicção filosófica dessa poesia e a linguagem do compositor. Vejo, por exemplo, que há entre ele e Leminski, alguma sintonia: ambos são poetas que, através de procedimentos estéticos diferenciados, resgatam e atualizam os imaginários míticos e clássicos. Nessa atualização, Leminski patrocina uma perene ruptura de gêneros; Cícero é bem mais fiel às formas, aos gêneros. Apesar disso, ambos transitam pelas mídias escrita e falada, e por espaços heterogêneos como o magistério e o gênero ensaístico.
6. Passemos, então, ao Marco Lucchesi, que recentemente deu entrevista ao jornal Rascunho, de Curitiba, dizendo o seguinte a respeito da poesia brasileira: "O panorama da poesia brasileira hoje é extenso e fértil (...). O lado negativo – a meu ver – repousa nas igrejinhas, nos pequenos partidos, em certas mistificações, ou zelos excessivos, e na tremenda confusão de transformar a experiência literária num pretexto". Talvez essa visão venha, exatamente, de um mal-estar diante da busca do transcendente, que parece ser o sentido do poetar de Marco Lucchesi, que não se coadunam com o quadro por ele delineado. Ou você reconhece na realidade brasileira as críticas por ele traçadas?
NG: É inegável a existência das tais "igrejinhas" na poesia contemporânea. Mas, será que elas não existiram sempre em nossa historiografia literária? Basta lembrar as antigas querelas entre o cultismo (a forma) e o conceptismo (a idéia), o significante e o significado, desde o Barroco, até os procedimentos artísticos e os roteiros culturais de Oswald e Mário de Andrade. O que considero interessante na poesia contemporânea é a sua vocação democrática, em termos estéticos. Não existem, neste início de milênio, cartilhas ou bulas formais. A poesia está livre. O poema curto convive com o texto longo e /ou de dicção transcendente sem grandes problemas. Nesse sentido, a prosa poética de Os olhos do deserto, do próprio Lucchesi, é exemplar. Outro exemplo é um autor elegante como Paulo Henriques Brito. Ele resgata formas clássicas, como o soneto, com uma peculiaridade ímpar.
7. Bem, uma pergunta mais geral: dos seis nomes escolhidos, vários atuam na esfera acadêmica, como professores. Há outros, que não foram alvo de teu estudo. E o que eu queria te perguntar, a respeito dessa constatação reside numa crítica, bem presente nos dias de hoje, que acusa a poesia (a literatura, em geral) de estar se tornando muito cerebral, acadêmica, perdendo a força daquela "explosão desejante" (a expressão é minha), ou seja, tornando-se "fria". Como vês, diante do quadro estudado, esta observação da crítica?
NG: Não gosto muito de literatura eminentemente cerebral. Mas penso que depois do "desbunde" da Contracultura e da estetização existencial, produzida por grande parte dos poetas dos anos 70/80, seja importante um certo apreço pela disciplina, pela forma. Daí porque os contemporâneos resgatam as formas clássicas. Reconheço que a forma, quando bem articulada com outros elementos, está repleta de desejo. Nesse sentido, é possível que Apolo fale a linguagem de Dioniso: "Como quem apaga a luz/ e tem o seu altar no escuro" (Antonio Cícero). Ou como na “Casa paterna” do poeta e professor da UFJF, Fiorese Furtado:
há idades esperando
em cada cômodo da casa
para estar aqui
atravessamos muitas mortes
8. A tua resposta anterior me permite enveredar por um outro caminho que, de certo modo, retoma aquela questão da "alegoria": trata-se da paródia, presente na construção dos textos, na atualidade e, sem dúvida, presente na literatura. Antes, porém, de formular a pergunta, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a questão da paródia, no que ela contém de "metapoesia", embora com um tom crítico, mas nem por causa disso deixando de reverenciar o passado, dando-lhe uma continuidade cultural. De certo modo, o resgate das "formas clássicas", como apontas, tem alguma relação com o "barroco", dilacerado entre antagonismos, igualmente próprios da cena atual da cultura, que alguns denominam de "pós-moderna". Então, se lembrarmos da época do "desbunde" e da "poesia marginal", seria uma rejeição ao "improviso", uma época de transição para um possível equilíbrio futuro, ainda que parodiando uma outra geração? De certo modo dás esta indicação, na primeira resposta...
NG: Gosto muito dessa relação que você tece entre a paródia, a "metapoesia" e sua leitura crítica em relação ao passado. Concordo que há, na contemporaneidade, uma visível "rejeição ao improviso". Nosso tempo requer um leitor crítico, com repertório. Ele não pode ser ingênuo. Nada de espontaneidade em relação aos sentimentos e às idéias. Você, que é professora e ensaísta, e conhece muito bem a historiografia literária e cultural, sabe dos eternos retornos aos clássicos e às suas noções de ordem e rigor estético. Basta pensarmos no Arcadismo (em contraposição ao Barroco), no Parnasianismo (em contradição com os ideais de liberdade do Romantismo) ou ainda no Concretismo (e na "faxina" que ele opera em relação aos "derramamentos" metafísicos dos poetas da geração de 45). Quer dizer: a coisa parece ser meio cíclica. Pelo menos em termos estéticos, já que, na literatura, como diz Leminski, as formas constituem-se no material transmissível e herdável. Por isso, elas são sociais. Por isso elas "custam caro", como diz Valèry. Por isso, através delas a gente narra e ama, como ensina Bakhtin.
9. Bem, já que me estendi na pergunta anterior, vamos para um outro ponto, de mais rápida formulação: e as questões político-sociais, como ficam na poesia atual? Porque me parecem rarefeitas. Ou estou equivocada?
NG: Acho que o final da resposta anterior tem a ver com essas suas indagações. Minha porção benjaminiana é explícita: gosto de associar os elementos estéticos aos dados históricos. Tomemos, como exemplo, as produções estéticas da Contracultura (geração marginal) e o que se produz no atual cenário artístico e cultural. Será que o "desbunde" e os desvios, dos anos 70 e 80, não refletem exatamente o contexto sufocante e ditatorial daquele período, enquanto o desejo de ordem e rigor – cultuados por nossos contemporâneos – não seriam conseqüências desses tempos que possuem no 11 de setembro americano um dos seus signos mais contundentes? Como essas questões são instigantes, gostaria de envolver nessa polêmica o senhor leitor.
10. Ainda nessa aproximação com a questão política, o Haroldo de Campos nos chama a atenção por estarmos vivendo um período pós-utopia, que viria a gerar a fragmentação. Ou uma perda de identidade. Como vês essa questão?
NG: Leminski dizia ser a sua a última geração que não deixou a utopia morrer; Ana Cristina Cesar ressaltava, nessa mesma geração, a importância dos projetos coletivos e identitários. Hoje isso é muito diferente. Os paradigmas da totalidade e da universalidade se quebraram. É muito mais difícil habitar um contexto no qual as noções de dualidades – que tanto sedimentaram os projetos do modernismo – não dão conta da multiplicidade nossa de cada dia. A partir disso, as noções de identidades foram relidas como móveis. Um texto como A Céu Aberto, do Noll, diz muito dos roteiros identitários que nos foram dados viver: trata-se de uma identidade mutante, inacabada e visivelmente meio performática, numa sociedade cujas relações de poder passam pelo crivo da simulação, da visibilidade. Uma boa resposta para essa pergunta encontra-se no seu instigante ensaio "Narciso, ontem e hoje", (Revista Comum, nº 12) onde você relê esse mito grego como um "marginal" dos tempos pós-utópicos.
11. Falamos de muitos, porém ainda não tocamos no nome do Eucanaã, que tem recebido prêmios por seu poetar. Gostaria de ler (eu ia dizer "ouvir", por um velho hábito...) o que terias a dizer sobre ele.
NG: O professor Eucanaã Ferraz é grande poeta. Seu livro Desassombro – lançado primeiro em Portugal e prêmio da Biblioteca Nacional em 2002 – é um dos mais belos livros de poemas deste início de milênio. Há nele um longo poema narrativo ("Eram penhas enormes") sobre a mãe do Thomaz Mann, que tinha relações com o Brasil. Esse poema é exemplar em termos de domínio da tecnologia literária. "Imaginassem as amendoeiras" é outro texto que comprova a qualidade de nossa poesia contemporânea:
Imaginassem as amendoeiras
que estamos em pleno outono.
Vestem-se como.
Púrpura, ouro,
estão perfeitas como estão:
erradas.
estão perfeitas como estão:
erradas.
Pudesse um poema, um amor,
pudesse qualquer esperança
viver assim o engano:
beleza, beleza, beleza,
mais nada.
mais nada.
12. Já falamos muito do que estudastes. Agora eu gostaria de perguntar: quais nomes lastimastes ter deixado de fora? Sim, porque uma tese tem limites e não é possível ir estudando vertiginosamente, sob pena de não ver o trabalho acabado, no prazo...
NG: Deixei muitos nomes de fora, sim. A própria forma da tese – baseada em Seis propostas para o próximo milênio, de Italo Calvino –, propõe um limite. Dentre os nomes que ficaram de fora, ressalto Claudia Roquette-Pinto. Ela chegou a ser selecionada, mas confesso que a densidade de sua poesia exigiu de mim outros prazos. Chico Alvim, Arnaldo Antunes e Paulo Henriques Brito são autores que também foram cogitados. Penso incluí-los em projetos futuros. Parodiando os títulos da bela antologia de Heloísa Buarque de Hollanda e de um instigante livro seu, em co-autoria com Ivo Lucchesi, eu diria: Esses poetas. Por que não?
13. Como dizia, brilhantemente, o Haroldo de Campos, "fazer poesia não é um meio de vida, mas um modo de vida". A poesia está calcada no modo de ser do brasileiro. Falastes em Caetano e me ocorreu perguntar, no quadro da atual MPB, que nomes destacas (além do Arnaldo Antunes, por ti citado, que atua na dupla cena) como significativos da nova geração, fazendo esta "ponte" entre a lírica e a música, já que nossa tradição nessa área é longa e significativa?
NG: Bonito, isso da poesia como "modo de vida". Da poética musical brasileira, gosto muito dos autores que resgatam aquela antiga trilha da nobreza romântica (morbeza), meio tropicalista, meio à margem. Admiro os Tribalistas, Adriana Calcanhoto (cujas parcerias com Antonio Cícero são biscoitos finíssimos), José Miguel Wisnik, Guinga e Lenine – que resgata, no CD O dia em que faremos contatos, uma multiplicidade de ritmos brasileiros com uma sonoridade universal. Disso resulta num pop maravilhoso. A consistência dos trabalhos da Maria Rita, de Los Hermanos e do Chico Bosco é audível. Os malabaristas do sinal vermelho, de João Bosco, é um dos mais belos e vigorosos CDs da MPB contemporânea. De ouvido nas sonoridades dos pequenos circuitos, interessam-me as vozes de Ná Ozzeti, Numa Ciro, Jussara Silveira, Seu Jorge e até a adrenalina sonora do MV Bill.
14. Aproveitando esse "campo semântico", eu sei que, durante o Doutorado, vocês constituíram um grupo de discussões sobre a atual poesia. Dele participavam outros doutorandos, também poetas. Poderias dividir conosco um pouco das preocupações e/ou debates realizados? Considero esse tipo de atividade fundamental para a fermentação intelectual e, infelizmente, não mais praticada, o que torna a pesquisa árida e burocrática.
NG: Também acredito na força coletiva como "ferramenta intelectual". O grupo do qual você fala pode ser definido como um relâmpago: foi rápido e brilhante. Dele faziam parte pesquisadores e poetas interessantíssimos, como: Chico Bosco, Eduardo Guerreiro e André Luís, agora empenhados no projeto da Revista Ponto Doc. Pretendo incluí-los no Fórum Virtual de Debates – O que é Literatura?, que será desenvolvido pelo PACC - Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, com coordenação da professora Beatriz Resende. Você, por exemplo, seria um outro nome convidado a participar desse Fórum.
15. Bem, para finalizar, como vês o lugar da poesia, na atualidade? Tanto no campo da produção, edição, leitura e circulação? E a poesia virtual? E o desafio da Internet? A tendência narrativa não vem sufocando a poesia? Como vês, essa conversa poderia se prolongar muito... mas não tenho o direito de te explorar mais, além do que já fiz.
NG: O lugar da poesia, na contemporaneidade, é o lugar que ela ocupa, principalmente, desde o advento da modernidade: um espaço de crítica, criação e renovação da linguagem. Dificilmente, a mídia e/ou a academia, por exemplo, se preocupam com isso. São outras as suas metas. No campo da produção e da circulação da poesia, há um dado qualitativo que pode ser aferido desde a década de 90: o esmero das produções editoriais e o projeto gráfico de revistas como Inimigo Rumor, Metamorfoses, Azougue, Medusa, Sibila, Sebastião e outras. Se pensarmos naquelas produções independentes e coletivas dos anos 70, que eram importantíssimas naquele contexto fechado, de chumbo, veremos que os poetas contemporâneos são bastante apolíneos.
.
Considero a Internet um maravilhoso suporte para a comunicação e a criação. Há nela um grande número de bibliotecas virtuais, além de sites e revistas (como, por exemplo, as Z e Zunái), ligados à cultura e à literatura. Um exemplo concreto: apenas sobre Paulo Leminski, existem mais de 50 páginas na WEB. No Cadê – maior ferramenta de busca no Brasil – estão registrados 332 sites de poesia hospedados na rede. Claro que a qualidade aí cai muito, mas é importante ressaltar o caráter interventivo e o espaço de busca de afirmação desses autores, além de importãncia de atentarmos para as relações entre arte e quantidade no mundo moderno, tão bem dimensionada por Benjamin. Se desses sites saírem dois ou três bons poetas, teremos saldo.
.
A Internet possibilita a circulação das obras de arte de modo rápido, democrático; apesar de estarmos num país no qual apenas 5% da população possui acesso à rede; ao contrário do Canadá, por exemplo, onde o número de cidadãos que acessam o mundo virtual ultrapassa o índice de 45%. De olho nas mutações perceptivas e imaginárias deste cyberspace, um dos meus próximos projetos é exatamente escrever acerca das relações entre a literatura e o cenário maquínico e virtual onde hoje ela é produzida. A "superfície luminosa" do computador é, lembrando Santa Tereza, uma das minhas múltiplas moradas. Quanto à narrativa, ela não sufoca a poesia porque seu roteiro é outro. A raça humana – apesar de provisória, criada em apenas sete dias – possui experiência suficiente para saber que nem a guerra impossibilita o poema. Nos "cenários em ruínas" por nós habitados no início deste milênio, a poesia saiu do seu suporte original – a página impressa – e se hospeda em outros suportes possíveis; sejam eles o CD, o cinema, a Internet, a fotografia, o teatro, a dança e todas as manifestações humanas voltadas para as possibilidades de criar outros modos de ver e de dizer as coisas, as idéias, os sentimentos. Assim como esse diálogo que você criativamente conduziu.
Leia textos do entrevistado Nonato Gurgel, por ele disponibilizados em nosso Rede de Letras: "Beleza exige respeito" e "Walter Benjamin e um par de faróis"