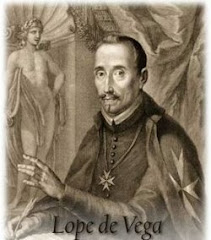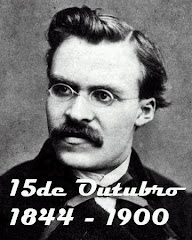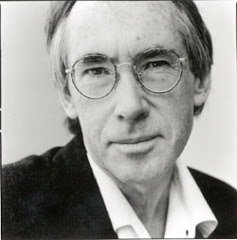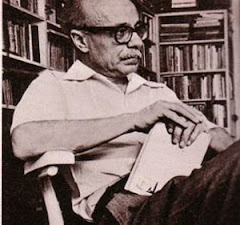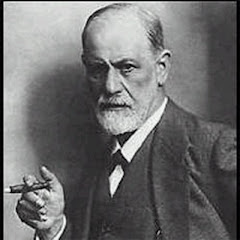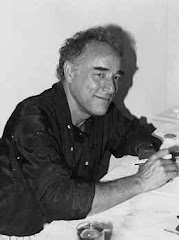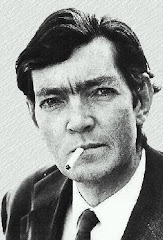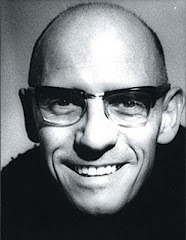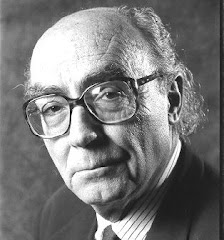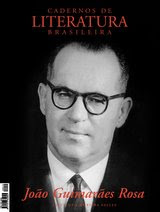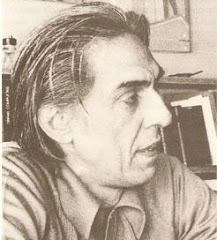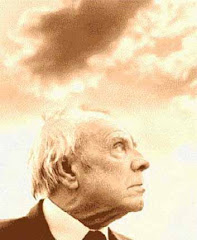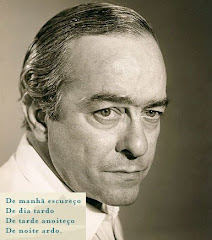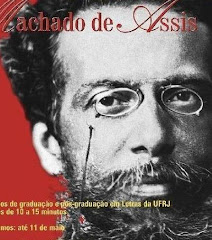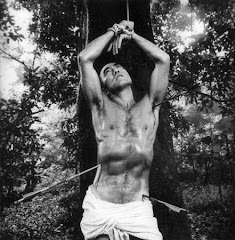Leitura da cidade de Ouro Preto-MG, destacando os aspectos históricos, estéticos, afetivos
.
.
.
.
.
Texto escrito em Ouro Preto, de Out a Dez de 2001, e Rio de Janeiro, Fev de 2005.
Ouro Preto chama Paris.
(Milton Nascimento e Wilson Lopes, "Coisas de Minas")Entrego-me a um vôo que se basta, sem a necessidade de idéias que o justifiquem. Um vôo sem destino. Só assim fundamos uma cidade: permitindo que ela nos funde.
(José Castelo, Fantasma)A poeta norte-americana Elisabeth Bishop dedicou um de seus mais belos poemas – “Pela Janela: Ouro Preto”
[1] – à cidade que dividiu com o Rio de Janeiro a primazia de hospedá-la, por quase duas décadas, aqui no Brasil. Nesse poema escrito na década de setenta do século XX, ela estetiza o antagonismo que se constrói, entre os elementos urbanos da modernidade e o secular conjunto arquitetônico, colocando para os ouropretanos uma aparente contradição que até hoje os mobiliza: como elaborar a sintaxe entre a tradição e a modernidade, o intertexto entre a raiz (o ouro colonial) e a antena (a fumaça de Saramenha). Detentora de um Plutzs – um dos mais importantes prêmios da poesia norte-americana, em “Pela Janela: Ouro Preto” a poeta vê:
um caminhão Mercedes Benz/ enorme e novo,/ chega e domina a cena. Na carroceria/ botões de rosa brilham, enquanto o pára-choque/ anuncia: chegou quem você esperava“.
Em plena seara árcade, o signo do caminhão e o seu texto de parachoque roubam a cena em plenos anos 70. Neste início de milênio, os automóveis continuam circulando pelo cenário colonial, para espanto silencioso dos casarões imóveis e dos mutantes visitantes que contemplam a cidade.
Fundada sob o signo de câncer, em 24 de Junho de 1698, Ouro Preto nos olha. Mas a cidade não se entrega ao primeiro olhar de quem a visita ou vê. Seus mais de trezentos anos emprestam-lhe a segurança de quem sabe ser o tempo pai da forma. Suas fachadas, seus vãos, as treliças e as janelas (fechados ou luzidios) estão sempre a nos espreitar, possibilitando um diálogo óptico através do qual somos mais vistos que vemos. Em Ouro,
a luz é sem data, dizia Cecília Meireles. Aqui uma luminosidade suave (nunca indecisa) namora a pele secular das paredes – lição que nos ensina serem a leveza e a superfície princípios vitais da existência e da criação.
Mas não é apenas a visão o sentido solicitado neste espaço. Aqui, a construção do sentido se dá a partir de todos os sentidos. Se o olho alimenta-se pela verticalidade de torres e telhados, e pelo diálogo exuberante das ladeiras e montanhas, ao mirá-las sentimos o cheiro do mato suavizando a porção íngreme das ruas (e se o cheiro é o sentido que mais remete à memória, como sugere Jung, o visitante ouropretano levará consigo matéria para infinitas rememorações). Também o olfato recebe por aqui fortes incentivos. Enquanto perambulamos pelas ruas, ladeiras e becos de Ouro, é comum sentir o cheiro de flores, cheiro de café torrado, de roupa lavada; o que facilmente converte-se em
takes que remetem à infância (Tarsila do Amaral disse ter recuperado aqui as cores de sua infância
[2]). Em Minas lavamos a alma. Minas vara o tempo. Não apagar nunca é a sina dos que transitam ouvindo sinos, com “sede de viver tudo” (“Fazenda”, Nelson Ângelo).
Pelo ouvido, o sim do sino do Museu da Inconfidência dá noticias dos últimos séculos. Na pele, o vento inscreve uma brisa cuja temperatura promove a movência interna. Se o frio multiplica as sensações e os sentimentos, em Ouro Preto é fácil o sujeito devolver-se a si, livrar-se da alta cota de automatismo que a maioria das grandes cidades e suas agendas exigem de seus habitantes.
Além da visão, do olfato, da audição e do tato, os nativos de Ouro sabem também o poder do paladar. Fazem circular pelo céu de nossas bocas as iguarias mais saborosas: haja queijo, pé-de-moleque, caldos e pães em cores que intensificam o desejo (quem prova, no Hostel Brumas, o bolo de cenoura com chocolate, feito por Tainana, sabe do que estou falando).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A MODERNIDADE DE OURO
Não apenas Ouro Preto, mas todo o Estado de Minas Gerais constitui-se num dos “personagens” mais importantes da História do Brasil e da Literatura Brasileira. No plano sócio-político os números expressam a dimensão dessa história que também é forte na economia. Segundo Boris Fausto, até a Abolição da escravatura, Minas Gerais foi a província com a maior população do Brasil, e o maior número de escravos. Em 1872, Minhas Gerais abrigava 2,1 milhões de habitantes, sendo considerada a província mais povoada do Brasil. No final do século XIX, Minas Gerais possuía 192 mil escravos, enquanto o Rio de Janeiro tinha 162 mil e São Paulo 107 mil (1887).
A partir da queda da produção aurífera (+ ou - 1760) os números da população começam a mudar. Em 1740, a cidade possuía 20 mil habitantes; em 1804, apenas 7 mil pessoas residiam ali. Depois da queda da produção do ouro, após a Inconfidência delatada (1789) e a transferência da capital para Belo Horizonte (1898), a cidade caiu no ostracismo. Isso se deu em virtude do desprezo das elites republicanas pelo nosso passado colonial e escravista; e pela aversão dessas elites ao estilo barroco. Ser moderno era a meta do novo regime. E para isso era fundamental apagar as pegadas coloniais.
Somente em 1924 a cidade foi redescoberta pelos modernistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, dentre outros, na viagem por eles empreendida pelas históricas cidades mineiras. No seu empenho de conciliar o novo com o antigo, os modernistas brasileiros viram por outro ângulo as imagens de decadência e fantasmagoria inscritas pela literatura de viajantes europeus que por aqui passaram no século XIX.
O caso de Ouro Preto com a modernidade é antigo. Além de Bishop, a cidade dormiu com os poetas Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Maria Ângela Alvim. Em Ouro viveram os pintores Alberto Guignard e Carlos Scliar e, dentre outros, o compositor João Bosco que por lá morou dez anos. Este Ouro é matéria de arte. Não é à toa que ainda hoje pela cidade circula uma gama de poetas, pintores, atores, músicos, escultores e dançarinos. Alguns por aqui permanecem; outros ficam poucas horas. Mas a cidade acostumou-se com a efeméride de seus visitantes. Amiga do tempo, ela sabe que tudo passa; por isso seus hóspedes e visitantes também passarão.
Mas Ouro Preto também diz, em suas curvas e montanhas que a circundam, sobre o tempo do eterno retorno. O resgate da memória e a construção imaginária dos seus visitantes – efêmeros ou permanentes – voltarão nem que seja num retorno que, embora não sendo eterno, é imaginário ou memorialístico.
Aqui onde a memória do ouro, na cumplicidade com a bruma, materializou-se, ficaram as pegadas de nossa conturbada história política e social. Neste passeio pela memória, Ouro leciona o quanto pode existir de futuro nas cores de um jardim, na exatidão de uma ponte, num chafariz que não pára ou numa fachada que resiste.
Quem atravessa algumas das 10 pontes da cidade, mira seus 15 chafarizes, visita suas 12 igrejas e sobe suas inúmeras ladeiras – ritmado pelos sinos –, levará para sempre a cidade consigo; quem leu sua simétrica lição e ouviu “a voz em off” de suas montanhas, descobre ser Ouro Preto um arquivo de formas seculares (Bom lembrar: o próprio ouro é um material generoso, cujas qualidades físico-químicas possibilita múltiplas transformações, fazendo-o “receber” várias formas).
As formas desse arquivo urbano foram relegadas durante décadas ao esquecimento. Somente no contexto político da era Vargas, a cidade passa “a ser reconhecida como patrimônio, monumento do passado. A partir disso, institui-se um verdadeiro culto a Ouro Preto, ao barroco mineiro, à obra escultural do Aleijadinho. Isso é fruto da atuação do SPHAN...”
[3], hoje transformado em IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
A localização de Ouro Preto ao pé de encostas e montanhas é singular. Sobre essa singularidade, ensina-nos o escultor Romã. Segundo ele, o espaço em forma côncava anuncia as infinitas possibilidades de conter e guardar que a cidade possui; ao contrário do espaço convexo que a tudo faz deslizar, desprender-se. Nessa configuração espacial onde tantos ideais de liberdade foram plantados e colhidos, a antiga Vila Rica guarda a memória colonial do Brasil; contém muito do nosso imaginário social e político construído principalmente nos séculos XVIII e XIX.
Aqui, tempestades noturnas podem fazer ecoar os gritos de velhas senzalas ainda hoje visíveis como peças históricas. É também comum ouvir, de quando em vez, um grito no ar, uma palavra áspera rasgando o silêncio da noite. Às vezes, escuta-se uma retórica da cidade noturna que é bastante violenta, e que parece atravessar os séculos. Segundo os historiadores, no século XVIII a violência e a desordem eram “personagens” corriqueiros na antiga Vila Rica. Suas ruas, desde então, passaram a ser “lidas” como “espaço de transgressão”
[4].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SOB O SIGNO DO BARROCOMas é também neste cenário do setecentos que a antiga capital de Minas Gerais esplende sob o signo do Barroco. Antes lido como “estilo tropical tosco” e depois resgatado como marco de nossa infância estética, ele influenciou as formas arquitetônicas, o vestuário, a arte, as cerimônias religiosas e as festividades do país. Em Minas, essas influências são caracterizadas pelo “esmero e requinte da ornamentação e da iluminação das ruas, os carros triunfais, com alegorias móveis, danças coreográficas, representações teatrais, torneios poéticos, óperas públicas, batuques...”
[5] Do Barroco, Ouro Preto herdou sua maior riqueza estética. Prova disso são os templos eclesiásticos, sua exuberância, seus excessos. Neles observamos a preferência pelas diagonais, pelas curvas. Podemos observar os contrastes e as dualidades expressos nos tons claros e escuros da maioria das igrejas. Até mesmo as alternadas imagens de luz e sombra que a natureza esculpe em toda parte, por aqui parecem refratar os efeitos luminosos e sombrios dos templos ouropretanos.
Ouro Preto refrata o espaço e o tempo. Dependendo da hora, do clima ou da estação do ano, seu cenário muda. Às vezes, vivifica-se por aqui mais de uma estação no mesmo dia. A riqueza de detalhes da paisagem faz com que o leitor esteja constantemente relendo a cidade, cujas formas e cujos sonhos foram esculpidos em pedra e madeira por Antônio Francisco Lisboa – O Aleijadinho, hoje enterrado na Igreja da Conceição de Antônio Dias. Para este templo, ele esculpiu quatro Suportes de Essa. “...É um silêncio de pedra:/ um silêncio esculpido pelo Aleijadinho/ no frontispício desta noite religiosa”
[6].
O registro da obra do Aleijadinho é notório em várias cidades mineiras: Congonhas, Sabará, São João del Rei, Tiradentes. Em Ouro Preto, sua marca está presente em várias obras. Atribui-se a ele, por exemplo, o projeto da igreja de São Francisco, sua capela-mor, os púlpitos, a portada e o lavabo. São obras de um autor cuja preferência pelas formas vigorosas e pelos corpos atléticos de olhos amendoados o caracterizam. Acerca dele e sua arte, ouçamos o poema “São Francisco de Assis” dedicado à referida igreja por Carlos Drummond de Andrade:
Senhor, não mereço isto.
Não creio em vós para vos amar.
Trouxeste-me a São Francisco
E me fazeis vosso escravo.
Não entrarei, senhor, no templo,
Seu frontispício me basta.
Vossas flores e querubins
São matéria de muito amar.
Dai-me, Senhor, a só beleza
destes ornatos. E não a alma.
Pressente-se dor de homem,
Paralela à das cinco chagas.
Mas entro e, Senhor, me perco
Na rósea nave triunfal.
Por que tanto baixar o céu?
Por que esta nova cilada?
Senhor, os púlpitos mudos
Entretanto me sorriem.
Mais que vossa igreja, esta
Sabe a voz de me embalar.
Perdão, Senhor, por não amar-vos.
A imponência das igrejas, seus adros e torres, constitui-se em Ouro num espetáculo à parte. Mas até esses suntuosos templos do cristianismo, apesar de sua solidez secular, sofrem mutação na paisagem onde nada permanece igual. Acontece que por aqui a natureza dialoga com a cultura impondo também suas leis. Assim sendo, é possível presenciar, da Igreja de São Francisco de Paula, ao desaparecimento das igrejas de Nossa Senhora do Carmo e de Santa Efigênia, frente ao poderio sutil da bruma na primavera.
A movência da bruma é outro espetáculo que contribui para a leitura da paisagem ouropretana. Da cor da bruma, o macho atravessou os séculos e seu poder continua visível e enorme como aquele automóvel que Bishop introduz no poema. Takes rápidos e cotidianos registram esse secular domínio viril da raça branca. Num balcão, o gordo senhor claro de bigodes pretos ainda recebe o carregamento de laranjas das adolescentes de costas negras; numa igreja, enquanto a moça branca de grife importada ora, a velha senhora preta - vestida de algodão colorido - varre o sagrado chão de Jesus.
Nas esquinas do centro histórico, os vendedores de frutas são na maioria negros, cujos olhos – da cor da jabuticaba que oferecem – parecem janelas que ainda anunciam o quanto de escuridão habitava as senzalas. Ainda hoje, durante as festividades de final do ano, os brancos circulam pelo centro histórico em seus automóveis, enquanto o povo – a maioria negros – se acumula na Praça Tiradentes; em alguns momentos parecem avivar ‘as imagens da antiga rebeldia”
[7]Este chão divino e rebelde serviu de cenário não apenas para o povo e os artistas modernos. Nele está enterrado o escritor romântico Bernardo Guimarães (no cemitério da Igreja de São José).
Também aqui residiram Thomaz Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa (assassinado na Casa dos Contos, em 1789) – os mais importantes poetas do Arcadismo brasileiro. Para a cidade que dividiu com Coimbra a tarefa de acolhê-lo, Claudio dedicou o poema “Villa Rica”
[8] – composto de dez cantos e 82 notas –, cujo “argumento principal” é a fundação da cidade. O longo texto exalta os heróis fundadores, constrói um imaginário vigoroso em torno dos sítios naturais e, sobretudo, faz reluzir o ouro e outras pedras preciosas:
Abertas as montanhas, rota a serra,
Vê converter-se em ouro a pátria terra
(p. 217)
As safiras azuis produz a serra
Do itambê, tem rubis aquella terra
(p. 240 - Canto VIII)
Ditosas povoações, que hão de algum dia
Encher de lustre a luza monarchia
(p. 246 - Canto IX)
Vê-se outro mineiro, que se ocupa
Em penetrar por mina o duro monte(p. 260 - Canto X)
Deste “país” de safiras e rubis, de ouro e da Arcádia, saíram pedras para ornamentar os templos da BA, de PE e do RJ, além da Europa. Segundo historiadores, as cifras arrecadadas nas Minas, de 1714 a 1746, eram altíssimas. Só para termos uma idéia da “sugação” lusitana, no ano de 1734 foram enviadas para Portugal 120 arrobas de ouro em pó e em barras: mais de 221 mil réis em moedas de ouro e 4 milhões em diamantes
[9]. Ouro Preto tinha, no auge de sua produtividade econômica, cultural, artística e religiosa, o comércio mais movimentado do país. Além das pedras preciosas e das barras de ouro, outros produtos como algodão, couros, marmeladas e queijos saiam daqui para SP, BA, RJ e MS, dentre outras capitanias.
Essa opulência sócio-cultural e a ganância lusitana fizeram despertar idéias revolucionárias. “Se todos quisessem, poderíamos fazer no Brasil uma grande nação”
[10]: Esse, o lema de Tiradentes. Ele e Felipe dos Santos - inconfidentes signos da condição brasileira de liberdade - pagaram um preço altíssimo por seus ideais. (“Em Minas respira-se liberdade”, anuncia um adesivo numa das 70 repúblicas estudantis da cidade; Minas dá bandeira: liberdade ainda que tardia).
Algumas pegadas desta história em busca da liberdade podem ser vistas na Casa do Pilar, situada no centro histórico de Ouro Preto. Ali se encontram livros pertencentes a Tiradentes, como a constituição americana, além dos autos do processo que o levou à morte, junto a documentos dos participantes da Inconfidência Mineira. Como ensinam os manuais de História, Tiradentes pagou caro: foi condenado à forca em 21 de Abril de 1792, e teve seu corpo retalhado e a cabeça exibida na praça de Ouro Preto.
Nenhum outro momento da história brasileira entreteceu com a poesia uma malha tão fecunda como o fez a Inconfidência Mineira. Poesia e Inconfidência são termos mutuamente implicados. Em primeiro lugar, pelo fato de poetas (Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa...) terem participado do movimento ao lado de militares e liberais de toda sorte. Em segundo lugar, pelo fato de a Conjuração Mineira ter se convertido num tema literário que, despontando com os românticos, atravessa longitudinalmente toda a poesia nacional: de Castro Alves a Cecília Meireles, passando por Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e muitos outros.
Parte desse interesse dos poetas pela história mineira e seu solo pode ser mensurada em várias antologias. Dentre essas, destaco Vila Lira Rica, organizada pelos poetas da Cálamo, e a Antologia Poética de Ouro Preto, organizada por Jusberto Cardoso Filho. Essa última se organiza em torno de poetas brasileiros que tematizam a cidade e sua história, e cuja estetização conta com o olhar da maioria dos poetas árcades e, dentre outros, Guilherme de Almeida, Augusto dos Anjos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes. Todos eles escreveram um poema à cidade onde “a flor nasce com força/ de odisséia” (Armando Freitas Filho).
Nesses arquivos históricos encontram-se também recibos e rabiscos pertencentes ao Aleijadinho, e o inventário da própria Marília de Dirceu. Além disso, há um exemplar de 1792 da obra de Thomaz Antonio Gonzaga que tem a musa ouropretana como título (a edição de “Marília de Dirceu” aqui utilizada data de 1862 e encontra-se na biblioteca da Casa dos Contos). De Claudio Manoel da Costa está arquivado, na Casa do Pilar, um tomo volumoso - de tamanho pequeno e capa original - que tem como título Obras Completas. O referido volume, contendo sonetos, fábula e cantatas, dentre outros, data de 1768 – marco inicial do Arcadismo brasileiro.
CORES E CARROS
E qual a cor dessa cidade tão pintada, cartografada e fotografada por artistas, historiadores e turistas? Se Curitiba é verde, como afirma o escritor José Castelo, se Natal é azul claro, como sugere a poeta Iracema Macedo, se é verde-azul o Rio de Janeiro, como entoa Guilherme Arantes e se Nova York é avermelhada, como lê meu amigo Bito, qual é a cor de Ouro Preto? Levando em conta a negritude sugerida pelo próprio nome, as mutantes tonalidades com as quais a natureza tinge a cidade, e de olho na multiplicidade de cores alegres e ousadas de suas fachadas, pode-se ler Ouro Preto como uma colorida cidade coberta de luz e sombra (mas não é o colorido festivo e escarlate da pulsante Salvador o mesmo daqui; em Ouro, a sintaxe das cores se dá de forma sóbria, remetendo a uma outra leitura).
Para melhor ler e contemplar o colorido deste cenário iluminado e sombrio, seria interessante que os seus dirigentes desviassem do centro histórico – principalmente da Rua São José e da Rua Direita – o tráfego de veículos que por ali circula. Esse desvio evitaria danos à cidade. Faria transitar com mais desenvoltura os seus moradores, hóspedes e visitantes. Faria também com que os sobrados e casarões – e não os automóveis, como no poema de Bishop – dominassem a cena. Neste novo trânsito todos sairiam ganhando. Principalmente a cidade de Ouro Preto - patrimônio universal da humanidade. Espaço permanentemente aberto à criação. Uma das raízes tentaculares do Brasil.
BIBLIOGRAFIA
01 - ANASTASIA, Carla Maria Junho et al. “Dos bandeirantes aos modernistas: um estudo histórico sobre Vila Rica” in: Oficina do Inconfidência. Revista de Trabalho. Ano 1, nº 0, Ouro Preto, 1999.
02 - BANDEIRA, Manuel. Guia de Ouro Preto. 4ª Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.
03 - BISHOP, Elisabeth. Poemas do Brasil. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Cia. Das Letras, 1999.
04 – CARDOSO FILHO, Jusberto. Antologia Poética de Ouro Preto. Ouro Preto: Ed. Autor, 1995.
05 - COSTA, Claúdio Manoel da. “Villa Rica” in: Obras Completas. Tomo II. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1903.
06 – FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial, 2002.
07 - GONZAGA, Thomaz Antônio. Marília de Dirceu. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1862.
08 - LIMA JUNIOR, Augusto de. Vila Rica do Ouro Preto. Síntese histórica e descritiva. Belo Horizonte: Ed. Do Autor, 1957.
09 - MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977.
10 – WEINTRAUB, Fábio. (Org.).
Vila Lira Rica. São Paulo: Cálamo, 1994.
NOTAS[1] Bishop. “Poemas do Brasil”. 1998.
[2] Anastasia. “Oficina do Inconfidência”. 1999. P. 128.
[3] Anastasia. Op. Cit. P. 131.
[4] Anastasia. Op. Cit. P. 73.
[5] Anastasia. Op. Cit. P. 81.
[6] Versos do poeta Guilherme de Almeida na Antologia Poética de Ouro Preto.
[7] Costa. “Villa Rica”. 1903. P. 210.
[8] Costa. “Villa Rica”. 1903.
[9] Junior. “Vila Rica de Ouro Preto”. 1957. P. 33.
[10] Junior. Op. Cit. P. 127.

 A pesquisa de Aderaldo Luciano aciona uma espécie de recepção crítica do cordel. Na “arqueologia” que empreende em torno desta forma literária, o autor elabora uma intensa crítica à maioria dos estudiosos e pesquisadores da historiografia do cordel. Essa crítica tem como base os aspectos folclóricos e culturais eleitos nestes estudos e pesquisas, em detrimento dos elementos literários que esta tese busca priorizar.
A pesquisa de Aderaldo Luciano aciona uma espécie de recepção crítica do cordel. Na “arqueologia” que empreende em torno desta forma literária, o autor elabora uma intensa crítica à maioria dos estudiosos e pesquisadores da historiografia do cordel. Essa crítica tem como base os aspectos folclóricos e culturais eleitos nestes estudos e pesquisas, em detrimento dos elementos literários que esta tese busca priorizar.