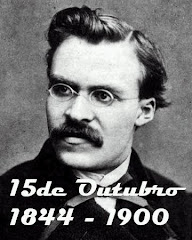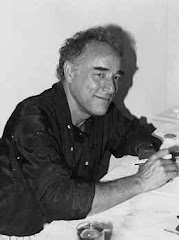O poeta faz objetos...
Já o filósofo não faz coisa alguma:
...ele se interessa pela própria verdade.
...O professor, que é um filólogo,
se interessa pelo verso em si,
não pela sua verdade.
Antonio Cicero
Eco da voz do outro
A primeira vez aconteceu no Rio de Janeiro, em 1999. O CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil – promovera uma Roda de Leituras sobre a obra de Antonio Cicero, e o poeta lá estava para ler seus textos. Após a leitura, pedi um autógrafo num livro que lia naquela ocasião. Ele foi bastante gentil frente a minha aparente ansiedade e escreveu: Perdida em mim a voz do outro ecoa.
A voz de Cicero ecoava em mim desde o final dos anos 70 quando, em terras potiguares, sua irmã Marina Lima passou a fazer parte da trilha sonora da minha vida. Nos anos seguintes, a intérprete da subjetividade moderna entoaria versos de Cicero que, estetizando os acontecimentos e a falta que arde na pele (“Deixe estar”), marcariam o imaginário da minha geração: Eu amava e desamava/ sem peso e com poesia (“Maresia”); o farol da ilha procura agora/ outros olhos e armadilhas (“Virgem”); e o meu coração festeja o acaso que aconteceu (“Próxima Parada”).
Depois dessas, muitas outras letras do poeta sonorizariam minha trilha. No início dos anos 90, novamente o eco de sua voz. Agora advinda de uma certa Zona de Fronteira – disco do João Bosco que possui o requinte de suas parcerias com Antonio Cicero e Waly Salomão em textos como “Sábios costumam mentir”. Nessa “fronteira”, quando a trindade de compositores se dissolve em algumas canções, não é difícil distinguir na música de João a voz do poeta de “Granito”: Há entre as pedras/ e as almas/ afinidades/ tão raras/ como vou dizer?
A seguir conheci os poemas escolhidos de Guardar (Ed. Record, 1996). Além dos textos inéditos, a coletânea evidenciou a maestria do poeta já entoado em todo o Brasil através de parcerias musicais com, dentre outros, Adriana Calcanhoto (“Inverno“ e “Água Perrier”), Orlando Moraes (“Dita”, “Onze e Meia” e “Logrador”) e Caetano Veloso (“Quase”). Além disso, Guardar traz em seu pórtico um poema de título homônimo que, segundo Italo Moriconi, nasceu antológico, fazendo com que ecoasse no território acadêmico a voz do seu autor.
A voz do poeta ecoara antes, em Natal, através de diversos segmentos da mídia: no filme O cinema Falado, de Caetano Veloso; no texto “As raízes e as antenas em debate” (Jornal Folha de São Paulo, 1885); no Atlas – coleção de poemas organizada por Arnaldo Antunes, e no registro em vídeo do ontológico Todas – show de Marina Lima, onde o autor aparece ao lado de outros artistas contemporâneos assumindo sua porção moderna. Esse foi o percurso que me levou ao compositor e ao poeta.
Faltava conhecer o filósofo que estudara no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em 2000 li O relativismo enquanto visão de mundo (Ed. Francisco Alves, 1994) – livro em parceria com Waly Salomão, que reúne e introduz textos de, dentre outros, Richard Rorty, Bento Prado Jr. e Ernest Gellner. Depois foi a vez de O mundo desde o fim (Ed. Francisco Alves, 1995). Neste livro de ensaios filosóficos, Cicero afirma o moderno em oposição ao contemporâneo (a modernidade não é aqui lida como “época histórica” [1]) e relê, dentre outras questões, “O Cogito e a Essência do Agora”. Para o exercício dessa releitura, o autor tece intertexto com um elenco de filósofos no qual se destacam Kant, Descartes e Santo Agostinho. Optando pela versão agostiniana do cogito, Cicero cita Descartes e seu “erro” – atribuir semelhanças entre suas idéias e o que se encontra “fora” de si –, para concluir que o cogito não pressupõe que exista um eu mas prova que eu sou.
O carioca Antonio Cicero sempre encarnou a modernidade. Herdeiro das superfícies e das profundezas, ele é proprietário de uma poética cuja densidade inscreve-se sob o signo da leveza, através de diversos suportes midiáticos. Além de registrada nos referidos livros, em jornais e revistas, essa letra inscreve-se também em antologias (Atlas, Outras Praias, Esses Poetas, Poesia Hoje e 41 Poetas do Rio), é audível no CD Antonio Cicero por Antonio Cicero (Coleção Poesia Falada, 1997), e visível no site do poeta, cuja epígrafe é a mesma do livro O mundo desde o fim: Salve musas, salve razão! (Pushkin).
Nesta entrevista feita na cidade de páginas e peles, o poeta revela seu gosto pelo computador, o horror à câmara, fala de Shakespeare e Caetano Veloso, Zeus e Epicuro, Platão e Sophia de Mello Breyner. Didático sem parecer pedante, ele vai do clássico ao pop e ainda nos diz de onde vêm as formas. Com a palavra, o poeta da leveza, cujas canções, cujos poemas e ensaios habitam, nas duas últimas décadas, o imaginário de gerações, ajudando-nos a construir áditos pórticos... ânditos... arcadas... portelas caminhos...[2]
Nonato Gurgel - Por suas contribuições poéticas, musicais e ensaísticas, você se destaca como um dos "tradutores" mais criativos da cena artística contemporânea. O que existe de confluente entre o poeta, o compositor e o filósofo Antonio Cicero?
Antonio Cicero – O poeta e o compositor às vezes se confundem. Por exemplo, vários poemas meus foram musicados depois de publicados. É o caso de "Logrador" e "Dita": impossível, nesses casos, distinguir o poeta do compositor. Há também os casos de letras de canções que primeiro publiquei como poemas: por exemplo, “Água Perrier” e “Inverno”. Por outro lado, há letras que eu não publicaria em livro, pois não me parecem ficar tão bem no papel quanto na canção; e há poemas menos musicáveis.
No meu caso, como não toco nenhum instrumento nem canto, quando faço uma letra é, em geral, para determinado compositor ou determinada compositora; e para ser cantada por determinado cantor ou cantora; quando faço um poema para ser lido, por outro lado, não penso necessariamente em ninguém em particular. Isso representa uma diferença muito importante entre o letrista e o poeta.
Além disso, o letrista leva em conta o fato de que seu poema será ouvido, e não lido. Ele deve (é uma regra geral, mas admite exceções) ser imediatamente inteligível para quem o ouve. Isso não significa que tenha que ser superficial. Tomorrow and tomorrow and tomorrow / creeps in this petty pace from day to day, / to the last syllable of recorded time, de Shakespeare, é imediatamente compreensível, mas quem dirá que é superficial? Uma letra pode ter inúmeros níveis, e é o que se percebe quando se ouve a letra de um grande poeta, como Caetano Veloso.
Em suma, é complexa a relação entre o poeta e o compositor.
Já a relação entre o poeta/compositor (digamos, para simplificar, o poeta), por um lado, e o filósofo, por outro, é mais simples: a atividade do poeta é completamente diferente da atividade do filósofo.
O poeta faz objetos, ainda que sejam objetos de palavras: poemas ou letras. Poemas ou letras são objetos formais, como o são as composições musicais. Do mesmo modo das composições musicais, esses objetos têm valor independentemente de dizerem a verdade. Seu valor não está na sua veracidade. Assim, o que o poema diz não pode ser dito "em outras palavras". A rigor, o poema não pode sequer ser traduzido.
Já o filósofo não faz coisa alguma: ele se interessa pelas primeiras (ou últimas) verdades: ele se interessa pela própria verdade. Segundo ele mesmo, o valor do que ele pensa ou diz está no fato de ser verdadeiro. A verdade que o filósofo pretende dizer pode ser dita em outras palavras; e pode ser traduzida. Por que? Porque o que interessa ao filósofo não é nenhum objeto de palavras que ele tenha construído: o que lhe interessa são as verdades que ele diz; as palavras não passam, para ele, de meios para dizê-las.
Gosto muito da anedota contada por Sextus Empiricus, segundo a qual, quando o professor de Epicuro leu o verso de Hesíodo que diz em primeiro lugar surgiu o caos, ele perguntou de onde surgiu o caos, já que surgiu em primeiro lugar. Ouvindo do professor que não era problema dele ensinar coisas assim, mas dos chamados filósofos, Epicuro disse: então é com eles que eu tenho que estudar, se são eles que sabem a verdade das coisas.
O professor, que é um filólogo, se interessa pelo verso em si, não pela sua verdade. Epicuro, já filósofo sem o saber, se interessa pela verdade, não pelo verso em si. É claro que estou usando poesia e filosofia, aqui, como tipos ideais e que, na realidade, as coisas não são tão puras. Mas a distinção continua sendo imprescindível. As tentativas, empreendidas por certas teorias literárias pseudo - e antifilosóficas à la page - elas mesmas produtos de um velho ressentimento da teoria literária contra as pretensões constitutivas da filosofia - de negar as diferenças entre o discurso filosófico e o poético resultam, normalmente, em péssima poesia e pior filosofia.
NG – No ensaio "A poesia e a filosofia" (Revista Poesia Sempre nº 13, Dez/2000), você associa a poesia à metonímia, diz que o poema consiste numa forma pura e vê o poeta como um produtor de formas. Na sua opinião, o que possibilita a produção dessas formas?
AC – O poema é forma no sentido que indiquei antes: no sentido em que uma palavra é forma. Isso quer dizer que o poema não se confunde com nenhuma das suas instâncias, embora não exista se não tiver ao menos uma instância. De onde vêm as formas? Do informe; como a ordem vem do caos, a superfície do fundo, o dia da noite. Mas dizer que o poema é forma não é dizer muito sobre a poesia. Muitas outras coisas, além do poema, são formas. Penso às vezes que o que distingue das outras formas o poema é que, sendo forma, de algum modo contém e revela o informe de onde provém.
A questão da metonímia se resume ao seguinte. Para os gregos arcaicos, poesia significava, em primeiro lugar feitura. Depois, passou a significar em particular um tipo especial de feitura: a feitura desses objetos de palavras que chamamos poemas. Isso quer dizer que uma parte da feitura foi designada com a palavra que significava o todo da feitura. Chamar uma parte com o nome do todo é a operação retórica denominada sinédoque. Quando eu, no artigo que você menciona, volto a usar a palavra poesia para designar feitura, no sentido amplo, realizo a operação retórica inversa, que é denominada metonímia.
NG – Para falar do relativismo, farei referência a três textos seus: o livro O relativismo enquanto visão de mundo (1994), e dois ensaios: "Poesia: Epos e Muthos" (1998) e "A poesia e a filosofia" (2000).
Na Introdução de O relativismo enquanto visão de mundo, você sugere as possibilidades do relativismo na construção dos sistemas cognitivos, na produção do que seja a verdade, nas relações subjetivas. No ensaio "Poesia: Epos e Muthos" está escrito que a poesia se interessa pelo relativo, enquanto a filosofia estaria mais interessada no absoluto. Mas, no texto "A poesia e a filosofia", você assegura: Mesmo logicamente é inconsistente afirmar o relativismo universal.
Gostaria que você tecesse relações entre o que sejam o relativo e o relativismo nestes contextos tão distintos.
AC – Na verdade, mesmo em O relativismo enquanto visão do mundo eu falo das aporias do relativismo (p.14), isto é, do fato de que, do ponto de vista da lógica formal, ele é insustentável, e chamo atenção para o fato de que hoje essas argumentações formais e acadêmicas ameaçam traduzir-se não apenas em problemas lógicos ou epistemológicos, ou em questões metodológicas da etnografia e da etnologia, mas em Realpolitik. Acho interessante citar por extenso o que digo nesse parágrafo, porque se aplica bem ao que ocorre hoje em dia: Embora muitas vezes o relativismo estrito seja defendido a partir de uma atitude pluralista, em que o relativista, negando-se a tomar qualquer verdade como absoluta, cede lugar a verdades alheias, com isso ele acaba minando sua própria posição. É que, como diz Platão sobre Protágoras, 'ele é vulnerável no sentido de que às opiniões dos outros dá valor, enquanto que esses não reconhecem nenhuma verdade às palavras dele'. Para o intolerante, o tolerante não passa de um fraco, a quem falta caráter ou convicção. Quais serão as conseqüências disso, num mundo em que fundamentalismos religiosos, racismos, nacionalismos, etc. têm se tornado cada vez mais comuns? Será, então, que cada um de nós se encontra, neste final de milênio, ante o dilema de ser ou intolerante ou fraco?
Desde pelo menos essa época, minha posição é, portanto, a de que o relativismo não só é logicamente inconsistente, como - por isso mesmo - tem conseqüências práticas funestas. Uma das teses de O mundo desde o fim é que é falso o dilema entre, por um lado, um relativismo tolerante, porém lógica e eticamente fraco e, por outro lado, a afirmação de um absoluto positivo qualquer - uma religião, uma nacionalidade, uma ideologia – intolerante, porém (aparentemente) ética e logicamente consistente. Exponho, nesse livro, outra possibilidade, que não tem a fraqueza de nenhuma dessas duas posições: o reconhecimento do caráter negativo do absoluto. Quanto à afirmação de que, enquanto a poesia se interessa pelo relativo, a filosofia se interessa pelo absoluto, é decorrência da concepção acima exposta de filosofia e poesia. A poesia é uma feitura; o que faz são poemas. Ora, nenhum poema é absoluto. Por mais perfeito que seja, nenhum poema pode pretender ser o poema definitivo. Nenhum poema pode tomar o lugar dos outros poemas já feitos ou a serem feitos. Já a filosofia se interessa pela verdade: e, em primeiro lugar, pela verdade absoluta.
NG - Existe em sua poética um nítido intertexto com a arte clássica, embora isso não resulte necessariamente num retorno aos paradigmas do classicismo. No elenco de mitos e divindades com os quais você dialoga destacam-se, dentre outros: Tâmiris, Proteu, Ulisses, Narciso, Hera, Telêmaco, Ícaro, Helena, Ajax, Dédalo e a Medusa. Se tivesse de escolher, com qual dessas "musas" você construiria templos... com mãos e com sobras/ de paixões, mergulhos, fodas, livros, viagens...? Por que?
AC - Todos esses personagens são partes da nossa língua, do nosso mundo. As literaturas – e as línguas – grega e latina fazem parte do patrimônio da língua portuguesa, parte da cultura brasileira. É por isso que elas podem naturalmente ser usadas para falar de nós mesmos. Não se pode entender nada da cultura brasileira se não se souber quem é Ulisses. Meus "templos" são construídos com todos esses personagens e, em particular, com as próprias filhas de Zeus e da Memória.
NG – Através de sons, imagens e reflexões, você vem construindo um arquivo cujas formas se inscrevem tanto na mídia escrita como na eletrônica. Transita no território acadêmico e no terreiro pop; vai do CD ao livro, passando pelo site e pelo vídeo. Lembro de suas participações em Todas (registro do antológico show de Marina Lima), no filme O cinema falado, de Caetano Veloso, e mais recentemente no filme Janela da alma, de João Jardim e Walter Carvalho. Como é a sua relação com essas mídias e, particularmente, com a câmara?
AC – Adoro tudo o que tem a ver com a escrita. Adoro em particular a mídia escrita eletrônica. Não sei como eu conseguia escrever, antes do computador. Por outro lado, desconfio dos depoimentos orais e detesto participar de cinema ou televisão. Tenho horror à câmara. Não gosto de nenhuma das minhas participações nas fitas de que você fala. Elas ocorreram somente porque, por alguma razão, não consegui dizer "não", ou o meu "não" não colou. No ano passado, resolvi que não participaria mais de programa nenhum de televisão, mídia que simplesmente abomino. Não consegui realizar o meu plano: Marina voltou a cantar após seis anos, e não pude me recusar a dar um depoimento sobre ela. Mas espero que, daqui para frente, nunca mais tenha que aparecer em tv ou cinema.
NG – No primeiro capítulo de O mundo desde o fim (Ed. Francisco Alves, 1995), você diz da dificuldade de explicar a modernidade, embora o faça com bastante lucidez no decorrer do texto. E a pós-modernidade? Por que o pós-moderno é impossível?
AC – Não se pode falar de pós-moderno sem saber o que é o moderno. Ora, os pós-modernistas não sabem o que é o moderno. Quando tentam falar do moderno falam, no máximo, de uma determinada espécie de modernismo. Isso não acontece por acaso, mas sim porque a própria expressão "pós-moderno" pressupõe que o moderno seja uma época histórica superável. Pois bem, em O mundo desde o fim mostro não só que a modernidade não é uma época histórica superável, mas que não é nem sequer uma época histórica. A modernidade é, ao contrário, a tomada de distância em relação a toda e qualquer época histórica. Ela realiza a relativização de toda e qualquer época histórica, de toda e qualquer cultura dada, a partir de uma posição universalista.
Como tal, a modernidade não pertence à cultura alguma, nem mesmo à "européia" ou "Ocidental", onde, acidentalmente, ela se manifestou de maneira mais vigorosa do que noutras culturas: ela é justamente a negação das pretensões absolutistas de toda cultura particular, inclusive da "Ocidental". Quando se dá essa negação, tem-se a modernidade; quando ela falta, tem-se a pré-modernidade. Assim, como mostra Amartya Sem (em seu livro Develpment as Freedom, Anchor Books, N.Y., 1999, cap. 10), a legislação do Imperador Ashoka, na Índia do século III a.C., foi perfeitamente moderna. Ou se dá a tomada de distância que constitui a modernidade ou ela não se dá. Não há terceira possibilidade. A rejeição da modernidade só poderia, portanto, consistir na reafirmação da pré-modernidade. Os fenômenos que normalmente se chamam de "pós-modernos", como, por exemplo, a pluralidade estilística de nossa época, na verdade têm seu fundamento exatamente na tomada de distância que constitui o moderno.
NG – Neste bélico cenário em ruínas, ainda é necessário um mergulho para redescobrir o espanto?
AC – Nem o espanto nem a admiração jamais me abandonaram. Na Terra, sempre caminhamos sobre ruínas. Basta mergulhar no mundo para experimentar a admiração: talvez, como Sophia de Mello Breyner Andresen, Porque pertenço à raça daqueles que mergulham de olhos abertos. E reconhecem o abismo pedra a pedra anêmona a anêmona flor a flor.
NG – Como o eu estetizado em "Cara" (Guardar, Ed. Record, 1996), você acha que continua escuro/ no país do futuro/ e da televisão?
AC - Sim. Acho que o Brasil tem melhorado, mas muito lentamente. Como não ser impaciente?
[1] …Somos modernos pelo simples fato de vivermos no presente (Borges, Esse Ofício do verso).
[2] CICERO, Antonio. Guardar. Cit. 1996. p. 39.