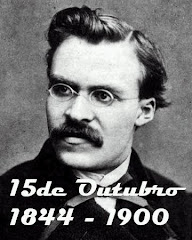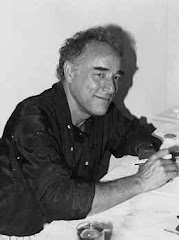Esta entrevista compõe os anexos da tese de doutorado Seis Poetas Para o Próximo Milênio, defendida na UFRJ, Rio de Janeiro, 2003
A multiplicidade é o meu fogo e o meu sangue.
Marco Lucchesi
Amigo de Bizâncio e Acari
No texto que escreveu sobre “Os céus da Poesia” [1], Marco Lucchesi lê as obras de Dante, Milton e Goethe por meio de fragmentos através dos quais busca configurar esses céus. Ao referir-se à obra de Goethe, o autor carioca diz do Fausto II como uma pluralidade de formas que traduz a sede do infinito.... Essa referência plural nos remete às miríades de formas e à sede de nostalgia do infinito assumidas pelo próprio Lucchesi em sua produção literária, além de sua consciência da noção de pluralidade como algo relacionado ao perigo e às necessidades de viver e escrever.
A assertiva do poeta sobre céus remetente à pluralidade de formas tradutoras da sede do infinito de Goethe pode ser relacionada à própria letra de Lucchesi. Sua vasta bibliografia o atesta. Títulos como Saudades do Paraíso (1997), A paixão do Infinito (1994), e As bodas místicas (2000), por exemplo, são facilmente associados a um poeta cuja letra medita abismos, cartografa superfícies e inscreve corpos trespassados por nuvens de ferro e afeto. A dimensão dessa pluralidade que, às vezes, ‘incumbe” e noutras “dilacera” é audível em textos como “Tudo em Todos” [2]:
Amigo de Bizâncio e Acari
No texto que escreveu sobre “Os céus da Poesia” [1], Marco Lucchesi lê as obras de Dante, Milton e Goethe por meio de fragmentos através dos quais busca configurar esses céus. Ao referir-se à obra de Goethe, o autor carioca diz do Fausto II como uma pluralidade de formas que traduz a sede do infinito.... Essa referência plural nos remete às miríades de formas e à sede de nostalgia do infinito assumidas pelo próprio Lucchesi em sua produção literária, além de sua consciência da noção de pluralidade como algo relacionado ao perigo e às necessidades de viver e escrever.
A assertiva do poeta sobre céus remetente à pluralidade de formas tradutoras da sede do infinito de Goethe pode ser relacionada à própria letra de Lucchesi. Sua vasta bibliografia o atesta. Títulos como Saudades do Paraíso (1997), A paixão do Infinito (1994), e As bodas místicas (2000), por exemplo, são facilmente associados a um poeta cuja letra medita abismos, cartografa superfícies e inscreve corpos trespassados por nuvens de ferro e afeto. A dimensão dessa pluralidade que, às vezes, ‘incumbe” e noutras “dilacera” é audível em textos como “Tudo em Todos” [2]:
Senhor,
o plural
nos incumbe
é verdade...
mas
o plural
também
nos dilacera
...
Marco é o típico artista múltiplo. Plural. A sua incursão por gêneros díspares como o ensaio, a poesia, a prosa e a tradução, dentre outros, atesta a sua inscrição na cena contemporânea como um dos autores que melhor transita pelos espaços interdisciplinares do conhecimento e da criação. Esse trânsito parece patrocinado por uma perene busca de entendimento e experimentação humana e universal que possui na diversidade da letra de autores como Dante, Goethe e Guimarães Rosa seu norteamento e busca.
Não bastasse esse potencial de multiplicidade de estilos e de pluralidade formal, ressalte-se ainda o fato de estarmos diante de um poeta cujo repertório estético e cultural abrange o conhecimento de vários idiomas, o trânsito por vários países e os contatos com poetas, físicos, filósofos e cientistas de diferentes partes do planeta. Sim, Lucchesi é um cidadão do mundo. As várias línguas com as quais convive constituem-se em suas moradas que, como as de Santa Tereza, são várias. Infinitas moradas. No belo poema “Reparação do Abismo” [3], esse apreço lingüístico é traduzido na seguinte forma:
...
procuro
no sabor
das outras línguas
o verbo
escuro
de tamanha ausência
procuro
estranhas teologias,
tratados de botânica
e alquimia
(a sombra lúmina!)
...
Na entrevista a seguir, Lucchesi nos conta um pouco dessa sua procura. Assume e caracteriza sua própria multiplicidade. Expõe a sua porção nietzscheana ao traçar relações entre as noções de profundidade e as de superfície, e nos ensina as pegadas vislumbrantes para encararmos Os Olhos do deserto – essa fábrica de metáforas.
o plural
nos incumbe
é verdade...
mas
o plural
também
nos dilacera
...
Marco é o típico artista múltiplo. Plural. A sua incursão por gêneros díspares como o ensaio, a poesia, a prosa e a tradução, dentre outros, atesta a sua inscrição na cena contemporânea como um dos autores que melhor transita pelos espaços interdisciplinares do conhecimento e da criação. Esse trânsito parece patrocinado por uma perene busca de entendimento e experimentação humana e universal que possui na diversidade da letra de autores como Dante, Goethe e Guimarães Rosa seu norteamento e busca.
Não bastasse esse potencial de multiplicidade de estilos e de pluralidade formal, ressalte-se ainda o fato de estarmos diante de um poeta cujo repertório estético e cultural abrange o conhecimento de vários idiomas, o trânsito por vários países e os contatos com poetas, físicos, filósofos e cientistas de diferentes partes do planeta. Sim, Lucchesi é um cidadão do mundo. As várias línguas com as quais convive constituem-se em suas moradas que, como as de Santa Tereza, são várias. Infinitas moradas. No belo poema “Reparação do Abismo” [3], esse apreço lingüístico é traduzido na seguinte forma:
...
procuro
no sabor
das outras línguas
o verbo
escuro
de tamanha ausência
procuro
estranhas teologias,
tratados de botânica
e alquimia
(a sombra lúmina!)
...
Na entrevista a seguir, Lucchesi nos conta um pouco dessa sua procura. Assume e caracteriza sua própria multiplicidade. Expõe a sua porção nietzscheana ao traçar relações entre as noções de profundidade e as de superfície, e nos ensina as pegadas vislumbrantes para encararmos Os Olhos do deserto – essa fábrica de metáforas.
.
Nonato Gurgel: Você é, dentre os autores contemporâneos, um dos que mais se destacam por incursionar entre diferentes gêneros literários. Transita pela poesia, memória, ficção, roteiro e ensaio, além de destacar-se como tradutor. Como se dá, na sua letra, esse intertexto entre gêneros? Você acredita exercitar, em seu texto, algum tipo de ruptura no que se refere às relações entre os gêneros literários?
Marco Lucchesi: Procuro coincidências, ressonâncias, a vaso-comunicação das partes, que os antigos denominavam, chamavam simpatia. Dessa busca pode resultar um processo alquímico, o diálogo plural e sussurrado, como dizia Paracelso entre a flor e a estrela, a pedra e a palavra. Abordo algo dessa problemática em meu novo livro Sphera. A diversidade é-me inerente. Sou marcado pela nostalgia do todo. Por isso examinei o livro de Deus, em Dante, o livro no Fausto, de Goethe, a fatalidade de Guimarães Rosa, totum sed non totaliter. Por isso busco, igualmente, a defesa da interdisciplinaridade nos estudos científicos e me apaixono pelo quark e o jaguar. Descubro na ficção um viés ensaístico, e no ensaio, um apelo poético. A memória é marcada por uma intensidade lírica, por uma síntese filosófica ou científica. Amo a síntese teilhardiana. Ou a fórmula de Paul Dirac. Abomino, no entanto, a totalidade totalitária, como o demônio de Laplace; os ultrapositivistas e neopositivistas; os que lançam maquinismos abomináveis de ordem psicanalítica contra a obra literária. Abomino os guarda-livros da especialidade. O singular e o plural se entrelaçam e criam horizontes de intensidade e dúvida. Sigo a dúvida hiperbólica e odeio a dúvida ceticista. Como tradutor deixei de existir, assassinado por mim mesmo. E me deparo com traduções da minha obra, que vão de Rodolfo Alonso, na Argentina, a Rafi Lanah, no Irã, e Curt Meyer-Clason, mais recentemente na Alemanha.
Acabei por traduzir a mim mesmo – numa síntese alquímico-esquizóide –, e busquei demonstrá-lo em Teatro alquímico, onde as oscilações de tradutor e traduzido se multiplicam como num jogo de espelhos. Não sou mais do que imagino ter sido. Sou menos e mais do que serei. Sou trezentos. Sou trezentos e cinqüenta – como em Mário. A pluralidade configura-se como um destino, uma adesão profunda, perigosa e necessária. Pode ser que haja alguma ruptura, como a entendem Bloch e Kuhn. Vivemos ainda a estranha e maravilhosa crise de todos os gêneros. Idéias e sensações que apontam para uma conquista do hoje considerado naufrágio solitário e sem espectador (ohne Zuschauer). Quem sabe desse modo não se reorganize de forma todavia mais intensa, uma síntese nova entre a ilha e o arquipélago. A parte e o todo. A chama e o incêndio.
NG: Dentre as propostas elencadas por Italo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio, você foi selecionado, nesta tese, como o autor representativo da multiplicidade. Você se considera um autor múltiplo? Qual seria a principal característica dessa multiplicidade na sua produção literária?
ML: A multiplicidade é o meu fogo e meu sangue. Não sei não articular modos plurais. Este é, de fato, o meu Dasein. Como agora mesmo, na qualidade de astrônomo amador, enquanto espero a chegada dos Leonídeos: busco na queda desses meteoros (cuja população é de quase uma centena a cada hora!) busco o espanto da poesia, com seus movimentos periódicos latentes e no desenho do céu descubro sinais antropológicos, a projeção da terra sobre o céu, como tão bem advertiu Marx nos manuscritos de 1844.
A multiplicidade é um portal prismático. Corredores que abrem para muitas portas e janelas. A beleza de varandas e quintais, espelhos e janelas como no Castelo de Atlas, de Ludovico Ariosto. A multiplicidade das coisas abandonadas no espaço ficcional da lua. A pluralidade da poesia persa, que se realiza por sucessivas acumulações imagéticas e remissões, formando uma rede que tangencia o infinito. A multiplicidade é o sangue da minha obra. A multiplicidade é minha razão de viver e de articular política e poética, mathesis e filosofia, noética e estética, cronos e aion. Uma cumplicidade do mundo dos livros com o livro do mundo. O sorriso de Parmênides e as lágrimas de Heráclito. A melhor imagem, talvez, seja a do ornitorrinco. Não uma perspectiva barroca, mas a perspectiva do espanto, do espanto que rege o conhecimento humano. Admiração e supercentração. Foi o que fiz como editor geral da poesia sempre, propondo um vastíssimo diálogo entre partes dispersas. Vivo dentro de uma multiplicidade inquieta, cortante, tremenda e avassaladora. Compartilho a fome do Ulisses dantesco. Horizontes que demandam novos horizontes. Sofro a nostalgia do mais e bebo do infinito as gotas de sua totalidade.
NG: Pensemos o texto da multiplicidade como aquele que ostenta múltiplos saberes, além de uma visão pluralística e multifacetada do mundo (Italo Calvino). Dentre os mais de 15 volumes de sua autoria – e aqui estou deixando de fora os livros traduzidos e aqueles por você organizados – qual deles você destacaria como mais representativo dessa proposta de multiplicidade e por quê?
ML: De todos os meus livros, não saberia dizer qual... Talvez, elegesse Poemas Reunidos, quem sabe Saudades do paraíso, ou minhas traduções dos poemas de Rûmî, das páginas de Umberto Eco... Na perspectiva tradutória, uma quase centena de dicionários utilizados são as avenidas, os rios e os deltas que me exigem do processo navegante o caráter refratário e especular da palavra. Como na ilha de Mandelbrot, em que cada parte reclama inevitavelmente outras infinitas partes. De modo que hoje não podemos determinar se a dimensão do todo ultrapassa, porventura, a dimensão da parte. Parece que não. Enamorei-me desde muito cedo da complexidade. Numa conversa que tive com Carlo Rubbia foi possível compreender ex-cordis a beleza de um universo complexo. Não necessariamente apoiado numa arché, mas em múltiplas archai, que não se atermam na pele do jaguar, mas que seguem por infindáveis labirintos na direção do quark. Borges, Calvino, Eco e Mandelbrot. Mas talvez, mais que todos, a poética de Swedenborg e de Goethe. Não há dúvidas que Poemas Reunidos exercem a multiplicidade desde a escolha das línguas que o integram: português, italiano (ou seja: os múltiplos italianos que descansam nos extratos de cada poema), árabe e provençal. Agora mesmo escrevi um poema em alemão, dedicado a Curt Meyer-Clason. E tenho na atitude de Poemas reunidos um pacto de enamoramento e horror com as pedras da Torre. Babel sempre me atraiu, com seu apelo de chama e brasa e fogo. Teria imensa dificuldade para apontar uma, duas ou mais obras onde a multiplicidade, como forma de conhecer o mundo em seu paradigma complexo encontrasse a sua realização. Penso no Edinaia Kniga – no livro único, de Khliebnikov. Penso que escolheria meu próximo livro... Uma de minhas pátrias? O ainda-não!
NG: Numa das páginas mais belas de Os olhos do deserto (2000), você escreve: "Essa idéia me possui. Cultivo jardins abstratos. Formas do silêncio. Mas não se preocupe. Juro pela superfície." Em que consiste esse juramento? Teria a ver com a noção nietzscheana de se deter na superfície, na epiderme, no culto da forma, no Olimpo inteiro da aparência, como dizia o filósofo alemão, ao ressaltar a sabedoria grega?
ML: Essa questão merece uma resposta algo mais ampla e suas raízes foram ligeiramente escavadas em “O rosto perdido” (Saudades do paraíso) e em partes distintas da minha obra, onde uma luta imperiosa entre a matéria comum e a materia signata quantitate traçam o limite das questões que me apaixonam e atordoam. Vivi durante muitos anos atraído pela noção de profundeza e densidade que o campo metafísico inaugurou para mim desde os meus quinze anos. Dessa época resulta um estudo disciplinado e atrevido da lógica formal, da cosmologia, da metafísica, a partir de uma orientação escolástica. Não da pequena escolástica, mas da escolástica séria, inteligente de um Maritain, de um Garrigou-Lagrange. Estudos que vinham sendo realizados em latim, e que apontavam para substâncias e categorias, que se enraizavam profundamente no aspecto da psicologia filosófica, como então era chamada. Desde então, o arquétipo do profundo regeu minhas questões, buscando na literatura clássica e numa lição de múltiplas camadas textuais uma idéia de subjacência, de latência, num movimento de ostra e pérola, trazendo de volta a poesia de Rûmî ou de Attar.
Fui uma espécie de logonauta em minha adolescência e primeira juventude, buscando a elaboração de conceitos que alargassem novas e mais profundas esferas do inteligível. Não podia não abrir mão dos universais e dos transcendentais. E segui pela teologia mística do Pseudo-Dionísio... O meu corte epistemológico ocorreu durante os meus estudos de Antropologia e História feitos na Universidade Federal Fluminense. Desde então comecei, a partir do perspectivismo nietzschiano e mais tarde deleuziano (mas sem fanatismos!) a compreender a vasteza da superfície. De uma superfície que se tornava profunda e de uma profundidade que só podia ser alcançada pela superfície. Todas estas noções foram elaboradas na construção de um paradigma novo dentro de meu universo poético.
E foi isso que ocorreu, mas de uma forma radicalmente outra, ligada ao corpo e à geografia. Caminhava pelo deserto da Judéia e decidi não buscar profundidades além daquelas culturais e dos múltiplos substratos que marcavam aquele deserto de pedra e conchas marinhas. Jurei que a superfície havia de me contentar. Apostava uma atitude hiperfísica mais do que metafísica. Passava do Sein para o Dasein. Não podia dar-me ao luxo de perder-me naquele deserto, caminhando só, tal como estava. Jurei pela superfície, sonhando profundezas. E não me perdi demasiado naquele deserto. O problema era – mas não o sabia naquele momento – o de não pisar nas minas terrestres!!!
NG: Na leitura de sua obra, percebe-se uma multiplicidade de topos e intertextos que parece delinear o seu processo de criação. Encontramos o poeta nos minaretes de Istambul, nos cafés do Cairo e nos mosteiros e desertos da Terra Prometida; com o memorialista deparamos nos sertões de Canudos ou no manicômio da metrópole; entrevemos o crítico, o literato no jardim de Adélia Prado, no palco de Rubens Corrêa, no “frio cortante” de Chennevières-sur-Marnes, com Roger Garaudy, ou penetrando o “continente” Artaud, com Nise da Silveira. Qual a importância desses intertextos tecidos com a alteridade e a diversidade de topos para a produção do seu texto?
ML: O diálogo também é parte de meu destino. Diante dos fatos recentes, decidi realizá-lo em múltiplos aspectos, como os que publiquei no capítulo “O meu jihad” – no livro Caminhos do Islã. Esse diálogo vem se realizando entre o ocidente e o oriente, poesia e matemática, astronomia e religião, e os exemplos não saberiam senão multiplicar-se nessa direção de partes que dialogam entre si.
Hoje me sinto movido e comovido por razões de ordem ética (que outros costumavam chamar de filosofia moral). E me interessei desde a ética da tradução para a ética da leitura. Preparo um grande seminário internacional a esse respeito, enquanto me volto intensamente para o que costumo chamar de ética da transversalidade (para não falar de disciplinas). Tudo isso talvez haurido da perspectiva multívoca, aberta e apocalíptica do texto literário. Da leitura à transleitura. Da sinergia do silêncio ou do inter-espaço, em que flutuam as palavras. Tal como a sensibilidade do semitom e do microtom na música dhrupad da Índia. A experiência me vem de uma reflexão musical em termos de teoria e prática de um instrumento que amo e cultivo, que é o piano (Tenho dois instrumentos de que não posso me afastar: o piano e o telescópio). O estudo da música de Bach e de Mozart, de Wagner e Villa-Lobos mostra cabalmente como a presença do intertexto musical empresta grande abertura, multisignificação do próprio texto. Penso nas Valsas de esquina, de Mignone. Ou no Concerto de Brandemburgo. Por isso, busco o diálogo em múltiplas formas: com Nagib Mahfuz, Mario Luzi, Umberto Eco, o deserto, os peregrinos de Padre Cícero, as noites insones velando deep sky objects, ou lendo tratados de botânica e teologia. O intertexto é o texto. E o texto é minha vida. Nostalgia da forma e celebração do simulacro. Já havia um pequeno deserto em Saudades do paraíso, que se tornou maior, exclusivo e quem sabe mais dramático em Os olhos do deserto.
NG: Na América (1986), de Jean Baudrillard, o deserto aparece como crítica (uma crítica extática da cultura, uma forma extática do desaparecimento) e forma (a forma de viagem). Em seu livro Saudades do paraíso (1997), você sente uma nostalgia da forma, enquanto no livro Os olhos do deserto (2000), o deserto surge como simulacro. Falando do deserto, diz a voz que narra neste texto: Fora dele, não sei viver senão por metáforas.
Você consegue vislumbrar como signo da multiplicidade esta forma e/ou este simulacro com os quais você e Baudrillard identificam o deserto?
ML: Comecei durante anos navegando em mares dantescos. E me deparo sempre mais com as vastas extensões da areia. Nessa espécie de salto meta-ôntico, percebo a fragilidade e a abertura infinita, que imagens como noite, deserto e mar guardam dentro de si. Minha busca do deserto foi e tem sido eminentemente poética, que tangencia claramente questões outras como as de ordem teológica, lingüística e política. No entanto, a centração ou a supercentração de tudo isso se resolve num ambiente do que os futuristas russos consideravam como Literaturnost (literariedade). Só posso responder enquanto me dou conta deste núcleo, desse arranjo, desse tema dominante. Percebo claramente uma espécie de recusa diante do mesmo e me encontro muito à vontade dessa maneira baudrillardiana de encarar essa dialética. O deserto é uma fábrica de metáforas.
NG: Se o deserto possui olhos, formas, o que vislumbra o deserto? Por que é preciso cultivá-lo?
ML: Leila e Majnun... A noite e a loucura. O casal de apaixonados. Ou então: Isabelle Eberhardt, que morreu afogada num chott do Saahara. O peso das estrelas e a forma do silêncio. Loucura e Gratuidade. A coluna de São Simeão. As areias cortantes do deserto. Meu Deus: é preciso estar alerta. As virgens com suas lâmpadas. As pneumonias dos desertos. O encontro de tudo em todos. Mas agora sonho com a desejada parte oriental. E vivo por ela. Os cristãos ortodoxos. Os nestorianos. Os mazdeístas que conheci no Irã. Quantos olhos. Quantas miradas!
NG: Na leitura que faz de Os olhos do deserto (2000), Michel Maffesoli ressalta sua errância mística, e assinala: "Não esqueçamos do mito, do mistério, que é o que une todos os iniciados." Você considera um iniciado o homem ou o poeta? Ou seriam ambos? Em que consistiria essa iniciação?
ML: Se a iniciação toca a taumaturgia, eu recuso. Se a iniciação tangencia algum integrismo intelectual, recuso. Mas se a iniciação, de modo mais amplo e genérico, importa num modo inaugural, na elaboração de um paradigma novo, de um corte epistemológico que cada sistema poético oferece para contrapor-se aos outros, nesse caso não há dúvida que a compreensão iniciática e mística devem estar enraizadas em seu contexto etimológico. Compreendo a mística tal como a entende nosso querido Maffesoli. E neste sentido, mas apenas neste sentido, a poesia é uma iniciação, tal como a educação do leitor, que se quer para Joyce ou Guimarães Rosa. Dispor das condições mais finas e atentas para armar as possibilidades de um diálogo possível ou remoto. Talvez aqui a velha suspension of disbelief ou o princípio de Habermas. Um contrato, uma adesão.
NG: Como T. S. Elliot e James Joyce, você é um apaixonado por Dante, além de ostentar, como ambos, amplo repertório teológico: Como a noite fria que passei no deserto do Marrocos, clamando por Deus (Saudades do paraíso). Como os antigos anacoretas, você consegue, no deserto, falar com Deus?
ML: Não há dúvida que em minha formação posso afirmar claramente uma universidade invisível. Chama-se Divina Comédia. Ela foi uma Bíblia para mim e durante muitos anos. Posso com delicada arrogância ou violenta imodéstia declarar que conheço longos e longos trechos que memorizei desde muito jovem. Busquei perseguir anos a fio cada pedra, palavra, sistema, que infundia rigor poético à obra de Dante. E entendo a poiesis como a construção de um horizonte plural, e não como queriam Croce e outros que ainda hoje lançam questões abomináveis de que a poesia não possa estar marcada pela teologia, pela economia, pela ciência (agora mesmo estou preparando com Ildeu Moreira um livro intitulado Poesia e física), porque no fim das contas o que mais interessa é sem sombra de dúvidas o campo da poesia, com todos os seus zelos, disposições e combinações. Dante e a Divina Comédia foram, de fato, minha universidade. E até hoje sempre me surpreendo com suas questões. Amo Eliot e Joyce justamente por esse nexo que guardam com a Divina comédia. Não posso negar que a dimensão teológica é uma dimensão que me apaixona de modo visceral. E tenho cultivado grandes amigos teólogos no Brasil e fora, como Faustino Teixeira, João Batista Libânio, Paolo dall’Oglio, Giuliano Agresti – já falecido, e tantos outros com os quais venho traçando um colóquio permanente.
A experiência do deserto me marcou de modo irreversível. Passei longas temporadas solitárias, parte das quais foram evocadas em Os olhos do deserto, que cobrem experiência de quase uma década. Não há dúvida que o deserto guarda inúmeros sortilégios e desafios epistemológicos. A experiência do deserto é uma experiência muito dura, da qual regressei com uma forte pneumonia (porque vale lembrar que o deserto é frio e que não tenho o physique de rôle de um herói clássico). Os desertos que mais me impressionaram com sua força, que diríamos mística, foram o da Mauritânia e o da Síria. As grandes vastidões, o sentimento do infinito, a nostalgia do mais se entrecruzam nesses espaços marcados de abismo. Não tenho certeza se consegui ou não meu Interlocutor. Mas sei que a experiência da nudez essencial abriu caminhos de sensibilidade, que se tornaram como o Deus dantesco intraduzíveis, inefáveis, irrepetíveis.
NG: Para encerrar, repetirei uma pergunta que você fez para Antonio Carlos Villaça: "Homens. Cidades. Fantasmas. Italo Calvino fala de um Atlas ‘sui generis’ contendo os mapas de terras prometidas, visitadas na imaginação, mas ainda não descobertas." Como se chama e onde fica sua cidade?
ML: Minhas cidades são todas as cidades. Começo pelo Rio de Janeiro, dos extremos e dos subúrbios, mas tenho Roma como capital de meu consolo e desespero. O Rio deu-me uma língua, um sentimento, uma pátria de pertencer e transpertencer: barroco, pós-moderno, pós-católico. A velha Damasco, que é a cidade que me causou profundos encantos. Bolonha e Teerã. A cidade do Cairo e a Cidade do México: o Popocatépetl e a mesma poluição. Mas existe Lucca dentro, que não é apenas um livro, mas uma situação. A cidade de Lucca, origem de meu humus, terra e sonho. Precisaria talvez de um mapa que fosse como o Aleph de Borges, um dicionário que sonho com a geografia inventada de Ariosto ou todo o espaço de sua tese, que me possa assegurar que a cidade que sonho é a cidade que virá.
[1] PUCHEU, Alberto. (org.). Poesia e Filosofia. 1998. p. 94.
[2] LUCCHESI, Marco. Os Olhos do Deserto. 2000. p. 103.
[3] LUCCHESI, Marco. Op. Cit. 2000. p. 32.
Nonato Gurgel: Você é, dentre os autores contemporâneos, um dos que mais se destacam por incursionar entre diferentes gêneros literários. Transita pela poesia, memória, ficção, roteiro e ensaio, além de destacar-se como tradutor. Como se dá, na sua letra, esse intertexto entre gêneros? Você acredita exercitar, em seu texto, algum tipo de ruptura no que se refere às relações entre os gêneros literários?
Marco Lucchesi: Procuro coincidências, ressonâncias, a vaso-comunicação das partes, que os antigos denominavam, chamavam simpatia. Dessa busca pode resultar um processo alquímico, o diálogo plural e sussurrado, como dizia Paracelso entre a flor e a estrela, a pedra e a palavra. Abordo algo dessa problemática em meu novo livro Sphera. A diversidade é-me inerente. Sou marcado pela nostalgia do todo. Por isso examinei o livro de Deus, em Dante, o livro no Fausto, de Goethe, a fatalidade de Guimarães Rosa, totum sed non totaliter. Por isso busco, igualmente, a defesa da interdisciplinaridade nos estudos científicos e me apaixono pelo quark e o jaguar. Descubro na ficção um viés ensaístico, e no ensaio, um apelo poético. A memória é marcada por uma intensidade lírica, por uma síntese filosófica ou científica. Amo a síntese teilhardiana. Ou a fórmula de Paul Dirac. Abomino, no entanto, a totalidade totalitária, como o demônio de Laplace; os ultrapositivistas e neopositivistas; os que lançam maquinismos abomináveis de ordem psicanalítica contra a obra literária. Abomino os guarda-livros da especialidade. O singular e o plural se entrelaçam e criam horizontes de intensidade e dúvida. Sigo a dúvida hiperbólica e odeio a dúvida ceticista. Como tradutor deixei de existir, assassinado por mim mesmo. E me deparo com traduções da minha obra, que vão de Rodolfo Alonso, na Argentina, a Rafi Lanah, no Irã, e Curt Meyer-Clason, mais recentemente na Alemanha.
Acabei por traduzir a mim mesmo – numa síntese alquímico-esquizóide –, e busquei demonstrá-lo em Teatro alquímico, onde as oscilações de tradutor e traduzido se multiplicam como num jogo de espelhos. Não sou mais do que imagino ter sido. Sou menos e mais do que serei. Sou trezentos. Sou trezentos e cinqüenta – como em Mário. A pluralidade configura-se como um destino, uma adesão profunda, perigosa e necessária. Pode ser que haja alguma ruptura, como a entendem Bloch e Kuhn. Vivemos ainda a estranha e maravilhosa crise de todos os gêneros. Idéias e sensações que apontam para uma conquista do hoje considerado naufrágio solitário e sem espectador (ohne Zuschauer). Quem sabe desse modo não se reorganize de forma todavia mais intensa, uma síntese nova entre a ilha e o arquipélago. A parte e o todo. A chama e o incêndio.
NG: Dentre as propostas elencadas por Italo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio, você foi selecionado, nesta tese, como o autor representativo da multiplicidade. Você se considera um autor múltiplo? Qual seria a principal característica dessa multiplicidade na sua produção literária?
ML: A multiplicidade é o meu fogo e meu sangue. Não sei não articular modos plurais. Este é, de fato, o meu Dasein. Como agora mesmo, na qualidade de astrônomo amador, enquanto espero a chegada dos Leonídeos: busco na queda desses meteoros (cuja população é de quase uma centena a cada hora!) busco o espanto da poesia, com seus movimentos periódicos latentes e no desenho do céu descubro sinais antropológicos, a projeção da terra sobre o céu, como tão bem advertiu Marx nos manuscritos de 1844.
A multiplicidade é um portal prismático. Corredores que abrem para muitas portas e janelas. A beleza de varandas e quintais, espelhos e janelas como no Castelo de Atlas, de Ludovico Ariosto. A multiplicidade das coisas abandonadas no espaço ficcional da lua. A pluralidade da poesia persa, que se realiza por sucessivas acumulações imagéticas e remissões, formando uma rede que tangencia o infinito. A multiplicidade é o sangue da minha obra. A multiplicidade é minha razão de viver e de articular política e poética, mathesis e filosofia, noética e estética, cronos e aion. Uma cumplicidade do mundo dos livros com o livro do mundo. O sorriso de Parmênides e as lágrimas de Heráclito. A melhor imagem, talvez, seja a do ornitorrinco. Não uma perspectiva barroca, mas a perspectiva do espanto, do espanto que rege o conhecimento humano. Admiração e supercentração. Foi o que fiz como editor geral da poesia sempre, propondo um vastíssimo diálogo entre partes dispersas. Vivo dentro de uma multiplicidade inquieta, cortante, tremenda e avassaladora. Compartilho a fome do Ulisses dantesco. Horizontes que demandam novos horizontes. Sofro a nostalgia do mais e bebo do infinito as gotas de sua totalidade.
NG: Pensemos o texto da multiplicidade como aquele que ostenta múltiplos saberes, além de uma visão pluralística e multifacetada do mundo (Italo Calvino). Dentre os mais de 15 volumes de sua autoria – e aqui estou deixando de fora os livros traduzidos e aqueles por você organizados – qual deles você destacaria como mais representativo dessa proposta de multiplicidade e por quê?
ML: De todos os meus livros, não saberia dizer qual... Talvez, elegesse Poemas Reunidos, quem sabe Saudades do paraíso, ou minhas traduções dos poemas de Rûmî, das páginas de Umberto Eco... Na perspectiva tradutória, uma quase centena de dicionários utilizados são as avenidas, os rios e os deltas que me exigem do processo navegante o caráter refratário e especular da palavra. Como na ilha de Mandelbrot, em que cada parte reclama inevitavelmente outras infinitas partes. De modo que hoje não podemos determinar se a dimensão do todo ultrapassa, porventura, a dimensão da parte. Parece que não. Enamorei-me desde muito cedo da complexidade. Numa conversa que tive com Carlo Rubbia foi possível compreender ex-cordis a beleza de um universo complexo. Não necessariamente apoiado numa arché, mas em múltiplas archai, que não se atermam na pele do jaguar, mas que seguem por infindáveis labirintos na direção do quark. Borges, Calvino, Eco e Mandelbrot. Mas talvez, mais que todos, a poética de Swedenborg e de Goethe. Não há dúvidas que Poemas Reunidos exercem a multiplicidade desde a escolha das línguas que o integram: português, italiano (ou seja: os múltiplos italianos que descansam nos extratos de cada poema), árabe e provençal. Agora mesmo escrevi um poema em alemão, dedicado a Curt Meyer-Clason. E tenho na atitude de Poemas reunidos um pacto de enamoramento e horror com as pedras da Torre. Babel sempre me atraiu, com seu apelo de chama e brasa e fogo. Teria imensa dificuldade para apontar uma, duas ou mais obras onde a multiplicidade, como forma de conhecer o mundo em seu paradigma complexo encontrasse a sua realização. Penso no Edinaia Kniga – no livro único, de Khliebnikov. Penso que escolheria meu próximo livro... Uma de minhas pátrias? O ainda-não!
NG: Numa das páginas mais belas de Os olhos do deserto (2000), você escreve: "Essa idéia me possui. Cultivo jardins abstratos. Formas do silêncio. Mas não se preocupe. Juro pela superfície." Em que consiste esse juramento? Teria a ver com a noção nietzscheana de se deter na superfície, na epiderme, no culto da forma, no Olimpo inteiro da aparência, como dizia o filósofo alemão, ao ressaltar a sabedoria grega?
ML: Essa questão merece uma resposta algo mais ampla e suas raízes foram ligeiramente escavadas em “O rosto perdido” (Saudades do paraíso) e em partes distintas da minha obra, onde uma luta imperiosa entre a matéria comum e a materia signata quantitate traçam o limite das questões que me apaixonam e atordoam. Vivi durante muitos anos atraído pela noção de profundeza e densidade que o campo metafísico inaugurou para mim desde os meus quinze anos. Dessa época resulta um estudo disciplinado e atrevido da lógica formal, da cosmologia, da metafísica, a partir de uma orientação escolástica. Não da pequena escolástica, mas da escolástica séria, inteligente de um Maritain, de um Garrigou-Lagrange. Estudos que vinham sendo realizados em latim, e que apontavam para substâncias e categorias, que se enraizavam profundamente no aspecto da psicologia filosófica, como então era chamada. Desde então, o arquétipo do profundo regeu minhas questões, buscando na literatura clássica e numa lição de múltiplas camadas textuais uma idéia de subjacência, de latência, num movimento de ostra e pérola, trazendo de volta a poesia de Rûmî ou de Attar.
Fui uma espécie de logonauta em minha adolescência e primeira juventude, buscando a elaboração de conceitos que alargassem novas e mais profundas esferas do inteligível. Não podia não abrir mão dos universais e dos transcendentais. E segui pela teologia mística do Pseudo-Dionísio... O meu corte epistemológico ocorreu durante os meus estudos de Antropologia e História feitos na Universidade Federal Fluminense. Desde então comecei, a partir do perspectivismo nietzschiano e mais tarde deleuziano (mas sem fanatismos!) a compreender a vasteza da superfície. De uma superfície que se tornava profunda e de uma profundidade que só podia ser alcançada pela superfície. Todas estas noções foram elaboradas na construção de um paradigma novo dentro de meu universo poético.
E foi isso que ocorreu, mas de uma forma radicalmente outra, ligada ao corpo e à geografia. Caminhava pelo deserto da Judéia e decidi não buscar profundidades além daquelas culturais e dos múltiplos substratos que marcavam aquele deserto de pedra e conchas marinhas. Jurei que a superfície havia de me contentar. Apostava uma atitude hiperfísica mais do que metafísica. Passava do Sein para o Dasein. Não podia dar-me ao luxo de perder-me naquele deserto, caminhando só, tal como estava. Jurei pela superfície, sonhando profundezas. E não me perdi demasiado naquele deserto. O problema era – mas não o sabia naquele momento – o de não pisar nas minas terrestres!!!
NG: Na leitura de sua obra, percebe-se uma multiplicidade de topos e intertextos que parece delinear o seu processo de criação. Encontramos o poeta nos minaretes de Istambul, nos cafés do Cairo e nos mosteiros e desertos da Terra Prometida; com o memorialista deparamos nos sertões de Canudos ou no manicômio da metrópole; entrevemos o crítico, o literato no jardim de Adélia Prado, no palco de Rubens Corrêa, no “frio cortante” de Chennevières-sur-Marnes, com Roger Garaudy, ou penetrando o “continente” Artaud, com Nise da Silveira. Qual a importância desses intertextos tecidos com a alteridade e a diversidade de topos para a produção do seu texto?
ML: O diálogo também é parte de meu destino. Diante dos fatos recentes, decidi realizá-lo em múltiplos aspectos, como os que publiquei no capítulo “O meu jihad” – no livro Caminhos do Islã. Esse diálogo vem se realizando entre o ocidente e o oriente, poesia e matemática, astronomia e religião, e os exemplos não saberiam senão multiplicar-se nessa direção de partes que dialogam entre si.
Hoje me sinto movido e comovido por razões de ordem ética (que outros costumavam chamar de filosofia moral). E me interessei desde a ética da tradução para a ética da leitura. Preparo um grande seminário internacional a esse respeito, enquanto me volto intensamente para o que costumo chamar de ética da transversalidade (para não falar de disciplinas). Tudo isso talvez haurido da perspectiva multívoca, aberta e apocalíptica do texto literário. Da leitura à transleitura. Da sinergia do silêncio ou do inter-espaço, em que flutuam as palavras. Tal como a sensibilidade do semitom e do microtom na música dhrupad da Índia. A experiência me vem de uma reflexão musical em termos de teoria e prática de um instrumento que amo e cultivo, que é o piano (Tenho dois instrumentos de que não posso me afastar: o piano e o telescópio). O estudo da música de Bach e de Mozart, de Wagner e Villa-Lobos mostra cabalmente como a presença do intertexto musical empresta grande abertura, multisignificação do próprio texto. Penso nas Valsas de esquina, de Mignone. Ou no Concerto de Brandemburgo. Por isso, busco o diálogo em múltiplas formas: com Nagib Mahfuz, Mario Luzi, Umberto Eco, o deserto, os peregrinos de Padre Cícero, as noites insones velando deep sky objects, ou lendo tratados de botânica e teologia. O intertexto é o texto. E o texto é minha vida. Nostalgia da forma e celebração do simulacro. Já havia um pequeno deserto em Saudades do paraíso, que se tornou maior, exclusivo e quem sabe mais dramático em Os olhos do deserto.
NG: Na América (1986), de Jean Baudrillard, o deserto aparece como crítica (uma crítica extática da cultura, uma forma extática do desaparecimento) e forma (a forma de viagem). Em seu livro Saudades do paraíso (1997), você sente uma nostalgia da forma, enquanto no livro Os olhos do deserto (2000), o deserto surge como simulacro. Falando do deserto, diz a voz que narra neste texto: Fora dele, não sei viver senão por metáforas.
Você consegue vislumbrar como signo da multiplicidade esta forma e/ou este simulacro com os quais você e Baudrillard identificam o deserto?
ML: Comecei durante anos navegando em mares dantescos. E me deparo sempre mais com as vastas extensões da areia. Nessa espécie de salto meta-ôntico, percebo a fragilidade e a abertura infinita, que imagens como noite, deserto e mar guardam dentro de si. Minha busca do deserto foi e tem sido eminentemente poética, que tangencia claramente questões outras como as de ordem teológica, lingüística e política. No entanto, a centração ou a supercentração de tudo isso se resolve num ambiente do que os futuristas russos consideravam como Literaturnost (literariedade). Só posso responder enquanto me dou conta deste núcleo, desse arranjo, desse tema dominante. Percebo claramente uma espécie de recusa diante do mesmo e me encontro muito à vontade dessa maneira baudrillardiana de encarar essa dialética. O deserto é uma fábrica de metáforas.
NG: Se o deserto possui olhos, formas, o que vislumbra o deserto? Por que é preciso cultivá-lo?
ML: Leila e Majnun... A noite e a loucura. O casal de apaixonados. Ou então: Isabelle Eberhardt, que morreu afogada num chott do Saahara. O peso das estrelas e a forma do silêncio. Loucura e Gratuidade. A coluna de São Simeão. As areias cortantes do deserto. Meu Deus: é preciso estar alerta. As virgens com suas lâmpadas. As pneumonias dos desertos. O encontro de tudo em todos. Mas agora sonho com a desejada parte oriental. E vivo por ela. Os cristãos ortodoxos. Os nestorianos. Os mazdeístas que conheci no Irã. Quantos olhos. Quantas miradas!
NG: Na leitura que faz de Os olhos do deserto (2000), Michel Maffesoli ressalta sua errância mística, e assinala: "Não esqueçamos do mito, do mistério, que é o que une todos os iniciados." Você considera um iniciado o homem ou o poeta? Ou seriam ambos? Em que consistiria essa iniciação?
ML: Se a iniciação toca a taumaturgia, eu recuso. Se a iniciação tangencia algum integrismo intelectual, recuso. Mas se a iniciação, de modo mais amplo e genérico, importa num modo inaugural, na elaboração de um paradigma novo, de um corte epistemológico que cada sistema poético oferece para contrapor-se aos outros, nesse caso não há dúvida que a compreensão iniciática e mística devem estar enraizadas em seu contexto etimológico. Compreendo a mística tal como a entende nosso querido Maffesoli. E neste sentido, mas apenas neste sentido, a poesia é uma iniciação, tal como a educação do leitor, que se quer para Joyce ou Guimarães Rosa. Dispor das condições mais finas e atentas para armar as possibilidades de um diálogo possível ou remoto. Talvez aqui a velha suspension of disbelief ou o princípio de Habermas. Um contrato, uma adesão.
NG: Como T. S. Elliot e James Joyce, você é um apaixonado por Dante, além de ostentar, como ambos, amplo repertório teológico: Como a noite fria que passei no deserto do Marrocos, clamando por Deus (Saudades do paraíso). Como os antigos anacoretas, você consegue, no deserto, falar com Deus?
ML: Não há dúvida que em minha formação posso afirmar claramente uma universidade invisível. Chama-se Divina Comédia. Ela foi uma Bíblia para mim e durante muitos anos. Posso com delicada arrogância ou violenta imodéstia declarar que conheço longos e longos trechos que memorizei desde muito jovem. Busquei perseguir anos a fio cada pedra, palavra, sistema, que infundia rigor poético à obra de Dante. E entendo a poiesis como a construção de um horizonte plural, e não como queriam Croce e outros que ainda hoje lançam questões abomináveis de que a poesia não possa estar marcada pela teologia, pela economia, pela ciência (agora mesmo estou preparando com Ildeu Moreira um livro intitulado Poesia e física), porque no fim das contas o que mais interessa é sem sombra de dúvidas o campo da poesia, com todos os seus zelos, disposições e combinações. Dante e a Divina Comédia foram, de fato, minha universidade. E até hoje sempre me surpreendo com suas questões. Amo Eliot e Joyce justamente por esse nexo que guardam com a Divina comédia. Não posso negar que a dimensão teológica é uma dimensão que me apaixona de modo visceral. E tenho cultivado grandes amigos teólogos no Brasil e fora, como Faustino Teixeira, João Batista Libânio, Paolo dall’Oglio, Giuliano Agresti – já falecido, e tantos outros com os quais venho traçando um colóquio permanente.
A experiência do deserto me marcou de modo irreversível. Passei longas temporadas solitárias, parte das quais foram evocadas em Os olhos do deserto, que cobrem experiência de quase uma década. Não há dúvida que o deserto guarda inúmeros sortilégios e desafios epistemológicos. A experiência do deserto é uma experiência muito dura, da qual regressei com uma forte pneumonia (porque vale lembrar que o deserto é frio e que não tenho o physique de rôle de um herói clássico). Os desertos que mais me impressionaram com sua força, que diríamos mística, foram o da Mauritânia e o da Síria. As grandes vastidões, o sentimento do infinito, a nostalgia do mais se entrecruzam nesses espaços marcados de abismo. Não tenho certeza se consegui ou não meu Interlocutor. Mas sei que a experiência da nudez essencial abriu caminhos de sensibilidade, que se tornaram como o Deus dantesco intraduzíveis, inefáveis, irrepetíveis.
NG: Para encerrar, repetirei uma pergunta que você fez para Antonio Carlos Villaça: "Homens. Cidades. Fantasmas. Italo Calvino fala de um Atlas ‘sui generis’ contendo os mapas de terras prometidas, visitadas na imaginação, mas ainda não descobertas." Como se chama e onde fica sua cidade?
ML: Minhas cidades são todas as cidades. Começo pelo Rio de Janeiro, dos extremos e dos subúrbios, mas tenho Roma como capital de meu consolo e desespero. O Rio deu-me uma língua, um sentimento, uma pátria de pertencer e transpertencer: barroco, pós-moderno, pós-católico. A velha Damasco, que é a cidade que me causou profundos encantos. Bolonha e Teerã. A cidade do Cairo e a Cidade do México: o Popocatépetl e a mesma poluição. Mas existe Lucca dentro, que não é apenas um livro, mas uma situação. A cidade de Lucca, origem de meu humus, terra e sonho. Precisaria talvez de um mapa que fosse como o Aleph de Borges, um dicionário que sonho com a geografia inventada de Ariosto ou todo o espaço de sua tese, que me possa assegurar que a cidade que sonho é a cidade que virá.
[1] PUCHEU, Alberto. (org.). Poesia e Filosofia. 1998. p. 94.
[2] LUCCHESI, Marco. Os Olhos do Deserto. 2000. p. 103.
[3] LUCCHESI, Marco. Op. Cit. 2000. p. 32.