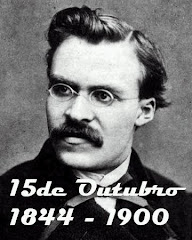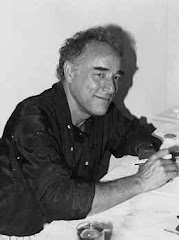"A visibilidade é, para mim, uma afirmação da vida,
do viver, do mundo, da existência como absoluta presença."
Eucanaã Ferraz
do viver, do mundo, da existência como absoluta presença."
Eucanaã Ferraz
Olhar como forma de a(r)mar
Primeiro foi o texto; depois, a pessoa. Através da antologia Esses Poetas (1998) – organizada por Heloísa Buarque de Hollanda, tomei conhecimento da poesia de Eucanaã Ferraz. Lembro do prazer que me deu a leitura do sutilíssimo “Acontecido” [1] – poema do livro Martelo (1997), incluído na referida antologia, cujo início aqui transcrevo:
Como quem se banhasse
no mesmo rio
de águas repetidas,
outra vez era setembro
e o amor tão novo.
...
Em 1999 conheci, no Leblon, no relançamento da referida antologia, o poeta. Dele ganhei o próprio livro onde havia o referido poema de "águas repetidas". A leitura de Martelo acionou em mim um mergulho na superfície da página, do qual retornei com asas mais leves e músculos fortalecidos. Quando li depois o Livro Primeiro (1990) e suas linguagens estetizadas de forma clara, direta, sem hermetismo, embora distanciada do discurso naturalista, coloquial, vi confirmada – na orelha escrita por Roberto Corrêa dos Santos – a minha associação da poesia de Eucanaã à musicalidade poética de Manuel Bandeira; embora, como sugere Carlos Secchin, exista no autor de Desassombro a elaboração de um real menos ‘natural’ do que o de Bandeira [2].
Depois passei a encontrar o poeta pelos corredores da UFRJ, onde eu cursava as disciplinas do doutorado em Literatura Comparada, e ele ministrava aulas nos cursos de Literatura Brasileira. Passei também a acompanhá-lo em recitais de poesia e a assisti-lo em programas como os da TVE. Esses encontros demonstravam cada vez mais a sintonia existente entre a pessoa e o texto: parecia haver entre eles uma mesma leveza, embora ambos parecessem densos. Ou seja: o que de luminoso esplendia no poema de Eucanaã, era visível nos gestos do poeta, na forma dele habitar e estetizar o espaço de suas relações.
Crendo na poesia como arte que dialoga com nosso espanto diante das coisas, Eucanaã assume procurar, através de sua letra, o resgate da alegria em um mundo no qual a perfeição se encontra exilada [3]. Para esse resgate, o poeta ‘recorta’, no plano da enunciação, a própria sintaxe, exemplarmente elíptica [4], e lança ao seu redor um olhar através do qual constrói um conhecimento que possui no diálogo do corpo com a forma, a luz e a cor um dos seus procedimentos mais produtivos.
A seguir, o poeta fala, dentre outros, de um topos a partir do qual um sujeito poético vê sem que fique muito claro de onde se configura sua visão. Contra a melancolia da letra e num dos momentos mais instigantes da nossa entrevista, o autor discorre acerca dos procedimentos estéticos que diferenciam os textos de Martelo e Desassombro e celebra, de forma nietzscheana, a poderosa alegria que reside latente na concretude de todas as coisas.
Como em outras entrevistas publicadas no Brasil e em Portugal, Eucanaã assume mais uma vez seu apreço pelo exercício da reescrita. Destaca a pintura como arte com a qual travou, antes da letra, suas primeiras imagens e elenca cinco poetas como fundamentais para a sua criação: Sophia de Mello Breyber, Eugênio de Andrade, João Cabral, Manuel Bandeira e Drummond. Através dos três primeiros, Eucanaã diz haver sido orientado para um certo materialismo e uma espécie de realismo solar, mas consigna ser o autor mineiro de Alguma Poesia quem mais o ensinou o ofício da poesia. Lição que Eucanaã nos repassa, com alegria e luminosidade, nas próximas páginas.
Nonato Gurgel: Belo/ porque é isso/ belo. Desde o seu Livro Primeiro (1990), passando pelo Martelo (1997), é visível a influência de Manuel Bandeira na sua poesia: Também é o beco/ o que vejo. Na poética de Bandeira, o alumbramento cotidiano acontece muitas vezes em casa; mais especificamente no quarto – o espaço de inscrição da subjetividade. Qual o topos ao qual você recorre com mais freqüência para inscrever seu itinerário poético?
Eucanaã Ferraz: Não me recordo, agora, de um topos privilegiado. Talvez não haja. É provável que no Livro Primeiro a rua tenha sido um ponto forte de observação. Em Martelo, penso que a casa ganha muita importância, pois nele há um desejo de registro das coisas no espaço íntimo, no andamento cotidiano, doméstico. Na nossa cultura, no nosso imaginário, no nosso espírito a casa é o lugar central do acolhimento. Daí ela aparecer neste livro com muita freqüência, embora compareça também em Desassombro. Mas, por outro lado, a rua é importantíssima para os meus poemas. Há neles um espaço externo muito marcado. A arquitetura, os jardins, a cidade, os automóveis tudo isso forma uma massa de signos da visibilidade que são inerentes à experiência de vida de que tratam os versos. São, numa primeira instância, materialidades com as quais cruzo diariamente. E minha poesia não é feita senão disso. São “experiências”. Matérias da experiência. Mas talvez eu possa dizer que embora eu preze imensamente nos poemas a concretude das coisas e da relação com elas, na maior parte deles a observação é a de um sujeito que vê, sem que fique claro de onde ele vê. Ele está próximo da coisa, mas talvez não importe muito onde ele está. Ou melhor, o espaço talvez seja mais importante para situar os seres e as coisas do que para definir as especificidades da apreensão. Penso que meus poemas, de um modo geral, falam das coisas em seus espaços (que pode ser a casa ou a rua) mas o olho que as vê (que as sente e escreve) situa-se numa espécie de objetividade subjetiva que, simultaneamente, adere ao espaço das coisas mas este é, em última instância, sempre interno. O topos então, deixa de o ser, fundido com o sentimento e a criação de uma linguagem que materializa a experiência sem perder de vista a materialidade dos corpos em cena. Mas não estou muito certo disso tudo, pois nunca pensei sobre tal questão e eu teria de rever os livros e os poemas para falar melhor.
NG: Levando-se em consideração os procedimentos estéticos e literários, quais distinções você faria entre o "acontecido" Martelo (1997) e o luzidio Desassombro (2001)?
EF: Há, de fato, algumas diferenças. Grosso modo, posso dizer que os poemas de Martelo apresentam uma plasticidade mais estática, que, embora não tenha desaparecido no Desassombro, diminuiu, ou melhor, tornou-se mais dinâmica. Embora o poema de abertura deste livro (“Desassombro I”) seja uma natureza-morta, penso que nele há mais movimento, ou ainda, que as formas estão em movimento, enquanto no Martelo as coisas são vistas como conjuntos ou quadros relativamente imóveis, totalmente oferecidos à visão. Mas creio que talvez a maior diferença para mim esteja no fato de que no Martelo há uma absoluta confiança na forma, na arquitetura, na procura da perfeição (pouco importa alcançá-la). No livro seguinte, já surge a desconfiança e mesmo uma certa ironia para com tal procura. Toda a parte “A mesa de trabalho” trata disso, das desconfianças, dúvidas, questionamentos. Há mesmo um poema que é emblemático, pois trata de uma questão crucial: o fracasso. O primeiro verso diz “O tema é antigo”, ou seja, vai à tradição recuperar esta experiência inexorável na atividade de todo artista, escritor, poeta, que é fracassar. Só um tolo ou um ingênuo não vivencia a derrota de alguns (muitos, poucos…) de seus projetos e tentativas. A falha, o erro, a dúvida, o vazio são parte da criação e devem ser vividos integralmente. Acho esta mudança de um livro para o outro fundamental. Foi mesmo uma mudança de perspectiva.
Além disso, em termos estritamente construtivos, adotei em Desassombro a divisão estrófica (quase sempre dísticos ou tercetos) que ficou ausente de Martelo, onde os versos aparecem em blocos inteiriços. Outra “novidade” são os poemas "narrativos", que descrevem cenas, eventos, bom exemplo de construção plástica dinâmica, diferente das construções mais estáticas de Martelo.
NG: No belíssimo texto "Entre estilhaços e escombros" (Revista Relâmpago nº 07), Silviano Santiago o compara a um compositor de Bossa Nova que consegue extrair da negatividade do desencanto o encanto. Como operar a musical sutileza do desassombro num tempo no qual o exercício da ternura é quase uma impossibilidade?
EF: Vou lhe responder fazendo uso de uma outra pergunta que me fizeram para uma revista portuguesa. Observava-se, ali, que um dos temas predominantes na minha poesia era a busca da alegria. Afirmei que, embora menos presente em Desassombro que nos dois livros anteriores, havia, sim, este desejo, esta busca da alegria, que acredito ser possível não apenas na infância. Não nos imagino como seres exilados de um paraíso que estaria no passado, seja ele histórico, mítico ou pessoal. Digo num dos poemas de Martelo que a alegria é “uma prática”. Concebo-a, portanto, como algo a ser construído. A arte não tem de ser um acerto de contas com nossas misérias coletivas ou particulares. E se ela deseja sempre o impossível, por que a alegria, a felicidade e a saúde têm de estar fora de seu horizonte? Se recuarmos à música de Bach ou de Mozart, veremos esta alegria. Mesmo no século XX, temos a música de Satie, as pinturas de Matisse, de Miró, e mesmo parte significativa da obra de Picasso. A poesia de Jaques Prévet, de Manuel Bandeira e de Eugênio de Andrade também têm muito a nos ensinar neste sentido. A tristeza não faz a arte melhor, faz apenas a arte mais triste. Pode-se argumentar que a tristeza é inevitável. Está certo. Mas por que a alegria e outros estados felizes parecem indignos de figurar entre os sentimentos que produzem a poesia e as outras artes?
E, ainda, detesto, por exemplo, a mitificação do que muitos chamam de "o sujo" como marca necessária à verdadeira poesia, à poesia mais intensa. Digo, ainda, que a limpeza que muitos vêem nos meus versos é, sim, uma intensidade. E que demanda um envolvimento efetivo, afetivo, emocional, estético, ético para que a poesia não seja só o recolhimento do “sujo”, tão facilmente detectável nas coisas. A “sujeira” pode ser isso: uma crosta fácil. Acredito que a “limpeza” pode ser um trabalho intenso de audição das coisas, de abrigo da dignidade das coisas, da alma, de penetração para além do só reconhecimento da realidade como “sujeira”. Na verdade, há um disseminado desprezo pela realidade! A impregnação do real nos poemas Desassombro é veemente, absurdamente visível, explícita, escandalosamente fácil de ver e sentir. Mas tudo isso, não (por ser isso) pode ser, e é, motivo de desconfiança e dúvida. Daí a primeira parte do livro, “À mesa de trabalho”, e penso sobretudo, mais uma vez, naquele poema cujo tema é exatamente o fracasso.
NG: Desassombro foi lançado em Portugal antes do Brasil. Antes do lançamento, alguns textos apareceram na lusitana revista Relâmpago nº 07. Comparando-se os poemas publicados na revista e posteriormente lançados pela edições Quasi, percebe-se que os poemas possuíam belos títulos (Romance, Luzeiro, A leitora, Janeiro no Rio, Crônica...).
Por que você optou, no índice do livro, pelo uso do primeiro verso? Também em alguns textos como em "Eram penhas entre águas enormes" (um dos melhores poemas da nossa poesia contemporânea), percebe-se duas modificações em termos de recorte vocabular. Qual a importância de se reescrever o poema?
EF: Todos os poemas que integram o livro tinham, originalmente, títulos. Retirei-os porque queria chamar atenção para os títulos das partes que os reúnem. É comum que o poeta se esforce para criar alguma estrutura e o livro seja lido ou analisado como se fora destituído de qualquer estruturação e os poemas estivessem numa seqüência linear e aleatória. Daí, quis sublinhar a estrutura do livro retirando os títulos. Depois, me arrependi um pouco, porque acho que o leitor está mais acostumado com títulos e tem dificuldades para dizer que gosta (ou desgosta) deste ou daquele poema sem poder dizer os nomes deles. Mas a coisa está feita.
Quanto a reescrever, sou radical: prefiro reescrever a escrever. Claro que posso dizer que enquanto não dou o poema como pronto ele está sendo escrito. Portanto, não há reescrever, apenas escrever. Mas se pensarmos no binômio “escrever”/ “reescrever”, tenho de dizer que gosto imensamente da segunda tarefa. Gosto de ver o poema. Quando ele ainda está se descolando do limbo, é ainda imaterialidade, tem muito de invisibilidade. Gosto de rabiscar sobre o que está, de refazer, esticar, cortar, substituir, colar e assim por diante. Gosto da intervenção plástica, que para mim é sempre uma operação sensível. Não há dúvida de que é muito gratificante ver o poema apurar sua forma. Aprendo a escrever na reescrita. Deveria dizer, pois não deixa de ser verdade, que depois esqueço muita coisa e o que aprendi pouco servirá para outro poema. De fato, não há fórmulas. Mas não posso ser cabotino a ponto de dizer que o poeta sempre parte do zero. Isto é uma mentira. Um poeta sabe muito sobre sua escrita. Mas também é preciso que se diga que isto não é uma garantia e, pior ainda, pode ser uma desgraça. Enfim, antibandeirianamente falando, gosto mais do “exercício” do que do “alumbramento”.
NG: Se a poética de Armando Freitas Filho é recentemente perpassada por um Fio Terra alimentado da nudez de qualquer superfície, o seu Desassombro inicia por um fio de luz que à concretude dos objetos confere uma extrema nitidez. Isso parece outorgar à visibilidade uma dimensão bastante representativa da sua poética. Qual a importância da ação do olhar na construção de sua poética?
EF: Esta questão é complexa, plena de implicações e penso que sua real dimensão deve ser avaliada pela crítica que um dia vier, se vier, a se interessar pela poesia que escrevo. Mas posso dizer, por exemplo, que não me interesso pela abstração do pensamento. Não tenho aptidão, por exemplo, para a filosofia. Interessa-me a pintura, a arquitetura, a fotografia. Interesso-me por aquilo que posso ver. Tenho bem clara a noção de que esta é uma limitação enorme. E se algumas vezes procurei, sem muito sucesso, diminuir esta insuficiência, a certa altura imaginei que talvez devesse procurar, pelo contrário, extrair desta minha limitação alguma coisa positiva. E, de fato, acabei por tentar explorar as possibilidades da minha estreiteza, o que, no fim das contas, talvez tenha apenas tornado mais estreito o alcance reflexivo do que escrevo. Mas, de qualquer modo, adquiri consciência de que deveria converter em projeto estético a minha particular sensibilidade quando ia escrevendo os poemas de Martelo, que é em larga medida um livro marcado pela busca de um mundo apreendido como matéria, como corporeidade. Há, por exemplo, uma pequena série de poemas chamados “Figura”, “Figura com mulher”, “Figura II” e “Figura III” que dialogam diretamente com a pintura de Matisse, que é a referência plástica mais forte e decisiva da minha vida. Descobri a arte moderna com o “Grand nu couché/Nu rose”. Eu era um menino sem livros em casa. Aos poucos, fui comprando os romances de Alencar e dos outros românticos. Tinha como única referência poética o Eu de Augusto dos Anjos. A arte, para mim, era uma coisa do passado. Um belo dia, o menino deu de cara com a reprodução da tela de Matisse. Pronto! Foi um choque e um deslumbramento. Conheci a pintura moderna antes da literatura moderna. Eu desenhava bem e com muita desenvoltura. Depois cheguei a pintar. Gostava de fazer colagens. Podia passar, e passava, horas e horas recortando papéis, figuras, sem nenhuma necessidade de leitura, sem nenhum pensamento que não a avaliação do quanto uma forma e uma cor podiam ser belas. A beleza, que considero a mais alta qualidade que a arte pode alcançar, para mim está diretamente ligada à visibilidade. Para mim, a beleza, que é uma abstração total, é algo que reconhecemos sobretudo naquilo que vemos. Claro que há outras belezas, mas sinto as coisas visíveis como mais belas que as outras.
Mas, voltando à série das figuras, no “Figura com mulher” digo que a “odalisca” (referência direta a um dos motivos mais recorrentes da obra matissiana) “não sonha” e “vive a delícia – cor/ e perfume – de estar totalmente/ neste mundo.” A visibilidade é, para mim, uma afirmação da vida, do viver, do mundo, da existência como absoluta presença. Num outro poema de Martelo, ao falar de Deus, imagino que um navio talvez possa ser um pedaço de um pedaço/ de um pedaço do seu nariz (…) Só sei pensar as coisas mais abstratas e vagas como matéria, corpo, visibilidade. Penso com o olho. O olho é minha sensibilidade. E creio mesmo que a poesia que escrevo reflete isso. Tudo o que escrevo aspira ser como aquele grande nu de Matisse, absolutamente aqui, absolutamente agora, aberto à vida e ao olhar.
NG: Gostaria que o poeta tecesse um paralelo entre o seu mergulho nas poéticas águas lusitanas e sua viagem pela rigorosa arquitetura do verso cabralino.
EF: O contato inicial com as “águas lusitanas” deu-se com a leitura da poesia de Fernando Pessoa, de todo inevitável, já que no Brasil ele era e é obrigatório. Posteriormente, aconteceu-me a poesia de Jorge de Sena, que li com bastante atenção e entusiasmo. E, ainda, creio que por volta de 1985, eu e mais dois amigos adoecemos de Os passos em volta, de Herberto Helder. Digo adoecemos porque o livro se converteu numa fixação para os três, algo patológico! Quando não estávamos em casa a ler o livro, estávamos juntos, cada qual com o seu exemplar. Então, íamos para algum bar ou para a casa de um de nós e ficávamos madrugada adentro, maravilhados, lendo aqueles textos. Sabíamos de cor passagens enormes de “Estilo”, “Holanda” e “Coisas elétricas na Escócia”. À época eu já conhecia alguma coisa de Sophia e Eugénio, mas só depois suas poéticas ganhariam a dimensão de forças reveladoras da minha própria escrita.
Creio que o mecanismo da influência é mais ou menos esse: descobrimos algo que faz claro aquilo que desejamos secretamente, como uma vereda para chegarmos ao que nos tornamos. Sendo assim, realmente os dois nomes portugueses a citar são Sophia de Mello Breyner Andresen e Eugênio de Andrade. Encontrei em ambos, sobretudo, a força que nasce da delicadeza e da luz. Já disse em outra oportunidade que a ternura de Eugênio é das coisas mais grandiosas que a poesia já produziu. Toda a sua palavra é de uma luminosidade que nunca cega, pois nasce de uma vivência erótica que afirma o corpo, que o festeja, ele e seus desejos, ele e suas sedes. A palavra é também um corpo na poesia de Eugênio, que convoca cada sílaba com o seu corpo inteiro. A atmosfera erótica eugeniana sempre me excitou, fisicamente mesmo, pouco importando sobre o que falasse. Até porque a poesia, de fato, não fala “sobre” coisas. As coisas é que são invitadas a virem para o poema como testemunhos da existência. A vida é real, sim, sabemos disso porque as coisas o dizem, e o dizem sobretudo, plenamente, nos poemas. Esta asserção das coisas no poema é absoluta, é maravilhosa, estonteante e patética. A poesia de Eugénio mostrou-me isso, assim como a de Sophia, cuja poética, toda a crítica já o disse, procura libertar-se de toda contingência de tempo e espaço, da descontinuidade dos nomes e dos corpos, a fim de fundar na escrita um tempo/lugar no qual tudo se reintegra e volta à unidade perdida.
Aparentemente, a escrita de João Cabral seria muito aposta à destes dois poetas. Sophia e João Cabral, porém, não apenas foram amigos, mas admiravam-se como escritores, homenagearam-se em poemas, trocaram livros e dedicatórias. Cabral comentava os poemas da amiga e O livro cigano mostra uma clara influência da escrita cabralina sobre Sophia de Mello Breyner. Também sei que Eugénio é um admirador da poesia do nosso pernambucano e seria possível traçar um quadro de convergências na poesia de ambos. Não pretendo ensaiar aqui um estudo aproximativo, e se sublinho alguma vizinhança fora do âmbito da minha poesia é apenas por uma espécie de vício crítico. Voltando ao círculo restrito que me inclui, penso que estes três poetas orientaram-me para um certo materialismo e para um realismo solar. Como poeta, eu não conseguiria, por temperamento, aproximar-me da poesia desejadamente incômoda de Cabral. Sua materialidade áspera e cortante, sem dúvida esplendorosa, definitivamente não me serviria. Estou mais próximo da delicadeza de Eugênio e Sophia. Mas, nos três, encontrei o rigor construtivo casado à emoção.
Também preciso consignar que, ao lado destas três referências fortes, o poeta que mais me ensinou o ofício da poesia foi Drummond. Quando aluno de graduação e de mestrado em Letras, li e estudei em várias oportunidades a sua poesia, orientado pela extraordinária professora e ensaísta Marlene de Castro Correia. A manipulação dos ritmos, das repetições, as alternâncias de tom, a variação de registros, as múltiplas vozes e outros recursos utilizados extensamente e magistralmente por Drummond eram vistos e pensados, pesados em relação com a reflexão que os poemas propunham. E penso não haver dúvidas de que a poesia drummondiana, neste sentido, é mais rica que a daqueles três poetas. Digo mais. Em língua portuguesa, só Pessoa ombreia com Drummond. Este aspecto do aprendizado formal foi fundamental para mim, que sou, por gosto, um poeta-trabalhador. Mas se pudesse eleger uma poesia como padrão, vislumbrada timidamente numa espécie de utopia íntima, esta seria a de Manuel Bandeira, pois penso que ela congrega todas as qualidades que me atraem neste ou naquele poeta, neste ou naquele pintor.
RN: Contribuindo para o desmoronamento da antiga crença de que construção teórica e criação poética não caminham de mãos dadas, você personifica o exemplo do poeta, profissão: professor. Não é algo muito comum no território acadêmico. Como você concilia sua atividade acadêmica com a produção ensaística e a criação poética?
EF: Não faço qualquer esforço para conciliar estas coisas, simplesmente porque isto não me parece necessário. Para mim, ao contrário, elas fazem parte de uma coisa só: a poesia. Dar aulas de literatura brasileira é um modo de estar próximo da poesia. Escrever ensaios sobre outros poetas tem esta mesma dimensão. Estou sempre lendo, escrevendo, falando sobre a poesia, poemas e poetas. Mas devo dizer que não gosto, absolutamente, da idéia de que hoje a poesia vem sendo feita por professores e/ou universitários. Penso que é melhor para a poesia estar livre. Não porque a academia possa lhe fazer mal. Sinto bem o contrário disso: a poesia e os poetas devem muito à Universidade, pois ali se formam críticos e leitores. Ela é um centro de recepção e divulgação extraordinário e insubstituível. Mas penso que a poesia deve ser lida e escrita por todos. Sua força está, repito, na liberdade, na amplidão. O verso não é uma especialidade, um artefato técnico sob controle de alguns estudiosos. O professor tem uma função, e seu papel não deve se superpor ao do criador.
NOTAS
[1] FERRAZ, Eucanaã. Martelo. Cit. 1997. p. 20.
[2] SECCHIN, Antonio C. Jornal do Brasil. 2002. p. 4.
[3] CANTINHO, Maria J. “Desassombro”. 2001.
[4] SECCHIN, Antonio C. Op. Cit. 2002. p. 4.
Em 1999 conheci, no Leblon, no relançamento da referida antologia, o poeta. Dele ganhei o próprio livro onde havia o referido poema de "águas repetidas". A leitura de Martelo acionou em mim um mergulho na superfície da página, do qual retornei com asas mais leves e músculos fortalecidos. Quando li depois o Livro Primeiro (1990) e suas linguagens estetizadas de forma clara, direta, sem hermetismo, embora distanciada do discurso naturalista, coloquial, vi confirmada – na orelha escrita por Roberto Corrêa dos Santos – a minha associação da poesia de Eucanaã à musicalidade poética de Manuel Bandeira; embora, como sugere Carlos Secchin, exista no autor de Desassombro a elaboração de um real menos ‘natural’ do que o de Bandeira [2].
Depois passei a encontrar o poeta pelos corredores da UFRJ, onde eu cursava as disciplinas do doutorado em Literatura Comparada, e ele ministrava aulas nos cursos de Literatura Brasileira. Passei também a acompanhá-lo em recitais de poesia e a assisti-lo em programas como os da TVE. Esses encontros demonstravam cada vez mais a sintonia existente entre a pessoa e o texto: parecia haver entre eles uma mesma leveza, embora ambos parecessem densos. Ou seja: o que de luminoso esplendia no poema de Eucanaã, era visível nos gestos do poeta, na forma dele habitar e estetizar o espaço de suas relações.
Crendo na poesia como arte que dialoga com nosso espanto diante das coisas, Eucanaã assume procurar, através de sua letra, o resgate da alegria em um mundo no qual a perfeição se encontra exilada [3]. Para esse resgate, o poeta ‘recorta’, no plano da enunciação, a própria sintaxe, exemplarmente elíptica [4], e lança ao seu redor um olhar através do qual constrói um conhecimento que possui no diálogo do corpo com a forma, a luz e a cor um dos seus procedimentos mais produtivos.
A seguir, o poeta fala, dentre outros, de um topos a partir do qual um sujeito poético vê sem que fique muito claro de onde se configura sua visão. Contra a melancolia da letra e num dos momentos mais instigantes da nossa entrevista, o autor discorre acerca dos procedimentos estéticos que diferenciam os textos de Martelo e Desassombro e celebra, de forma nietzscheana, a poderosa alegria que reside latente na concretude de todas as coisas.
Como em outras entrevistas publicadas no Brasil e em Portugal, Eucanaã assume mais uma vez seu apreço pelo exercício da reescrita. Destaca a pintura como arte com a qual travou, antes da letra, suas primeiras imagens e elenca cinco poetas como fundamentais para a sua criação: Sophia de Mello Breyber, Eugênio de Andrade, João Cabral, Manuel Bandeira e Drummond. Através dos três primeiros, Eucanaã diz haver sido orientado para um certo materialismo e uma espécie de realismo solar, mas consigna ser o autor mineiro de Alguma Poesia quem mais o ensinou o ofício da poesia. Lição que Eucanaã nos repassa, com alegria e luminosidade, nas próximas páginas.
Nonato Gurgel: Belo/ porque é isso/ belo. Desde o seu Livro Primeiro (1990), passando pelo Martelo (1997), é visível a influência de Manuel Bandeira na sua poesia: Também é o beco/ o que vejo. Na poética de Bandeira, o alumbramento cotidiano acontece muitas vezes em casa; mais especificamente no quarto – o espaço de inscrição da subjetividade. Qual o topos ao qual você recorre com mais freqüência para inscrever seu itinerário poético?
Eucanaã Ferraz: Não me recordo, agora, de um topos privilegiado. Talvez não haja. É provável que no Livro Primeiro a rua tenha sido um ponto forte de observação. Em Martelo, penso que a casa ganha muita importância, pois nele há um desejo de registro das coisas no espaço íntimo, no andamento cotidiano, doméstico. Na nossa cultura, no nosso imaginário, no nosso espírito a casa é o lugar central do acolhimento. Daí ela aparecer neste livro com muita freqüência, embora compareça também em Desassombro. Mas, por outro lado, a rua é importantíssima para os meus poemas. Há neles um espaço externo muito marcado. A arquitetura, os jardins, a cidade, os automóveis tudo isso forma uma massa de signos da visibilidade que são inerentes à experiência de vida de que tratam os versos. São, numa primeira instância, materialidades com as quais cruzo diariamente. E minha poesia não é feita senão disso. São “experiências”. Matérias da experiência. Mas talvez eu possa dizer que embora eu preze imensamente nos poemas a concretude das coisas e da relação com elas, na maior parte deles a observação é a de um sujeito que vê, sem que fique claro de onde ele vê. Ele está próximo da coisa, mas talvez não importe muito onde ele está. Ou melhor, o espaço talvez seja mais importante para situar os seres e as coisas do que para definir as especificidades da apreensão. Penso que meus poemas, de um modo geral, falam das coisas em seus espaços (que pode ser a casa ou a rua) mas o olho que as vê (que as sente e escreve) situa-se numa espécie de objetividade subjetiva que, simultaneamente, adere ao espaço das coisas mas este é, em última instância, sempre interno. O topos então, deixa de o ser, fundido com o sentimento e a criação de uma linguagem que materializa a experiência sem perder de vista a materialidade dos corpos em cena. Mas não estou muito certo disso tudo, pois nunca pensei sobre tal questão e eu teria de rever os livros e os poemas para falar melhor.
NG: Levando-se em consideração os procedimentos estéticos e literários, quais distinções você faria entre o "acontecido" Martelo (1997) e o luzidio Desassombro (2001)?
EF: Há, de fato, algumas diferenças. Grosso modo, posso dizer que os poemas de Martelo apresentam uma plasticidade mais estática, que, embora não tenha desaparecido no Desassombro, diminuiu, ou melhor, tornou-se mais dinâmica. Embora o poema de abertura deste livro (“Desassombro I”) seja uma natureza-morta, penso que nele há mais movimento, ou ainda, que as formas estão em movimento, enquanto no Martelo as coisas são vistas como conjuntos ou quadros relativamente imóveis, totalmente oferecidos à visão. Mas creio que talvez a maior diferença para mim esteja no fato de que no Martelo há uma absoluta confiança na forma, na arquitetura, na procura da perfeição (pouco importa alcançá-la). No livro seguinte, já surge a desconfiança e mesmo uma certa ironia para com tal procura. Toda a parte “A mesa de trabalho” trata disso, das desconfianças, dúvidas, questionamentos. Há mesmo um poema que é emblemático, pois trata de uma questão crucial: o fracasso. O primeiro verso diz “O tema é antigo”, ou seja, vai à tradição recuperar esta experiência inexorável na atividade de todo artista, escritor, poeta, que é fracassar. Só um tolo ou um ingênuo não vivencia a derrota de alguns (muitos, poucos…) de seus projetos e tentativas. A falha, o erro, a dúvida, o vazio são parte da criação e devem ser vividos integralmente. Acho esta mudança de um livro para o outro fundamental. Foi mesmo uma mudança de perspectiva.
Além disso, em termos estritamente construtivos, adotei em Desassombro a divisão estrófica (quase sempre dísticos ou tercetos) que ficou ausente de Martelo, onde os versos aparecem em blocos inteiriços. Outra “novidade” são os poemas "narrativos", que descrevem cenas, eventos, bom exemplo de construção plástica dinâmica, diferente das construções mais estáticas de Martelo.
NG: No belíssimo texto "Entre estilhaços e escombros" (Revista Relâmpago nº 07), Silviano Santiago o compara a um compositor de Bossa Nova que consegue extrair da negatividade do desencanto o encanto. Como operar a musical sutileza do desassombro num tempo no qual o exercício da ternura é quase uma impossibilidade?
EF: Vou lhe responder fazendo uso de uma outra pergunta que me fizeram para uma revista portuguesa. Observava-se, ali, que um dos temas predominantes na minha poesia era a busca da alegria. Afirmei que, embora menos presente em Desassombro que nos dois livros anteriores, havia, sim, este desejo, esta busca da alegria, que acredito ser possível não apenas na infância. Não nos imagino como seres exilados de um paraíso que estaria no passado, seja ele histórico, mítico ou pessoal. Digo num dos poemas de Martelo que a alegria é “uma prática”. Concebo-a, portanto, como algo a ser construído. A arte não tem de ser um acerto de contas com nossas misérias coletivas ou particulares. E se ela deseja sempre o impossível, por que a alegria, a felicidade e a saúde têm de estar fora de seu horizonte? Se recuarmos à música de Bach ou de Mozart, veremos esta alegria. Mesmo no século XX, temos a música de Satie, as pinturas de Matisse, de Miró, e mesmo parte significativa da obra de Picasso. A poesia de Jaques Prévet, de Manuel Bandeira e de Eugênio de Andrade também têm muito a nos ensinar neste sentido. A tristeza não faz a arte melhor, faz apenas a arte mais triste. Pode-se argumentar que a tristeza é inevitável. Está certo. Mas por que a alegria e outros estados felizes parecem indignos de figurar entre os sentimentos que produzem a poesia e as outras artes?
E, ainda, detesto, por exemplo, a mitificação do que muitos chamam de "o sujo" como marca necessária à verdadeira poesia, à poesia mais intensa. Digo, ainda, que a limpeza que muitos vêem nos meus versos é, sim, uma intensidade. E que demanda um envolvimento efetivo, afetivo, emocional, estético, ético para que a poesia não seja só o recolhimento do “sujo”, tão facilmente detectável nas coisas. A “sujeira” pode ser isso: uma crosta fácil. Acredito que a “limpeza” pode ser um trabalho intenso de audição das coisas, de abrigo da dignidade das coisas, da alma, de penetração para além do só reconhecimento da realidade como “sujeira”. Na verdade, há um disseminado desprezo pela realidade! A impregnação do real nos poemas Desassombro é veemente, absurdamente visível, explícita, escandalosamente fácil de ver e sentir. Mas tudo isso, não (por ser isso) pode ser, e é, motivo de desconfiança e dúvida. Daí a primeira parte do livro, “À mesa de trabalho”, e penso sobretudo, mais uma vez, naquele poema cujo tema é exatamente o fracasso.
NG: Desassombro foi lançado em Portugal antes do Brasil. Antes do lançamento, alguns textos apareceram na lusitana revista Relâmpago nº 07. Comparando-se os poemas publicados na revista e posteriormente lançados pela edições Quasi, percebe-se que os poemas possuíam belos títulos (Romance, Luzeiro, A leitora, Janeiro no Rio, Crônica...).
Por que você optou, no índice do livro, pelo uso do primeiro verso? Também em alguns textos como em "Eram penhas entre águas enormes" (um dos melhores poemas da nossa poesia contemporânea), percebe-se duas modificações em termos de recorte vocabular. Qual a importância de se reescrever o poema?
EF: Todos os poemas que integram o livro tinham, originalmente, títulos. Retirei-os porque queria chamar atenção para os títulos das partes que os reúnem. É comum que o poeta se esforce para criar alguma estrutura e o livro seja lido ou analisado como se fora destituído de qualquer estruturação e os poemas estivessem numa seqüência linear e aleatória. Daí, quis sublinhar a estrutura do livro retirando os títulos. Depois, me arrependi um pouco, porque acho que o leitor está mais acostumado com títulos e tem dificuldades para dizer que gosta (ou desgosta) deste ou daquele poema sem poder dizer os nomes deles. Mas a coisa está feita.
Quanto a reescrever, sou radical: prefiro reescrever a escrever. Claro que posso dizer que enquanto não dou o poema como pronto ele está sendo escrito. Portanto, não há reescrever, apenas escrever. Mas se pensarmos no binômio “escrever”/ “reescrever”, tenho de dizer que gosto imensamente da segunda tarefa. Gosto de ver o poema. Quando ele ainda está se descolando do limbo, é ainda imaterialidade, tem muito de invisibilidade. Gosto de rabiscar sobre o que está, de refazer, esticar, cortar, substituir, colar e assim por diante. Gosto da intervenção plástica, que para mim é sempre uma operação sensível. Não há dúvida de que é muito gratificante ver o poema apurar sua forma. Aprendo a escrever na reescrita. Deveria dizer, pois não deixa de ser verdade, que depois esqueço muita coisa e o que aprendi pouco servirá para outro poema. De fato, não há fórmulas. Mas não posso ser cabotino a ponto de dizer que o poeta sempre parte do zero. Isto é uma mentira. Um poeta sabe muito sobre sua escrita. Mas também é preciso que se diga que isto não é uma garantia e, pior ainda, pode ser uma desgraça. Enfim, antibandeirianamente falando, gosto mais do “exercício” do que do “alumbramento”.
NG: Se a poética de Armando Freitas Filho é recentemente perpassada por um Fio Terra alimentado da nudez de qualquer superfície, o seu Desassombro inicia por um fio de luz que à concretude dos objetos confere uma extrema nitidez. Isso parece outorgar à visibilidade uma dimensão bastante representativa da sua poética. Qual a importância da ação do olhar na construção de sua poética?
EF: Esta questão é complexa, plena de implicações e penso que sua real dimensão deve ser avaliada pela crítica que um dia vier, se vier, a se interessar pela poesia que escrevo. Mas posso dizer, por exemplo, que não me interesso pela abstração do pensamento. Não tenho aptidão, por exemplo, para a filosofia. Interessa-me a pintura, a arquitetura, a fotografia. Interesso-me por aquilo que posso ver. Tenho bem clara a noção de que esta é uma limitação enorme. E se algumas vezes procurei, sem muito sucesso, diminuir esta insuficiência, a certa altura imaginei que talvez devesse procurar, pelo contrário, extrair desta minha limitação alguma coisa positiva. E, de fato, acabei por tentar explorar as possibilidades da minha estreiteza, o que, no fim das contas, talvez tenha apenas tornado mais estreito o alcance reflexivo do que escrevo. Mas, de qualquer modo, adquiri consciência de que deveria converter em projeto estético a minha particular sensibilidade quando ia escrevendo os poemas de Martelo, que é em larga medida um livro marcado pela busca de um mundo apreendido como matéria, como corporeidade. Há, por exemplo, uma pequena série de poemas chamados “Figura”, “Figura com mulher”, “Figura II” e “Figura III” que dialogam diretamente com a pintura de Matisse, que é a referência plástica mais forte e decisiva da minha vida. Descobri a arte moderna com o “Grand nu couché/Nu rose”. Eu era um menino sem livros em casa. Aos poucos, fui comprando os romances de Alencar e dos outros românticos. Tinha como única referência poética o Eu de Augusto dos Anjos. A arte, para mim, era uma coisa do passado. Um belo dia, o menino deu de cara com a reprodução da tela de Matisse. Pronto! Foi um choque e um deslumbramento. Conheci a pintura moderna antes da literatura moderna. Eu desenhava bem e com muita desenvoltura. Depois cheguei a pintar. Gostava de fazer colagens. Podia passar, e passava, horas e horas recortando papéis, figuras, sem nenhuma necessidade de leitura, sem nenhum pensamento que não a avaliação do quanto uma forma e uma cor podiam ser belas. A beleza, que considero a mais alta qualidade que a arte pode alcançar, para mim está diretamente ligada à visibilidade. Para mim, a beleza, que é uma abstração total, é algo que reconhecemos sobretudo naquilo que vemos. Claro que há outras belezas, mas sinto as coisas visíveis como mais belas que as outras.
Mas, voltando à série das figuras, no “Figura com mulher” digo que a “odalisca” (referência direta a um dos motivos mais recorrentes da obra matissiana) “não sonha” e “vive a delícia – cor/ e perfume – de estar totalmente/ neste mundo.” A visibilidade é, para mim, uma afirmação da vida, do viver, do mundo, da existência como absoluta presença. Num outro poema de Martelo, ao falar de Deus, imagino que um navio talvez possa ser um pedaço de um pedaço/ de um pedaço do seu nariz (…) Só sei pensar as coisas mais abstratas e vagas como matéria, corpo, visibilidade. Penso com o olho. O olho é minha sensibilidade. E creio mesmo que a poesia que escrevo reflete isso. Tudo o que escrevo aspira ser como aquele grande nu de Matisse, absolutamente aqui, absolutamente agora, aberto à vida e ao olhar.
NG: Gostaria que o poeta tecesse um paralelo entre o seu mergulho nas poéticas águas lusitanas e sua viagem pela rigorosa arquitetura do verso cabralino.
EF: O contato inicial com as “águas lusitanas” deu-se com a leitura da poesia de Fernando Pessoa, de todo inevitável, já que no Brasil ele era e é obrigatório. Posteriormente, aconteceu-me a poesia de Jorge de Sena, que li com bastante atenção e entusiasmo. E, ainda, creio que por volta de 1985, eu e mais dois amigos adoecemos de Os passos em volta, de Herberto Helder. Digo adoecemos porque o livro se converteu numa fixação para os três, algo patológico! Quando não estávamos em casa a ler o livro, estávamos juntos, cada qual com o seu exemplar. Então, íamos para algum bar ou para a casa de um de nós e ficávamos madrugada adentro, maravilhados, lendo aqueles textos. Sabíamos de cor passagens enormes de “Estilo”, “Holanda” e “Coisas elétricas na Escócia”. À época eu já conhecia alguma coisa de Sophia e Eugénio, mas só depois suas poéticas ganhariam a dimensão de forças reveladoras da minha própria escrita.
Creio que o mecanismo da influência é mais ou menos esse: descobrimos algo que faz claro aquilo que desejamos secretamente, como uma vereda para chegarmos ao que nos tornamos. Sendo assim, realmente os dois nomes portugueses a citar são Sophia de Mello Breyner Andresen e Eugênio de Andrade. Encontrei em ambos, sobretudo, a força que nasce da delicadeza e da luz. Já disse em outra oportunidade que a ternura de Eugênio é das coisas mais grandiosas que a poesia já produziu. Toda a sua palavra é de uma luminosidade que nunca cega, pois nasce de uma vivência erótica que afirma o corpo, que o festeja, ele e seus desejos, ele e suas sedes. A palavra é também um corpo na poesia de Eugênio, que convoca cada sílaba com o seu corpo inteiro. A atmosfera erótica eugeniana sempre me excitou, fisicamente mesmo, pouco importando sobre o que falasse. Até porque a poesia, de fato, não fala “sobre” coisas. As coisas é que são invitadas a virem para o poema como testemunhos da existência. A vida é real, sim, sabemos disso porque as coisas o dizem, e o dizem sobretudo, plenamente, nos poemas. Esta asserção das coisas no poema é absoluta, é maravilhosa, estonteante e patética. A poesia de Eugénio mostrou-me isso, assim como a de Sophia, cuja poética, toda a crítica já o disse, procura libertar-se de toda contingência de tempo e espaço, da descontinuidade dos nomes e dos corpos, a fim de fundar na escrita um tempo/lugar no qual tudo se reintegra e volta à unidade perdida.
Aparentemente, a escrita de João Cabral seria muito aposta à destes dois poetas. Sophia e João Cabral, porém, não apenas foram amigos, mas admiravam-se como escritores, homenagearam-se em poemas, trocaram livros e dedicatórias. Cabral comentava os poemas da amiga e O livro cigano mostra uma clara influência da escrita cabralina sobre Sophia de Mello Breyner. Também sei que Eugénio é um admirador da poesia do nosso pernambucano e seria possível traçar um quadro de convergências na poesia de ambos. Não pretendo ensaiar aqui um estudo aproximativo, e se sublinho alguma vizinhança fora do âmbito da minha poesia é apenas por uma espécie de vício crítico. Voltando ao círculo restrito que me inclui, penso que estes três poetas orientaram-me para um certo materialismo e para um realismo solar. Como poeta, eu não conseguiria, por temperamento, aproximar-me da poesia desejadamente incômoda de Cabral. Sua materialidade áspera e cortante, sem dúvida esplendorosa, definitivamente não me serviria. Estou mais próximo da delicadeza de Eugênio e Sophia. Mas, nos três, encontrei o rigor construtivo casado à emoção.
Também preciso consignar que, ao lado destas três referências fortes, o poeta que mais me ensinou o ofício da poesia foi Drummond. Quando aluno de graduação e de mestrado em Letras, li e estudei em várias oportunidades a sua poesia, orientado pela extraordinária professora e ensaísta Marlene de Castro Correia. A manipulação dos ritmos, das repetições, as alternâncias de tom, a variação de registros, as múltiplas vozes e outros recursos utilizados extensamente e magistralmente por Drummond eram vistos e pensados, pesados em relação com a reflexão que os poemas propunham. E penso não haver dúvidas de que a poesia drummondiana, neste sentido, é mais rica que a daqueles três poetas. Digo mais. Em língua portuguesa, só Pessoa ombreia com Drummond. Este aspecto do aprendizado formal foi fundamental para mim, que sou, por gosto, um poeta-trabalhador. Mas se pudesse eleger uma poesia como padrão, vislumbrada timidamente numa espécie de utopia íntima, esta seria a de Manuel Bandeira, pois penso que ela congrega todas as qualidades que me atraem neste ou naquele poeta, neste ou naquele pintor.
RN: Contribuindo para o desmoronamento da antiga crença de que construção teórica e criação poética não caminham de mãos dadas, você personifica o exemplo do poeta, profissão: professor. Não é algo muito comum no território acadêmico. Como você concilia sua atividade acadêmica com a produção ensaística e a criação poética?
EF: Não faço qualquer esforço para conciliar estas coisas, simplesmente porque isto não me parece necessário. Para mim, ao contrário, elas fazem parte de uma coisa só: a poesia. Dar aulas de literatura brasileira é um modo de estar próximo da poesia. Escrever ensaios sobre outros poetas tem esta mesma dimensão. Estou sempre lendo, escrevendo, falando sobre a poesia, poemas e poetas. Mas devo dizer que não gosto, absolutamente, da idéia de que hoje a poesia vem sendo feita por professores e/ou universitários. Penso que é melhor para a poesia estar livre. Não porque a academia possa lhe fazer mal. Sinto bem o contrário disso: a poesia e os poetas devem muito à Universidade, pois ali se formam críticos e leitores. Ela é um centro de recepção e divulgação extraordinário e insubstituível. Mas penso que a poesia deve ser lida e escrita por todos. Sua força está, repito, na liberdade, na amplidão. O verso não é uma especialidade, um artefato técnico sob controle de alguns estudiosos. O professor tem uma função, e seu papel não deve se superpor ao do criador.
NOTAS
[1] FERRAZ, Eucanaã. Martelo. Cit. 1997. p. 20.
[2] SECCHIN, Antonio C. Jornal do Brasil. 2002. p. 4.
[3] CANTINHO, Maria J. “Desassombro”. 2001.
[4] SECCHIN, Antonio C. Op. Cit. 2002. p. 4.