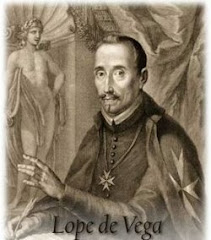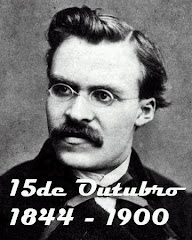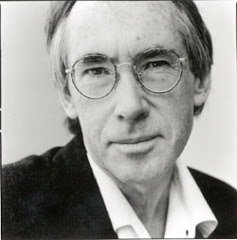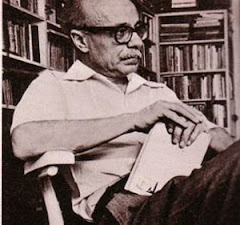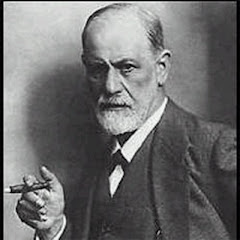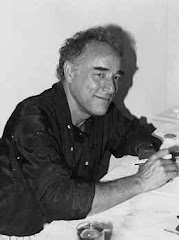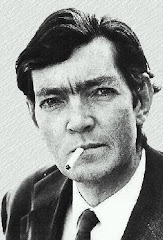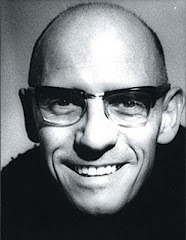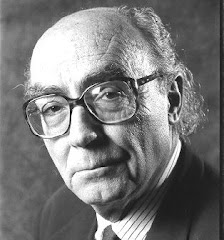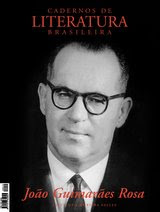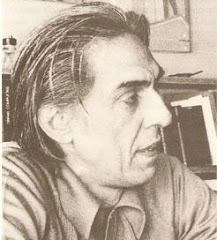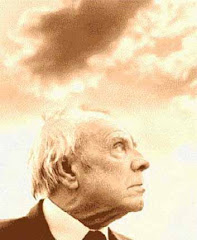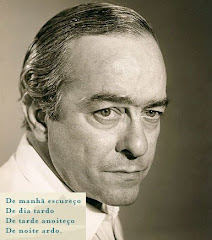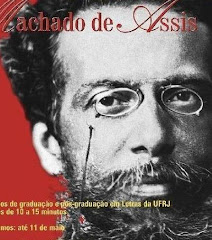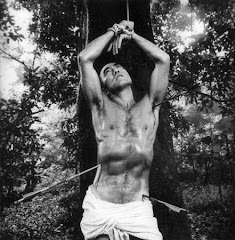.
.
Texto publicado no Forum de Literatura Brasileira Contemporânea, UFRJ, 2007
.
A Inscrição Identitária na Pós-Modernidade
Impressões Digitais
O presente ensaio levanta algumas questões acerca da identidade na literatura contemporânea, e tenta inscrevê-la com base na leitura do livro A céu aberto (1996) – 7º romance do escritor gaúcho João Gilberto Noll.
Nosso aparato teórico elege as idéias de Stuart Hall e Homi K. Bhabha, dentre outros, partindo da noção de que, na pós-modernidade, as identidades encontram-se em crise e que, como adverte Hall, o sujeito contemporâneo é composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas
[1]. Tal assertiva parece sintonizada com a fala do narrador de
A céu aberto, ao admitir-se constituído de
pequenas necessidades quase sempre contrariadas [2] .
A leitura dessa travessia contraditória e contrariada ocorre num contexto demarcado pela supremacia de uma cultura calcada no sentido da visão, em detrimento da oralidade. Essa cultura do olhar traz em seu bojo uma forte reverência ao corpo como instrumento do saber e da informação, e pode ser expressa no discurso por vezes incrédulo do narrador:...
sentia sim no meu corpo inteiro uma descrença brutal em tudo o que eu passara a ver...[3].
Uma certa lucidez da forma aflora do discurso desse narrador e da sua ação do olhar. Conectado a essas questões do olhar e da forma, A céu aberto estetiza uma realidade que, de tão completamente estetizada, tende a esvaziar o signo estético; o que sugere vivenciamos, nesse início de milênio, uma espécie de grau zero da estetização.
Nesta cena estetizante, o signo imagético descarta as tentativas de reinvenção do belo, de resgate do sublime; o escrevente (Barthes) perde a aura de gênio, de grande espírito (Jameson) que pairava no Romantismo e mesmo em alguns segmentos da nossa modernidade tropical. Esse escrevente, assim como o narrador de A céu aberto – sem aura nem ideologia – inscreve-se num contexto caracterizado pelos deslocamentos de centros e discursos, deslocamentos esses sugeridos pelas novas demandas do sujeito contemporâneo.
Além dessa descentralização, outros elementos caracterizam este contexto: a construção de uma subjetividade maquínica produzida pelos processos virtuais e pelas tecnologias da inteligência; a construção de um saber baseado na simulação, na virtualidade; a consciência da estrutura móvel e mutante das identidades contemporâneas (claramente assumida pela voz que narra:
...quando voltei a vê-lo ainda em plena guerra ele já era outro...[4]) e a convivência com homens traduzidos – aqueles que romperam fronteiras “naturais”, adquirindo uma cultural formação híbrida e uma identidade não menos. Típica do narrador de
A céu aberto.
Vivenciando essa estrutura móvel e mutante da identidade no atual contexto, o sujeito contemporâneo perdeu a ingenuidade e a crença em Dona Moral. Seu sonho não evoca nenhuma Pasárgada para onde ele possa evadir-se. Do Império do Sentido já não espera, esse sujeito, nenhuma senha dada de antemão. Como saída, ele aposta na estetização do sujeito. Mas, num tempo no qual a noção de valor e o conceito de arte parecem suspensos ou em aberto, como lidar com o discurso e suas representações simbólicas em narrativas como A céu aberto?
Explorando ao máximo os recursos imaginários e o sentido da visibilidade, rompendo com os padrões lingüísticos e as noções de gênero, o autor revela que escreve motivado por uma dor vivenciada “organicamente”. A partir disso, seu objetivo estético é bastante definido, como elucida sua na
Folha de São Paulo (08/07/93):
O que me interessa na ficção é essa destilação de algo que ultrapasse a ação. A pele poética do texto ficcional é aquilo que de alguma forma redime essa canga da ação que é colocada no pescoço do narrador.
A partir desse desejo de redimir a “canga da ação” imposta a quem narra, Noll erige narradores múltiplos e constantemente deslocados, ajudando-nos a ler e reconstruir o imaginário do nosso tempo. Na pele poética de sua prosa parece impossível capturar sentido, delimitar roteiro, caracterizar personagem ou mesmo demarcar um foco narrativo preciso. Resta-nos cartografar o espaço – real ou imaginário – no qual esse narrador-protagonista vivencia sua odisséia no campo de batalha, por mares ensolarados,
...cobertos de neblina, por rios os mais variados..., naqueles países ou cidades que apresentavam menos perigo para expatriados como ele [5].
E de qual tempo trata Noll? Qual dimensão temporal prevalece num texto no qual, por vezes, os verbos conjugam-se – num mesmo parágrafo – em tempos ou mesmo em pretéritos diferentes? Será que a imaginária odisséia dessa personagem efetua-se, feito a de Ulisses, num único e vertiginoso dia, ou estende-se por dias, meses, anos, como no trajeto memorialístico de Riobaldo? Não importa. Seja em qual tempo estiver, o narrador de A céu aberto viaja. Desloca-se. Cruza fronteiras entre o referente, o imaginário, o onírico e o virtual. Ele já não funda algo novo porque não crê na noção de fundamento. Como viajante, relê os signos de sua travessia, na busca de inscrever-se.
Feito os sobreviventes dos
Cenários em Ruínas [6], o narrador percorre sua deriva no vazio, sem o menor dramatismo. Assim, ele converte toda angústia em pura indiferença. Estruturado sobre esses sentimentos, revela:
...fui me aproximando pisando o medo de uma perna e a indiferença de outra... [7]. Mas, olhando bem, até que nem é tão indiferente assim... Dependendo do espaço, o narrador arrola outras palavras. Nas novas imagens que lê, parece procurar o verbo que deseja narrar. Busca livrar-se da escravidão – no sentido de não possuir um discurso verbal –, e por isso refaz, desterritorializado, um percurso imagético de onde recolhe fragmentos sonoros, de olho na paisagem mutante. De passagem, assume:
... a céu aberto arranco de mim um destemor e corro... [8]. Destemido e veloz, esse narrador transita por múltiplas fronteiras e cria possibilidades outras de leituras. A que faremos a seguir é apenas uma dentre as muitas sinalizadas pelo texto. Tipo um 3 x 4 da identidade de quem narra.
O 3x4 da fotografia
Se nos guiarmos pela estrutura poética da epígrafe –
Foi ontem à noite. Aqui estou e seja em mim esta manhã –, tudo parece se passar num único e vertiginoso dia. Mas nada podemos afirmar: escrevemos sob o signo do descentramento. Signo do deslocamento de um espaço-tempo nos quais lemos uma sensação de desorientação, um distúrbio de direção
[9] que impossibilita a localização de um espaço ou centro determinados.
Adentrando o texto, uma Escola do Divino questiona a beleza de Deus e a possibilidade de contemplação dessa beleza. Nada mais contemporâneo que esse começo: rememorar o eco dos fonemas divinos em meio a humanos (embora nem tanto humanísticos assim) fragmentos visuais. Nessa Escola do Divino inscreve-se a letra que busca suprir a falta, reler a narrativa da queda (O Gênese e Camus), a nossa condição provisória frente a um real cujo acesso só pode ser mediado por metáforas – como nos ensina a lição nietzscheana, ao lecionar a morte de Deus.
Morto Deus e o conceito de plenitude do Eu, resta ao sujeito vivenciar sua humana condição de busca. A perene busca do outro. Se todos os reflexos de um Eu pleno – que vislumbrava sozinho a si mesmo – foram apagados, cabe ao narrador apostar na dimensão da alteridade, de um outro que
[10] ...olhará com tal desfaçatez o que eu mesmo não posso ver em mim que chegarei a qualquer coisa como um soluço um arroto um arrepio.
Para chegar a isso, o narrador opta pelo olhar alheio e diz: De mim é tudo tão incerto... ...ainda não sei que idade me dar... Ele sabe apenas que através do outro – seu olhar, sua linguagem –, a inscrição identitária torna-se viável. Mesmo que essa viabilidade seja construída por roteiros meio tortuosos... Feito o roteiro da peça que uma personagem escreve sobre dois idiotas que se encontram uma noite. Trata-se da história de um sujeito que perdeu a memória de si mas guarda na mente todos os acontecimentos do mundo... O outro, o contrário: não tem memória do mundo, mas seu arquivo emocional é vasto.
Os dois falam tanto sobre seus fluxos próprios de memórias que jamais coincidem verbalmente. Uma outra personagem tenta apartá-los e termina lambendo as manchas da urticária que toma conta da pele de ambos... O mais interessante é perceber que de tais manchas – tipo memórias da pele – emana uma força inusitada para quem as lambe... Essas manchas a partir das quais a terceira personagem ganha força, surgem como metáfora de uma possível implosão lingüística do sujeito sem fala. A impossibilidade ou contenção da fala as elabora, tensionando uma situação que só se resolve via linguagem verbal... Se bem que a narrativa cobra, além dessa linguagem, ...um fato tão ostensivo na sua crueza que nos cegue nos silencie e que nos liberte da tortura da expressão...
[11]
Esse desejo de expressar-se e inscrever-se através do outro é expresso por Bhabha
[12] da seguinte forma:
O desejo pelo outro é duplicado pelo desejo na linguagem, que fende a diferença entre eu e outro, tornando parciais ambas as posições, pois nenhuma é auto-suficiente. Consciente dessa problemática, o narrador ouve atento o sujeito com o qual interage lendo, no outro, seu deslocamento, a falta de sintonia. ...
existia como que uma membrana entre o seu entendimento e as minhas palavras..., ou ainda:
...o seu olhar não palpitava como quando se tem curiosidade pela expressão alheia, parecia retilíneo como uma seta ao encontro da minha fala...[13] O narrador procura não dramatizar demais esse lance de guerra e do desejo de sintonia com a alteridade. Num acesso romântico exagera no sentimentalismo e, na relação com o outro, procura um sinal que possa salvá-lo... de sua própria existência e assim pudesse salvar a si mesmo...
Cônscio ainda de que essa salvação não acontece pela via da semelhança, já que esta pode embaçar ou deformar sua leitura, o narrador avisa que no campo de batalha não há espelho. Na cabine do navio no qual ele viaja – como homem traduzido – também não entrava espelho, já que o borgeano comandante não suportava os espelhos porque o deformavam todo... Resta o desejo do sujeito que vivencia a diferença, buscando garantir uma vida fora do espelho.
Perdida a referência narcísica e chegado o fim da individuação, resta-nos o problemático e sedutor exercício da alteridade. O sujeito inscrito a partir de outra face. Uma face na qual o olhar – o sentido mais requisitado na contemporaneidade, e não a audição que engendrava a literatura nos seus primórdios – indaga, questiona, constrói. Olhar que solicita roteiros a serem construídos: tudo nele me pedia um caminho – reconhece o olho de quem narra.
Referindo-se a essa necessidade de reconhecimento da diferença, o narrador afirma e indaga:
é disso que somos feitos, de precisar, precisar, não ouviu essa história ainda não?[14]A história contemporânea tenta dar conta da inscrição dessa diferença, procura inscrever a identidade fora das filosofias metafísicas de auto-suspeição, nas quais um eu permanentemente angustiado parecia prisioneiro de si mesmo. Sobre essa problemática diz Bhabha:
[15]
O que permanece profundamente não-resolvido, até rasurado, nos discursos do pós-estruturalismo é aquela perspectiva de profundidade através da qual a autenticidade da identidade vem a ser refletida nas metáforas vítreas do espelho e suas narrativas miméticas ou realistas.
Rasuradas essas narrativas verticais, resta a inscrição da letra, a pedagogia do olhar. Resta a sombra do outro que tomba sobre o eu, que delineia a face, e engendra a identidade de quem lê ou narra. Acerca do tempo e do espaço nessa narrativa trataremos a seguir, atentando para a projeção de uma outra ordem de vigília, a partir da qual o narrador projeta sua identidade.
.
do tempo
O exercício da alteridade requer um olhar adulto que releia o pretérito, desvelando a ingênua harmonia e o sentido de plenitude predominantes no passado. A partir disso, o narrador projeta-se existencialmente. Essa releitura do pretérito é feita através de um jogo de diferenças, de uma justaposição de elementos, gerando uma multiplicidade de idéias.
Impossível de realizar-se na ausência do outro, quem relê inscreve-se feito um moto contínuo, em permanente transformação, levando em conta um devir que parece necessitar mais de atenção e menos de julgamento, mediante o que anuncia de possibilidade e potência. Um devir sintonizado com a construção de um tempo futuro no qual o sujeito lê-se pertencendo a outra esfera que não requeresse saudades ou cuidados ou culpas.
[16]
A construção desse futuro está diretamente relacionada às experiências de ordens natural e social presentificadas pelo sujeito. Acerca dessa relação entre o devir e o tempo presente, ouçamos Norbert Elias
[17]:
... a noção de presente caracteriza a maneira como o tempo é determinado por um grupo humano vivo e suficientemente desenvolvido para relacionar qualquer seqüência de acontecimentos - seja ela de ordem física, social ou pessoal - com o devir a que esse mesmo grupo está submetido.
Embora possamos relacionar esse devir ao presente vivificado pelo narrador, imaginamos que sua viagem como instância de construção identitária aponta roteiros atemporais. Estes, tanto podem resgatar fragmentárias imagens que remetem às raízes do narrador, como anunciar os signos captados por suas antenas. Nas raízes, prolongam-se as imagens de um passado que retorna relido, modificado, deslocado; nas antenas, imagens das próximas performances.
Entre os fragmentos metonímicos que apontam o futuro e as imagens metafóricas que remetem ao pretérito e suas noções de plenitude, o sujeito contemporâneo inscreve-se. Como diz David Treece – tradutor de Noll para o inglês –, referindo-se aos seus personagens, não se procura nem se encontrará uma identidade estável, essencialista, alicerçada em raízes biográficas. Trata-se, na verdade, de uma identidade que não se define biologicamente, mas como algo que é formado ao longo do tempo, e diz dos processos imaginários que a compõe. Segundo Hall,
a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.
A leitura de Hall nos conduz a pensar que as identidades não só incluíram o imaginário no seu processo de inscrição, como se voltaram mais para o particular, o que está mais próximo, na busca de resgatar a diferença. Trata-se, portanto, de projetos identitários atentos à questão da movência e da multiplicidade; projetos esses jamais fixos num espaço único, pré-determinado.
do espaço
A dimensão espacial é outro elemento pertinente na inscrição desta identidade. Na narrativa de João Gilberto Noll, essa inscrição se dá num espaço de rupturas e violências (o campo de batalha, o rompimento de fronteiras...), no qual a subjetividade de quem transita é constantemente confrontada com a identificação mutante do outro e do próprio espaço. ...nas ruas ninguém oferecia um olhar desinteressado... , registra a visibilidade do narrador.
Ele constata ainda a relevância do espaço na inscrição do sujeito, ao perceber numa personagem – o filho de Artur – uma tristeza no olhar que ganhara com certeza na Suécia. Nesta dimensão espacial, o sujeito pode constatar a sobrevida de uma pulsação perigosa e assumir: há um descompasso entre mim e as coisas, ou ainda: ...eu quero é me apagar... . Desejo esse que é repetido frente a chuva que cai, no pedindo para que ela – a chuva – o apague do mapa.
Perante o perigo, o descompasso e o desejo de apagar-se, o sujeito pode também resolver seguir a vida com as rédeas curtas de sempre, não alterar plano algum,
morrer no fim do dia... [18]. Mas poderá ainda – nesse mesmo espaço – apesar das rédeas, reconhecer a potência de uma alegria tão insana a ponto de chorar de dor... ou revelar o desejo de plantar num campo que precisasse de sua mão para ser cultivado.
No campo de batalha que serve de cenário para a narrativa de Noll, mesmo os elementos naturais dialogam de forma conflituosa com o narrador, sugerindo sua porção romântica:
...aquelas sombras ondulantes me dominavam os olhos por longo tempo de tão perturbadas que pareciam estar, diz o narrador ao contemplar o céu. Para ele, as árvores não possibilitam melhores impressões: suas sombras ...eram cínicas e ofereciam sua aparência para fazê-lo penar.
Sentindo súbitos frêmitos e palpitações noturnas, o narrador decide enfrentar, num exercício de busca pessoal e de forma sinestésica, as sombras da paisagem. Ao encará-las, parece contatar as suas interiores áreas sombrias
[19]:
...trespassei com minha mão uma dessas sombras ondulantes e só eu sei o quanto eram quentes, quase a ponto de queimar. Um deus profano ria de mim, da minha ignorância, e eu precisava encará-las com força e temperança para que começassem lentamente a se esquivar do meu olhar.
A sintonia com a mãe natureza parece mesmo quebrada. Até o barulho de um riacho revela-se em certos instantes inoportuno, como se ferisse o sono dos demais e a solidão do narrador que não engana: o ruído produzido pelos grilos marcava o ritmo essencial para a sua subsistência noturna. E apesar dessa problemática com o espaço no qual se situa, o narrador assume:
a céu aberto tudo me abrigava melhor do que numa casa...[20] Ao ler os signos componentes desse espaço, ele objetiva a construção de uma outra sintaxe existencial que não descarta o descompasso nem desdenha a diferença.
Principalmente a leitura da diferença – através da interação com o outro –, parece ser necessária e às vezes conflituosa. Tudo me chama como se me quisesse chupar para uma força dissoluta, desabafa o narrador, assumindo seu conflito ao vivificar a dimensão espacial:
Dou demais de mim a cada chamado de fora... Ou:
... eu era confuso, o mundo me atordoava, eu vivia sob a suspeição de uma conduta convulsiva... [21] Torna-se imperativo ressaltar que esta estetização da existência aponta geralmente para uma possibilidade performática e, entre o sentir dilacerado e a performance encenada, o narrador contemporâneo opta geralmente por essa última.
assinatura do titular
A leitura feita por Regina Céli acerca da obra de João Gilberto Noll evidencia, a partir do título, os signos utilizados pela autora para fundamentar seu ato de ler: Vampiros com dentes cariados. Utilizando-se da metáfora do vampiro para ler as personagens nollianas, a autora sugere uma série de aproximações entre ambos, a partir das quais tecemos, entre os vampiros e os narradores de Noll, seis propostas: o trânsito entre múltiplos espaços, o predomínio da visibilidade sobre os demais sentidos, o exercício da arte da sedução, a ambigüidade sexual, a ação de reler os signos a partir de outros espaços e o riso. Dessas conexões tratamos a seguir.
1- O trânsito entre múltiplos espaços
Sejam reais, simbólicos ou imaginários, os vampiros transitam por espaços urbanos, rurais, marítimos, virtuais. Eles aprontam no “pedaço”, “navegam” na internet. Habitam os castelos mais coloridos, lêem as cidades, suas ruas. Transitam entre o clima da paisagem agrária (o campo de batalha da narrativa) e o espelho quente do asfalto da metrópole, seus campos de batalha. Vampiros viajam nas entranhas dos navios que navegam sobre os mares.
Como naquele espaço à beira do mar aberto, antes estetizando por Caio Fernando Abreu em Os dragões não conhecem o paraíso, o narrador de A céu aberto desloca-se ....numa clausura toda enferrujada de maresia, gelada muitas vezes, com as paredes descascando de umidade, ... tendo um sobressalto quando aparecia uma ave sobre o mar...
Seja no navio, no mar, no castelo ou no campo de guerra, o narrador inscreve no espaço o desejo de seres que vivem numa dimensão intermediária, transformando esse espaço em habitat de vampiro
[22]. Ouçamos a voz que narra por entre tendas alagadas no campo de guerra, e pulsa em sintonia com o cenário:
Tudo pulsava ao redor. ... as tendas em geral como que queriam se comunicar, algumas davam a clara sensação de arfar. E não era conseqüência do vento.
[23]
2 – O predomínio da visibilidade sobre os demais sentidos
O olhar é o sentido que relê o espaço, construindo uma sintaxe entre elementos externos e materiais (seres, máquinas, paisagens...) e elementos internos (sentimentos, desejos, memórias...), como demonstra a voz que narra: O meu silêncio pedia que eu olhasse comprido para o horizonte onde mais uma fumaça escura e grossa se evolava e meditasse...
Percebemos que mesmo o processo interno da meditação é vivenciado pelo narrador em sintonia com o espaço que aciona sua visão. Visibilidade essa que se estende à leitura de outros reinos, tipo este: ...
e o que se dá se dá de graça como costumo ver no olho do lagarto a me olhar com um feitiço que ele jamais soube reter na lembrança, um olhar feito de instantâneos compridos quase eternos...[24] . Eternos que nem vampiros... que fitam lagartos, namoram as coisas e devoram os homens...
3 - O exercício da arte da sedução
Para exercitar o desvio que aciona a sedução, o narrador-vampiro chega a ruminar pedaços de canções que nasciam do ronco de suas vísceras. Além disso, a metamorfose corporal do vampiro permite que ele vivencie múltiplos movimentos... Mas, em
A céu aberto, outros são os takes sedutores de quem narra. Mediante uma “alimentação” que surge sem garantia de aplacar a fome, embora com possibilidade de amenizá-la, o narrador dela faz uso acionando suas artérias. É o que reza essa sua forma de aproximação com o mundo
[25]:
Isso com certeza não me afastava propriamente a fome nem muito menos saciava, mas deixava a minha matéria preparada para quando eu precisasse me aproximar do mundo e tirar dele algum sustento ou ação.
“Preparar” a matéria, acionar a artéria... ...E o tom muda (ora manso, ora impetuoso ou exaltado) quando a vítima (a matéria, suas artérias) é o alvo certo para matar a fome vampiresca. Ouçamos a tonalidade do narrador
[26], a interrogação conivente, o argumento certeiro na metáfora da árvore que espera o vento para poder balançar, criar ritmo, conviver...
...para que entender o sentido das tuas palavras, para que chegar até a última frincha do teu pensamento... para quê? Vem, vem para o meu lado na noite ali na boca do bosque que você aprenderá a escrever o melhor teatro do mundo... a voz do teu teatro soará tão límpida quanto a galharia daquela árvore ali que espera pelo vento para poder se balançar
Assim como o procedimento da vampiragem, o discurso narrativo não faz distinção entre gêneros, entre sexos. Através da voz acima, ouve-se um argumento sedutor direcionado ao ouvido do teatrólogo – o filho de Artur, com quem o narrador “encena” o balanço da árvore ao vento.
4 - A ambigüidade sexual
A sexualidade do narrador é vivificada num processo de vampiragem, através do qual suas “vítimas”, ou ele próprio, são literalmente devorados. Isso pode ser aferido no tom vampiresco do seguinte discurso
[27]:
...como um larápio que foge de roldão na primeira oportunidade que encontra de sair das sombras, sim, é disso que sai meu beijo, desse ímpeto à espreita da primeira oportunidade de bote certeiro ... beijo que morde...
O recorte vocabular desse texto remete-nos ao universo vampiresco, ao estetizar semas como sair das sombras, bote certeiro e beijo que morde. Mas o cunho vampiresco do discurso torna-se mais evidente logo a seguir, quando o vampiro “carrega” no beijo: ...um beijo em cuja extração vai um pouco de mim me restaurando um tanto, um beijo que morde, ele repete.
Nesse beijo, nessa busca, incluem-se as ambíguas experiências sexuais vivenciadas por um ser para quem os rótulos de heterossexual ou homossexual parece não dar conta de sua dimensão desejante. Sobre isso diz David Treece – o tradutor de Noll para o inglês –, ressaltando nas personagens de A fúria do corpo (1981) e A céu aberto (1986) uma flutuação da identidade sexual enquanto expressão das possibilidades múltiplas e heterogêneas.
Vivificando fala e silêncio, guerra e paz, palavras e coisas, dor e desejo – bruta flor da qual emanam olores e tonalidades várias – o narrador expõe seu fluxo a partir da diferença, elegendo as conexões entre o masculino e o feminino como signos dessa multiplicidade desejante. Nesse universo de imagens afetivas, fitamos o narrador em cenas de sexo explícito, como a seguinte:
Uma noite levei uma fulana para foder no feno mixuruca do paiol, uma noite em que o cheiro de cio andava mais ativo... essa fulana... desmaiou nos meus braços, eu a depositei sobre o feno, me desabotoei, deitei sobre ela, puxei a saia para cima, lembro que quando botei a mão no pentelho dela foi como um choque elétrico... dei um beijo fundo nela e ela voltou dos desmaios...
A fulana é apenas um dos objetos de desejo do narrador. Também a mulher até então enterrada no corpo do irmão do narrador revela-se, fazendo este assumir: ...o meu irmão me atravessou calando a minha história. Os personagens vivem instantâneos de uma delicadeza elegante, nos quais gestos suaves e ritmados conferem ao inusitado da transformação uma aura meio barroca porque profana e religiosa.
Da leitura dessa aura resulta o discurso do narrador:
... esse irmão havia de fato existido com sua própria face, tornando-se de repente apenas uma imagem turva para que a face de minha mulher pudesse reinar... A ambigüidade da relação vivenciada com seu irmão (sua mulher) é intensificada em outro tipo de envolvimento sexual que exclui o signo feminino
[28]:
...eu espalmei a mão na bunda do garoto, ...o pau entrou de um golpe, o rapaz berrou, a cotovia a coruja o quero-quero carpideiro, tudo isso respondeu aos berros, esqueci não quis saber só tinha ouvidos para o meu próprio ronco, côncavo, interno, avarento, miserável e só.
Com base nessa solidão o autor abre desejantes veredas a partir das quais o narrador vivencia o seu desejo vampiresco. As falas seguintes dão conta dessa ambigüidade do narrador-vampiro, ao eleger o teatrólogo acima seduzido e a mulher do narrador como personagens das próximas cenas:
...dele a minha nova proteína ...ele o meu novo Deus agora que o comi... ...mesmo com a sangria toda ele tinha gostado, achava que minha mulher gostaria de ver eu comê-lo inteirinho... A mulher é a personagem na qual ele injetara mais líquido nas entranhas...
5 - A releitura dos signos a partir de outro espaço
O narrador possui marcas de espaços cujos signos se encontram saturados; o que impossibilita novas leituras. Daí sua perene busca a céu aberto. Daí sua relação vampiresca com os espaços nos quais ele habita. Referindo-se a Anne Rice e sua leitura acerca do vampiro, Regina Céli diz que o homem se transforma num vampiro quando não consegue mais vislumbrar um sentido para a vida, quando não consegue mais alimentar-se com os signos do mundo, ou seja, quando estes perdem, para ele, a significação.
Esta leitura nos faz perceber que o processo da vampiragem se dá pela saturação do signo, seu esvaziamento. Uma das saídas para essa saturação de imagens e sentidos pode estar na produção da linguagem, na estetização da narrativa, na própria língua. Em A céu aberto, uma das justificativas da guerra dá conta da existência de um totem sob o qual estaria enterrado um sujeito que cortou a língua de um velho guerreiro... que não morria por não conseguir parar de falar, ele falava o tempo todo, não dormia, não enunciava uma única vez o nome da morte, não dava um segundo para que ela sequer se insinuasse, e assim o homem ia envelhecendo...
Nesta narrativa do velho vampiro que não morria a língua é, além de motivação para a guerra, um código fonético e morfológico. Código através do qual o indivíduo elabora sua sintaxe, seu discurso, produzindo uma linguagem que sinaliza sua identidade.
Apesar de constituída num sistema sujeito a regras e classificações (daí o seu teor opressivo, ensina a lição de Barthes), a língua abre-se, ao ser estetizada, à produção de uma linguagem híbrida. Nesta, vocábulos e semas de outros espaços e suportes culturais são introduzidos, tornando permeáveis e deslocados os discursos do narrador. Se o processo de repetição satura o signo, é através desse mesmo processo que o signo renasce. Pois somente repetindo-se é possível o seu reconhecimento, e novos significantes podem ser narrados:
...como se a repetição em surdina fosse uma espécie de mantra que me redimisse da inutilidade absoluta em que me convertera...
[29]
- Do riso
Relido o signo a partir de outros espaços, o narrador caminha para o final de sua narrativa ainda procurando a inscrição de sua identidade. Reencontra a mulher de quem foge após cenas e juras de amor. Reconhece que precisava afastar-se de sua identidade, e embarca num navio que viaja com foragidos da guerra, e no qual ele – o narrador – torna-se escravo sexual de um comandante cinqüentão.
Ao romper fronteiras territoriais, lingüisticas e comportamentais, nosso narrador transformou-se num homem traduzido, assumindo sua “tradução” na narrativa do navio: eu era um miserável desertor sem bandeira de nacionalidade... Depois de muito tempo olhando mares e marinhas, é a seguinte a visão desse homem traduzido
[30] :
Eu me acostumara a ser um homem cheio de desejos furtivos e tudo em volta de mim parecia de um ímpeto nunca ter estado tão exposto... como se esse mundo de fora tivesse até ali amontoado massas, volumes, formas monumentais feito as daquele navio, embora tudo nele viesse se deteriorando a olhos vistos...
Depois dessa leitura das formas (que nos remetem à visibilidade da concretude aristotélica), o narrador vê despontar o porto de Maia – espaço idílico no qual a polícia dorme debaixo das figueiras, tornando-se local ideal para homens traduzidos como ele. Aqui, enquanto o comandante dorme, ele foge do navio e perambula pela cidade ao sabor da leitura de novas imagens e dúvidas recriadas.
Como sobreviver neste novo espaço se a única profissão que ele assumira fora, como vigia, a de olhar? Ao ver um terreno baldio, o homem exercita-se. Corre em círculo, salta, ajoelha-se. Beija a terra. Sente um novo impulso do nada... Depois do exílio marítimo, reconhece que precisa aprender como chegar às pessoas de novo... E pela primeira vez seu discurso muda de tom: Eu estava feliz. Um sentimento misto de encanto e abnegação, sei lá... Eu era um homem bonito. Gostava do meu porte ao andar. Dei alguns passos suspeitando que na minha pessoa havia uma missão.
No quarto do hotel onde se encontra com uma puta, o narrador assume uma consciência extremada de como as coisas se mostravam no espaço; percebe uma lucidez das formas. Parece encontrar-se na passagem do estado bruto da vida para uma espécie de existência mais difusa e elementar. Mesmo que próximo ao hotel o prédio policial esteja em chamas e possa haver passos ríspidos ao redor, ainda assim dá para perceber, ouçam:
[31] de tudo vêm uns laivos de engraçado, olha só... Eu podia aprender a rir no que me faltava de tempo. ...Rir, dar uma boa gargalhada como se estivesse a céu aberto, logo ali, perto do mar.
A céu aberto: uma alegria difícil, mas alegria como senha. O nome do riso: a identidade que se constrói à beira do mar aberto.
BIBLIOGRAFIA
BHABHA, Homi K. “Introdução”, “O compromisso com a teoria” e “Interrogando a identidade” in O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila et al. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998..
ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva/Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A editora, 1997.
NOLL, João Gilberto. A céu aberto. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
PEIXOTO, Nelson Brissac. Cenários em Ruínas. A realidade imaginária contemporânea. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1987.
RESENDE, Beatriz. “Dissolução de fronteiras: os estudos literários hoje” in Comunicação e Cultura Contemporâneas. Org. Carlos Alberto M. Pereira et al. Rio de Janeiro: Ed. Notrya, 1993.
SILVA, Regina Celi Alves da. Vampiros com dentes cariados: A literatura neodecadentista de João Gilberto Noll (Impressões de uma leitura ótica). Tese de Doutorado em Teoria Literária. UFRJ, 1999.
TREECE, David. “Prefácio” in
João Gilberto Noll Romances e Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1997
NOTAS
[1] HALL, Stuart.
A identidade cultural na pós-modernidade. 1997. p. 12.
[2] NOLL, João Gilberto.
A céu aberto. 1996. p. 17.
[3] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 63.
[4] NOLL. Op. Cit.1999. p. 61.
[5] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 142.
[6] PEIXOTO, Nelson Brissac.
Cenários em Ruínas. 1987. p. 221.
[7] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 63.
[8] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 57.
[9] BHABHA, Homi.
O Local da Cultura. 1998.
[10] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 12.
[11] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 101.
[12] BHABHA. Op. Cit. 1998. p. 84.
[13] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 41.
[14] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 18.
[15] BHABHA. Op. Cit. 1998. p. 81.
[16] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 50.
[17] ELIAS, Nobert.
Sobre o Tempo. 1998. p. 63.
[18] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 42.
[19] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 83/84.
[20] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 102.
[21] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 122.
[22] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 144.
[23] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 55.
[24] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 105.
[25] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 54.
[26] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 119.
[27] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 68.
[28] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 105.
[29] NOLL. Op. Cit. 1999. p. 58.
[30] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 152.
[31] NOLL. Op. Cit. 1996. p. 164.