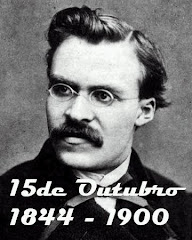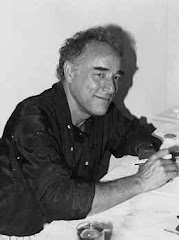.
.
.
Mário de Andrade e Câmara Cascudo no RN
Texto escrito a partir de uma monografia acadêmica produzida no curso de doutorado “Protagonistas e Coadjuvantes da Modernidade”,UFRJ, 2000.
“o ensaio como exercício da escrita”
Em 1999, ao responder a uma enquete do Jornal do Brasil, o escritor João Gilberto Noll disse estar lendo “muito Walter Benjamin”. Segundo o autor de A céu aberto (1996), ao revelar uma voz “quase” “ficcional”, o texto do ensaísta e pensador alemão “substituiu um certo tipo de romance que anda meio escasso”.
Assim como Noll, Benjamin escrevia “sob o livre céu de Deus”[1]. Por motivo dessa sintonia, ele talvez gostasse dessa outra percepção literária do final do século XX: um escritor contemporâneo dizer da “substituição” da voz romanesca pela voz ensaística de tom “quase” “ficcional”.
Apesar de o gênero ensaístico nascer com Montaigne e seus Essais (séc. XVI), trazendo em si um forte traço subjetivo, a historiografia das formas literárias jamais associou o ensaio aos gêneros nobres. O ensaio surgiu como texto curto, miscelânea, escrita pessoal. Não teve, por exemplo, a recepção tida pelo gênero romancesco. Embora seja bom lembrar que, da origem folhetinesca do romance até a sua ascensão nos séculos XVII e XVIII, sua história não parece tão “nobre” assim. Um retorno rápido ao contexto do Romantismo alemão, e nos deparamos com a seguinte assertiva de Schlegel: “O contexto dramático da história não faz do romance, de modo algum, um todo, uma obra”[2].
Aqui deste contexto moderno, nossa percepção é outra: longe vai o tempo no qual Aristóteles, com base nas sua idéias de semelhança e imitação, elegia como gêneros constituintes de uma certa nobreza artística “as formas trágicas (a poesia austera)”[3].
Supremacia entre gêneros à parte, o gosto pelo ensaio vem dos primórdios. Em 1583, ao traduzir para o latim os Essais como gustus (de gustare - saborear, provar), o filólogo holandês Justo Lípsio já apostava nessa forma cuja dimensão subjetiva buscava “escutar a si próprio”.[4] A essa dimensão ensaística filiou-se, desde o final do séc. XIX, uma linhagem de autores como Freud, Marx, Benjamin e Barthes, dentre outros, redimensionando a densidade do ensaio e a sua forma leve de expressar opiniões.
Acionada por esses autores, a ruptura da forma ensaística caracteriza-se pela inserção de uma mescla de informações teóricas, junto a experiências existenciais e profissionais. Some-se a isso, as reflexões pessoais e a introdução ao ensaio de um “tom imaginário” (Ana Cristina Cesar.). Fruir e refletir são os verbos conjugados pelo ensaísta moderno. A partir disso, a substância histórica, a dimensão cultural e o aparato formalístico do ensaio ganharam novos “tons”.
Após a ruptura de gêneros patrocinada pela modernidade, o texto ensaístico – aberto a outras formas e dialogando principalmente com a ficção e a filosofia – parece adquirir cada vez mais um estatuto de aceitação em meio aos gêneros considerados “nobres”. Essa aceitação começa a ser mais assumida a partir do surgimento do poeta-crítico da modernidade. Na contemporaneidade, é cada vez mais consensual a idéia de que, assim como o gênero poético ou o romanesco, por exemplo, o gênero ensaístico pode também alçar ao estatuto de obra de arte.
Trazendo para o seu corpus elementos referenciais, reflexivos e imaginários, o ensaio adentra o próximo milênio com uma dicção múltipla. Seus “tons” e timbres remetem a vários contextos históricos /estéticos: às vezes lembram a melodiosa voz narrativa cuja oralidade embalou os narradores anônimos; noutras vezes, os tons ensaísticos reportam ao ápice romanesco cuja linguagem ritmou os iluministas; remetem também aos experimentos modernos iniciados no final do século XIX e radicalizados pelas vanguardas do século XX. Adentrando o século XX, os timbres do ensaio apontam para os tons bruscos, às vezes ásperos e certeiros, herdados dos discursos da contracultura; ou ainda sintonizam-se com a tonalidade de “superfície” da era do virtual, das performances identitárias.
Como o romance, o ensaio tornou-se híbrido e polifônico. Em seu corpus o elemento biográfico, a “memória da pele”, o discurso corporal, a leitura da cidade, os cadernos diários, viagens, impressões cotidianas, as mutações do texto literário, a sala de aula – tudo pode ser incorporado à “arquitextura” ensaística.
Tomemos como exemplo o caso do professor e sua escrita. A articulação que esse personagem desenvolve entre a prática do magistério (a performance da sala de aula) e a produção ensaística (“o ensaio como exercício da escrita”) parece definir, em muitos casos, a forma do ensaio erigida por este personagem – o ensaísta, profissão: professor. Sobre essa relação intrínseca entre o exercício do magistério e a produção ensaística, ouçamos Sílvia Claro. Ao ensaiar acerca da sincronia entre “o ensaio e a aula“ na obra de Antonio Candido, ela diz:
O ensaio falado da sala de aula enseja o ensaio escrito, impresso, definitivo, cristalizado, mas ainda sempre marcado pela ebulição no laboratório da classe. O ouvinte atento da palestra é parâmetro palpável do leitor afastado, longe da vista.
Se o ouvinte presente é “parâmetro” para o futuro leitor e o ensaio pode ser lido como “exercício da escrita”, a aula (e seus elementos) não poderia ser acionada como exercício da forma ensaística? Essa forma é justamente o objeto de cobrança de parte da crítica literária ao ler o ensaio como “produto híbrido”, desprovido de uma tradição formal.
Esta “hibridez” e a descrença desse “produto” enquanto gênero são os elementos ressaltados por Adorno na leitura que ele faz de “O ensaio como forma”. Publicado na década de 50, o texto adorniano tece intertexto com, dentre outros, Nietzsche, Max Bense e Lukács – leitor do ensaio como “forma artística”, e demonstra o elegante exercício da escrita operado pelo pensador da Escola de Frankfurt.
Adorno interpreta o ensaio como “um protesto” contra o sistema de pensamento cartesiano. Sua escrita detona a “intuição intelectual” de Kant e a “transcendência da linguagem” oriunda de Heiddegger, sem remeter sequer às duas principais fontes da tradição ensaística: Montaigne (França) e Bacon (Inglaterra).
E para justificar a discriminação sofrida pelo ensaio naquele contexto, o autor diz da impossibilidade de prescrever “o âmbito” da “competência” ensaística. Acerca do gênero em questão diz Adorno:
Ao invés de executar algo científico ou produzir algo artístico, o seu esforço ainda espelha a disponibilidade infantil, que, sem escrúpulos, se entusiasma com aquilo que outros já fizeram.
Impossibilitado de “executar” algo nos domínios da ciência ou da arte, o gênero ensaístico, na visão ressaltada por Adorno, “espelha” sua falta de maturidade. De quantos olhares diferentes constitui-se a modernidade! Não seria exagero referir-se à falta de “escrúpulos” no caso de alguém criar algo a partir de outrem ou entusiasmar-se com os feitos de uma outra voz?
A leitura intertextual e, às vezes, até os procedimentos da cópia, da citação e da simulação operados por Benjamin, Barthes, Borges e/ou Bakhtin, na modernidade, prescreve no diálogo com o outro – a tradição – uma das possibilidades de re-leitura do texto, do contexto, do próprio cânone literário.
Nessas releituras, Borges – leitor do diário, do sonho e da enciclopédia como gêneros literários – é exímio. Exemplar disso é o seu “Pierre Menard, autor del Quijote”, texto de Ficciones (1941). Neste conto de cunho eminentemente ensaístico, Borges cria um “rol de escritos” que ele define como “um diagrama” da “história mental” de Pierre Menard, seu personagem. Autor do século XX, Menard tenta reescrever o Quixote com as mesmas palavras de Cervantes – um escritor do século XVII. Claro que a empreitada consegue outros intentos, mas Borges evidencia sua crença de que é possível atribuir um mesmo texto a diferentes autores em contextos diferenciados.
O texto ensaístico abre-se a essa re-leitura. Parte sempre de um aspecto formal preexistente (o próprio Cervantes tem nas novelas de cavalaria a forma a partir da qual constrói seu romance). O ensaio refere-se, geralmente, a algo criado a partir de uma forma. Ou seja: o texto ensaístico, na maioria das vezes, nasce a partir de algo que insinua, sugere ou determina, a sua própria formação.
Embora seja cobrado deste gênero uma autonomia formal há, em relação ao ensaio, sempre uma forma a priori. E como as formas são socialmente construídas, podemos pensar que: não apenas em relação ao gênero ensaístico, mas a quaisquer gêneros aos quais o autor submeta-se, existe sempre um arquivo de formas historicamente pré-determinadas apontando, de certa forma, os limites de sua criação (ou, como dizia o catatau Paulo Leminski, o poeta já nasce meio que aprisionado por um determinado “estoque de formas”). Mas não apenas os poetas que escrevem ensaios são cônscios desse aprisionante estatuto das formas. Percebendo “que o significante acompanha ou orienta as batidas cardíacas do texto”[5], o ensaísta Eduardo Portella também diz da forma como “responsabilidade de todo e qualquer escritor”.
A “disponibilidade infantil” e a falta de “escrúpulos” da visão ressaltada por Adorno parecem apontar, no exercício do ensaio, para a carência de idéias de fundamento (texto científico) e para a noção de originalidade (obra de arte). Essa leitura sintoniza-se com uma romântica visão de mundo que credita a “algo primeiro” a condição a partir da qual se torna possível criar.
Em seu ensaio, Adorno associa essa visão a uma leitura positivista que aposta no “purismo científico”. Ele crê na possibilidade de desvelar e manter intacta a objetividade do objeto ensaiado (como se fosse possível a apreensão de uma verdade independente do olhar que a constrói). Mas aqui o próprio Adorno dá a senha: “Naquilo que é enfaticamente ensaio, o pensamento se liberta da idéia tradicional de verdade”.[6]
A visão que cobra essa objetividade parece sintonizada com um olhar que vislumbra ser possível ancorar, ad infinitum, em algo da ordem do real, o verdadeiro. Dessa crença distancia-se o ensaio. Este gênero parece mais próximo do efêmero e do fragmento. Sugere uma forma que “prefere perenizar o transitório”[7], descartando conceitos calcados nas idéias de ordem, totalidade e fundamento. Tecendo relações acerca do “vazio correlato ao indivíduo” e da produção ensaística, Costa Lima[8] associa o ensaio à fragmentação, assegurando:
...o fragmento partilha com o ensaio o caráter de inacabamento e de ser uma individualidade e não a expressão de algo anterior. O fragmento é a forma mínima do ensaio. ...Fora de distinções temáticas, que diferenças há entre um fragmento de Pascal e um ensaio de Montaigne além da expansão do segundo ou, inversamente, da redução em que se deixa o primeiro?
Fragmentado, o ensaio enseja uma outra ordem. Ele nada funda. Da fenda onde fabrica e faz circular sua linguagem, ele mais aponta, insinua, desloca. Dilata o ensaio os limites da forma textual (assim como a poesia exercita o limite da linguagem). O ensaio repassa outra forma, outra senha. “Impulsionado pela movência, o ensaio não tem ponto de repouso”[9].
O ensaísta contemporâneo sabe da impossibilidade de idetificar-se com algo que remeta a um centro fixo e às idéias de plenitude e totalidade. Ele percebe que a construção da verdade, na pós-modernidade, torna-se viável a partir de experiências estéticas e retóricas, ou mesmo a partir de experiências ficcionais e/ou poéticas. Isto vincula a idéia do verdadeiro à perene “substancialidade da transmissão histórica”.[10]
Nesta “substancialidade” “histórica”, o dado provisório, o elemento cotidiano ganham aumento na lente de quem ensaia. Isso é exemplificado, por exemplo, na prática ensaística de autores como Câmara Cascudo ou Gilberto Freyre – autores às vezes propositadamente assistemáticos no que se refere à produção de suas obras.
Freyre e Cascudo desceram os degraus da Casa Grande... e, às vezes deitados na Rede de Dormir, ensaiaram uma outra nação. Nesse moderno ensaio da nacionalidade, eles transpuseram, “o gueto das disciplinas fechadas”, narraram o Canto de Muro e os Sobrado e Mucambos... Tendo como “foco narrativo” o nordeste brasileiro, os dois ensaístas cruzaram outros “olhares, percepções, linguagens” [11]. Nesse cruzamento, levarem em conta outros elementos como: os cheiros do curral e da feira, os sabores da cana-de-açúcar e do sal, a fala e os gestos lentos, precisos, às vezes contrafeitos. Não deixaram de fora das suas escrita o corpo “desengonçado, torto” e os harmoniosos passos do maracatu.
Para quem ensaia não existem coisas banais. Todos os elementos inserem-se numa ordem instaurando os objetos e as idéias na historiografia do saber e da cultura. Na história ensaística, tem a palavra Montaigne[12], cuja necessidade de “escrever o punha à procura de uma forma”:
As coisas mais ordinárias, mais comuns e conhecidas, se soubermos trazê-las à luz, poderão formar os maiores milagres da natureza e os mais maravilhosos exemplos, sobretudo em relação às ações humanas.
Talvez a tentativa de inscrever as “coisas mais ordinárias” e “comuns” traduza o desejo de elaborar-se uma poética do referente, uma poética da reflexão; uma poética do que é (aparentemente) menor ou até superficial. Para a inscrição desta poética, pensamos numa produção ensaística cuja reflexão “abarca o máximo da realidade dos sentidos”,[13] lançando mão do que a fantasia produz de infinitude e conexão, entusiasmo e imaginação.
Imaginamos que o engendramento formal, possibilitado pelos atos de refletir e conhecer, possa vincular-se à ação da escritura, constituindo-se na própria forma ensaística. Atentamos assim para a legitimação de uma poética que ao invés de expressar, tenta inventar a sua própria forma. Uma poética que, descartando o abismo, pode eleger a superfície como espaço privilegiado de sua inscrição formal. Forma que exercita a sua escrita ao apostar na pele virtual enquanto signo contemporâneo.
NOTAS
[1] Benjamin. Rua de Mão Única. 1995. p. 38.
[2] Schlegel. Conversa sobre a poesia... 1994. p. 67.
[3] Aristóteles. Poética. 1973. p. 446.
[4] Montaigne apud Auerbach. Mímesis. 1987. p. 258.
Sobre essa escuta de si, é pertinente lembrar Walter Benjamin: “Ser feliz significa poder tomar
consciência de si mesmo sem susto” (Benjamin. Rua de Mão Única. 1995. p. 37.).
[5] Portella. “Roland Barthes, e depois”. Terceira Margem. 1995. p. 169.
[6] Adorno. “O ensaio como forma” in Adorno. 1994. p. 175.
[7] Idem., op. cit. p. 175.
[8] Lima. Limites da Voz - Montaigne, Schlegel. 1993. p. 88
[9] Idem., op. cit. p. 88.
[10] Vattimo. O Fim da Modernidade. 1987. p. 16.
[11] Portella. “Trópicos impuros, impudicos e plurais” in O Globo. 2000. p. 03.
Neste ensaio, o autor refere-se especificamente à produção de Gilberto Freire, como obra primeira na “compreensão cultural das raças”, destacando seu pioneirismo ao “contar as pequenas histórias da vida privada”.
[12] Pinto. Alberto Camus. Um elogio do ensaio. 1998. p. 101.
[13] Ibdem., op. cit. p. 41.