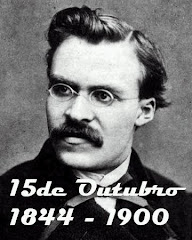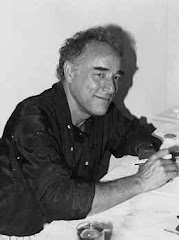Uma versão desta crônica foi publicada em
http://www.substantivoplural.com.br/prosa/
Para Tetê Bezerra (RN) e Leonardo Gandolfi (RJ)
I
http://www.substantivoplural.com.br/prosa/
Para Tetê Bezerra (RN) e Leonardo Gandolfi (RJ)
I
O rei continua vivo. Que bom poder ouvir, após 50 anos de carreira, a voz intacta do Roberto. Enquanto alguns dos nomes mais representativos da sua geração ostentam um audível cansaço pendurado nos timbres e tons de suas vozes, o rei encara - de peito literalmente nu - a tarde de sábado na TV. Encara e (en)canta. Canta a plenos pulmões, sem pose nem play back. Com ele, canta o país inteiro. O país para o qual ele serviu de trilha sonora nas cinco últimas décadas, mesmo quando não era de bom tom gostar de suas canções.
II
II
Agora é fácil. Durante a ditadura militar, na década de 70, eram poucos os jovens politicamente corretos que assumiam ouvir o rei. Plugada, Maria Bethânia sacou a eletricidade da onda e acionou a Tropicália. Mas, a maioria das pessoas de esquerda e grande parte dos intelectuais eram contra. Ouvir as canções do Roberto não era bacana ou cult como passou a ser depois. Na esfera literária, conta-se nos dedos os autores como Ana Cristina Cesar que assumia descaradamente: "Ouça muito Roberto: quase chamei você mas olhei para mim mesmo etc. Já tirei as letra que você pediu" (Correspondência Completa).
III
III
Guiados pela emoção, Roberto e o Brasil continuam cantando "Como é grande o meu amor por você" e "As canções que você fez pra mim"। Seus versos fazem parte do nosso imaginário afetivo e social. Conheço vários brasileiros que, como eu, demarcam alguns dos acontecimentos marcantes de sua vida em sintonia com o disco anualmente lançado pelo rei em determinado contexto. Dependendo da canção ou da capa do vinil, eu sei onde morava, com quem andava, os bares frequentados, os carros da vez, o que fazia naquela fase da vida... São tantas emoções... Um dia, quem sabe, escreverei sobre as noções de luz e sombra na obra do rei. Porque ecoam até hoje em mim, versos como estes: "Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro" ou "Há sempre uma sombra em seu sorriso" ou "...depressa em minha vida anoiteceu e eu não vi você" ou "Qual sombra da noite de um céu nevoento" ou "Em compensação o anoitecer, a tempestade e a dor" ...
IV
Nunca li Proust (nem sei se dará tempo ler); mas tenho alguns amigos que leram. Com eles aprendi que, para o autor de Em busca do tempo perdido, a nossa memória encontra-se fora de nós: nos cheiros dos quartos abafados, no aroma que a chuva anuncia, no chá cuja temperatura retorna com algum momento vivido... Ver Roberto nesta tarde de sábado, trouxe-me de volta às trilhas de algumas cidades e pessoas por que passei. Fez-me ver como Proust tem razão: a memória é principalmente algo externo. Parte da minha memória está no rei. Figurações da nossa história antiga (minha e do país) foram acionadas pelos primeiros acordes de sua melodia presente. Fiquei emocionado com a enxurrada de pensamentos, imagens e percepções que a voz do rei acentua num corpo que armazena sua música. Não é uma questão cerebral, please. De cabeça, é fácil. Difícil é acender o imaginário coletivo. Dialogar com o corpinho pragmático e esperto que o sistema automatiza a cada dia, a cada ano, a cada década, tornando robôs e clones a maioria dos que seguem repetindo os mesmos gestos, as mesmas falas, usando as mesmas marcas e dizendo sim sim sim...
V
O canto do rei aciona o pé e o pau. Desnuda corações e veias... É outra coisa, topa? É "da cabeça até a ponta do dedão do pé", como canta ele num hit da Jovem Guarda. Como diria Tetê Bezerra, Godard que me desculpe; mas o Histoire(s) du cinema, no MAM, só amanhã. Se o rei não aparecer de novo neste horário na TV.