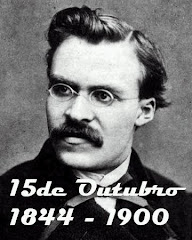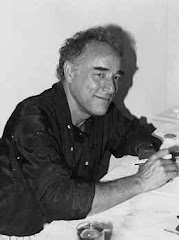Ensaio: uma poética da reflexão
Pensar, analizar, inventar... no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia.
Pensar, analizar, inventar... no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia.
(Borges in “Pierre Menard, autor del Quijote”, Ficciones).
I
Como a autobiografia, o diário e tudo aquilo que Bakhtin enquadrou no grupo de “gêneros menores”, o ensaio é uma “deriva”[1]. Essa “deriva” possui o eu como ponto de partida. Apesar do intertexto que mantêm entre diferentes formas e linguagens, estes “gêneros menores” possuem características bastante distintas. Enquanto a autobiografia, por exemplo, procura confessar, o ensaio busca mais a reflexão; enquanto o diário tenta dar conta do registro presente, a forma ensaística engendra vários tempos.
Por relacionar-se com as dimensões da crítica e da problematização, o ensaio é um gênero que se destaca muito mais pelo levantamento das questões que suscita do que pelo repertório de respostas que venha a insinuar, sugerir ou prescrever.
A partir disso – das indagações e dos questionamentos feitos com base num determinado tema ou numa selecionada forma –, acionamos nossa leitura dessa “deriva” ensaística como uma poética, ou seja: buscamos ler o ensaio como gênero poético-reflexivo que, ao lançar mão de diferentes tipos de discursos, engendra uma poética da reflexão.
Para a inscrição do ensaio como poética reflexiva, tomamos por base os conceitos desenvolvidos por Walter Benjamin na Suíça, entre 1917-1919, em sua tese de doutorado O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão (ao contrário da rejeitada tese de livre-docência – a belíssima Origem do Drama Barroco Alemão –, a tese de doutorado obteve nota máxima, summa cum laude).
A tese benjaminiana divide-se em duas partes: a reflexão e a crítica de arte. Desta tese, interessa-nos basicamente as noções e o conceito que o autor elabora acerca da reflexão; embora estes se encontrem sintonizados com a ordem do universo natural e um romântico recorte vocabular que pouco tem a ver com o nosso. O discurso da crítica romântica é pontuado por vocábulos e expressões, tipo: totalidade da experiência, primeiro gênio, Eu, essência, absoluto...
Apesar desse recorte, dessas crenças e de, por exemplo, lerem na originalidade “a medida mais elevada de todo valor da obra de arte”, o saldo dos românticos é bastante positivo. Uma atenção para o recorte vocabular daquele contexto, e percebemos que a coisa areja: a partir deles, a antiga expressão Juiz da Arte é substituída por crítico da arte. Mas a herança romântica não se reduz às mutações do recorte vocabular. Com base nos românticos arcabouços teóricos, Benjamin pode edificar, para a modernidade, o conceito de crítica de arte daquele período.
Segundo Benjamin, a reflexão é o tipo de pensamento mais freqüente nos primeiros românticos; o que pode ser comprovado pela produção de um pensamento que se concretiza através da construção de fragmentos, como sinaliza Schlegel – o auto cuja obra é a base benjaminiana.
Em sua tese, Benjamin coloca o pensar e o refletir no mesmo plano. Isso é feito a partir do pensar definido por Schelegel como “a faculdade da atividade que volta sobre si mesma, a capacidade de ser o Eu do Eu...”[2]. Para o teórico romântico, o objeto do pensamento é o próprio eu, o que nos remete à etimologia da reflexão e faz-nos deduzir que pensar o objeto é pensar a si. Logo, quando ensaiamos acerca de determinados temas, formas ou idéias, numa correlação que se constitui no objeto de nossa própria matéria reflexiva, ensaiamos acerca de nós mesmos. Com base nessa conceituação esta poética lê o ensaio como gênero da crítica (que tenta refletir ou interpretar sobre) e da autocrítica (cuja reflexão diz do próprio intérprete).
Além de Schlegel, Fichte destaca-se como outro autor fundamental para a tese benjaminiana. Em sua “doutrina-da-ciência”, ele expõe “a interpretação mútua do pensamento reflexivo e do conhecimento imediato”, demonstrando haver, na reflexão, dois momentos: o momento da imediatez e o momento da infinitude (grifos nossos).[3]
Segundo Benjamin, o primeiro momento - a imediatez - “fornece” à filosofia de Fichte a senha para se buscar no imediato “a origem e a explicação do mundo”. Mas a imediatez é “turvada” pela infinitude, e esta termina sendo eliminada da reflexão fichteniana. O curioso é que a infinitude descartada por Fichte gera um dos pressupostos mais importantes daquele Romantismo: “o culto do infinito”. Herança e negação de Fitche, a infinitude transforma-se, segundo a tese benjaminiana, no pensamento mais “original” dos românticos. Na busca da inscrição do ensaio como poética da reflexão optamos, como eles, pelo momento da reflexão que privilegia a infinitude.
Rejeitada por Fichte, a infinitude é re-lida por Schlegel e Novalis não como uma “infinitude de continuidade”, mas uma “infinitude de conexão”. Ou seja: no momento reflexivo da infinitude tudo pode conectar-se de uma “infinita multiplicidade de maneiras”, possibilitando “níveis infinitamente numerosos de reflexão”.[4]
Como percebemos com base no conceito de reflexão, o Romantismo “funda” sua teoria do conhecimento direcionando-a para “o culto do infinito”. Embora essa expressão possa pressupor algo da ordem do infinitamente inacabado, inconcebível, a reflexão “não vagueia numa infinitude vazia”: ela é “substancial e completa em si mesma”.[5]
Desta forma, vale ressaltar que a infinitude romântica está relacionada não a algo “infindável e vazio”, mas a um contexto que cria miríades de possibilidades de conexões. Ou, como diria Hölderlin, via Benjamin: “conectar infinitamente (exatamente)”.[6]
Conectando o momento reflexivo da infinitude romântica com a nossa proposta de lermos o ensaio como uma poética da reflexão, podemos imaginar as diferentes formas e possibilidades de criação que o gênero ensaístico possibilita, através de suas “conexões” e intertextos com outros discursos estéticos, outras esferas do conhecimento. Através de procedimentos paródicos, intertextuais e de simulação, o gênero ensaístico, assim como o romanesco, por exemplo, possibilita a produção de um texto conectado com outros códigos; e embora aponte para algo em aberto, a ensaística – feito a reflexão de origem romântica – apresenta-se “substancial e completa em si mesma”.
A reflexão que é a matéria-prima dos românticos é, portanto, o nosso objeto. “O simples pensar com o algo pensado que lhe é correlato constitui a matéria da reflexão”.[7] Nessa conceituação sistematizada por Benjamin, o pensamento e a reflexão encontram-se no mesmo plano. Não é outra a nossa matéria. Podemos reler essa assertiva benjaminiana dizendo que o simples refletir que dialoga com o algo criado que lhe é correlato constitui a matéria do ensaio.
E se, na teoria romântica, ao atingir o grau do pensar a reflexão identifica-se com o conhecer, podemos imaginar que, ao utilizar-se da reflexão e dialogar com o objeto do ensaio, o gênero ensaístico perscruta novas leituras; o que de certa maneira produz e intensifica outras formas de conhecimento. Noutras palavras: refletir e conhecer são os verbos conjugados por quem ensaia na contemporaneidade.
O exercício da reflexão e do conhecimento remete à problemática da forma, levantada na Introdução deste ensaio e retomada no próximo capítulo. Ela - a reflexão - “no sentido construído pelos românticos, é pensamento que engendra sua forma”[8]. A partir desse exercício reflexivo, herança da teoria romântica do conhecimento, buscamos colocar a questão da autonomia formal referente ao ensaio.
Como observamos na Introdução, a estrutura formal do ensaio pode ser sugerida ou determinada pela idéia ou forma pré-existente que serve de parâmetro para a escrita ensaística. No caso deste ensaio, por exemplo, alguns procedimentos poéticos (a fragmentação) e metalingüísticos (a existência desse parágrafo e o que ele encerra de metalinguagem) determinam os aspectos formais, e justificam-se na medida em que o ensaio ensaia a si próprio, na tentativa de refletir acerca de sua própria poética.
Embora partamos, neste ensaio, da romântica noção de reflexão para construirmos uma poética do reflexivo, nossa conceituação de vários outros elementos diferenciam-se da óptica dos românticos. Diferentemente deles, não associamos o belo à ordem natural, nem o lemos em tudo o que é, simultaneamente, atraente e sublime. Mas concordamos com Schlegel e sua noção de fragmento, tão associada ao ensaio, como vimos na introdução deste.[9] Segundo o autor de Conversa sobre poesia...,
é preciso que um fragmento seja como uma pequena obra de arte, inteiramente isolado do mundo circundante e completo em si mesmo, como um ouriço.
Esta romântica noção do fragmento como obra de arte parece ter influenciado a escritura ensaística do modernidade, como exemplifica a produção de autores como o próprio Benjamin, Barthes e Borges (“Minha obra é feita de fragmentos; é uma miscelânea”). Adorno também se alia a esse time retomando, além da fragmentação do Romantismo, as noções de reflexão e o momento da infinitude. Diz ele:
A concepção romântica do fragmento – como uma formação nem completa nem exaustiva do tema, mas que através da auto-reflexão vai avançando até o infinito – defende esse tema antiidealista no próprio seio do idealismo.
Descrente do idealismo, a escrita do fragmento nada mais traduz que o estilhaçamento do sujeito contemporâneo frente a um metonímico espaço-tempo no qual a simbólica completude metafórica cedeu espaço para a alegórica fragmentação da metonímia. Neste contexto, os questionamentos acerca da representação, das construções canônicas, das noções de autoria, e as novas formas de leituras acionadas a partir da subjetividade maquínica produzida no cenário eletrônico e digital, contribuem para a mutação da própria noção de gênero.
De olho neste fragmentado cenário, ensaiamos uma espécie de exegese: refletir acerca do ensaio enquanto poética que interpreta a si. Quem sabe isso contribua para que o exegeta – deixando de ser um deus que às vezes aparece sem ser invocado – possa ser o sujeito que interpreta impulsionado pelo objeto, pela própria reflexão.
I I
Segundo Auerbach, Montaigne ìnteressava-se “calorosamente pela vida dos outros”, mas desconfiava dos cientistas e historiadores. Dos primeiros, porque aqueles se afastavam do conhecimento de si próprio, em prol de uma inconvincente compreensão das coisas; dos segundos, porque estes, além de apresentar o homem geralmente heroicizado, caracterizavam as coisas de forma fixa, una.
Na leitura empreendida pelo autor de Mímesis, o pai do ensaio “deseja averiguar o comportamento quotidiano, comum e espontâneo dos seres humanos, e para isso o ambiente que o circunda e que pode observar através da sua própria experiência, é, para ele, tão valioso quanto o material da história”[10].
Nesta leitura da condição humana feita por Auerbach a partir dos Essais, os “acontecimentos privados e pessoais” interessam “tanto, ou talvez até mais”, a Montaigne do que as “ações públicas”. Neste sentido, podemos imaginar que, para o ensaísta francês, a dimensão de um involuntário movimento interno seja tão relevante quanto a magnitude de uma programática atitude social.
Ressaltando os temores platônicos, em relação às “leis” do corpo –suas dores e volúpias –, o pai do ensaio outorga ao discurso corpóreo um papel preponderante na constituição do ser. No capítulo “De l’expérience”, destacado por Auerbach,[11] Montaigne expõe sua porção – até certo ponto aristotélica, assim:
...que o espírito desperte e vivifique o peso do corpo, que o corpo prenda a leveza do espírito e o fixe. Não há peça indigna de nosso cuidado, neste presente que Deus nos fez; devemos prestar contas dele, até de um cabelo; e não é, para o homem, um encargo secundário o de conduzir o homem segundo a sua condição.
As relações entre Aristóteles e Montaigne parecem mais estreitas, como insinuamos a seguir. Mas o que mais surpreende na visão do corpóreo Montaigne, além desse apreço pelas minúcias da natureza humana, pela consciência da relação corpo-espírito, é o fato dele habitar o abundante planeta das possibilidades: para o ensaísta, pouco importa se os acontecimentos ocorreram ou não; tudo o que acontece desperta interesse, possui serventia. É o que afirma o próprio autor[12]:
No estudo que trato de nossos costumes e movimentos, os testemunhos fabulosos, sempre que sejam possíveis, servem tanto quanto os verdadeiros; acontecido ou não acontecido, em Paris ou em Roma, com João ou com Pedro, é sempre um aspecto da natureza humana.
A “natureza humana” é o alvo de Montaigne. Desconfiando de si e da possibilidade de estetizar a existência através do registro de ações pessoais, o autor assume sua opção por priorizar a dimensão da fantasia. Essa relevância que Montaigne empresta aos “testemunhos fabulosos”, ao feito “acontecido ou não”, nos faz associar sua ensaística aos princípios da Poética aristotélica. No capítulo IX da referida obra, ao tecer relações entre a poesia e a história, Aristóteles diz da ação de representar o que poderia acontecer como sendo o “ofício de poeta”.
Lendo uma supremacia filosófica na poesia, e ressaltando um maior grau de seriedade desta em relação à história, Aristóteles justifica sua leitura ao inferir que a poesia capta o universal no futuro (do pretérito), enquanto é característica da história narrar o particular que acontece. Essa visão aristotélica é também assumida por “Pierre Menard, autor del Quixote”: “La verdad historica no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió”.[13]
Embora não descartemos, como Aristóteles, o particular da história, observamos que nas leituras dele, de Montaigne e de Borges os “ofícios” do poeta e do ensaísta assemelham-se. Na visão destes autores, o plano da fabulação, as construções imaginárias, ganham dimensão inusitada; o que, de certa forma, associa a criação ensaística às possibilidades de elaboração de uma poética da criação. Uma poética da reflexão na qual criar e pensar sejam ações intercaladas.
Tratando do que Benjamin chama de “estrutura básica da arte”, Novalis ressalta a relação intrínseca que existe entre quem pensa e quem faz poesia. Diz o romântico[14]:
A arte da poesia é certamente apenas uma utilização arbitrária, ativa e produtiva dos nossos órgãos - e, portanto, pensar e poetar constituiriam uma mesma coisa...
Herdada do Romantismo, parece que essa relação entre pensamento e criação ficou muito clara na Modernidade, como anuncia a leitura feita por Benjamin em torno da obra de Baudelaire. No Brasil, a consciência crítica do poeta moderno em relação às linguagens da história expõe-se, por exemplo, em autores como Manuel Bandeira (“Poética” in Libertinagem) e João Cabral (“O artista inconfessável” in Museu de Tudo).
O poeta-crítico aprendeu a lição borgiana do “Pierre Menard, autor del Quijote”: “...censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica”.[15] Ao invés de nuanças sentimentais, o poeta-crítico da modernidade lançou mão do repertório, da reflexão, tecendo outras releituras.
Segundo Benjamin, os românticos “fomentaram a crítica poética”. Através deste “fomento” tornou-se possível superar a distância entre os procedimentos críticos e poéticos. Sobre essa aproximação entre os procedimentos – que remete ao nosso projeto de uma poética da reflexão e sugere a possibilidade de alçar o ensaio ao estatuto de obra de arte –, ouçamos as idéias românticas transcritas por Benjamin[16]:
Um juízo de arte que não é ao mesmo tempo uma obra de arte, ...como exposição de uma impressão necessária em seu devir, não possui nenhum direito de cidadania no reino da arte...
Essa crítica poética... exporá novamente a exposição, desejará formar ainda uma vez o já formado..., irá completar a obra, rejuvenescê-la, configurá-la novamente.
Boa leitura fez Lukács ao ler o ensaio como forma artística. Benjamin não apenas leu como fez romper essa forma. Construídos num estilo que aproxima procedimentos literários de experiências pessoais, reflexões metafísicas e construções imaginárias, os textos de Benjamin seduzem. Neles convivem de forma interdisciplinar a filosofia e a história, a literatura e as outras artes, tornando intertextual a construção de um saber que media o fazer ensaístico, o processo crítico.
Benjamin percebeu que as formas literárias são mutantes; e experimentou o ensaio como forma através da qual patrocinou sua própria ruptura. Como crítico ”ruminante” das metamorfoses da modernidade, Benjamin aprendeu a lição de Schlegel: “Um crítico é um leitor que rumina. Ele deve, portanto, ter mais de um estômago”.[17]
NOTAS
[1] Lima. op. cit. p. 88.
[2] Benjamin. O Conceito de Crítica de Arte... 1993. p. 30.
[3] Ibdem., op.cit. p. 35.
[4] Ibdem., op. cit. p. 36.
[5] Ibdem., op. cit. p. 40.
[6] Ibdem., op. cit. p. 36.
[7] Ibdem., op. cit. p. 37.
[8] Ibdem., op. cit. p.
[9] Schlegel. op. cit. p. 103.
[10] Auerbach. op. cit. p. 266.
[11] Ibdem. op. cit. p. 270.
[12] Ibdem. op. cit. p. 266.
[13] Borges. Ficciones. 1978. p. 57.
[14] Benjamin. op. cit. p. 73.
[15] Borges. Ficciones. 1978. p. 50.
[16] Benjamin (1993). op. cit. p. 77.
[17] Schlegel. op. cit. p. 83.