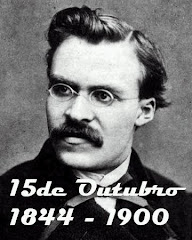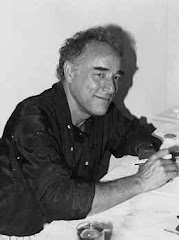Quando retornou daquele espanto
era um dicionário de sensações.
Trazia uma aflição consolada
pela leitura da lua sem quarto
minguante no contato viril
Sem nome para o que sentia,
aceitou, num gesto, a predição.
Entre convicto e verdadeiro ora,
apostou na gerção do sublime
que lhe pareceu bem mais útil.
Com a alma metida em si,
não ousou palavras. Muda,
entre ruínas no chão ao lado,
uma flor deslocada e sã,
não o deixava mentir.
Mostrando postagens com marcador Poema. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Poema. Mostrar todas as postagens
terça-feira, 16 de março de 2010
quarta-feira, 10 de março de 2010
Do Título
Segunda versão do prefácio do livro Ceia das Cinzas, coletânea de poemas de Eli Celso, Iracema Macedo e André Vesne. Natal, Boágua, 1998.
da Ceia
Ceia das Cinzas. Comecei a participar desta ceia desde que ouvi pela primeira vez o seu nome. Teria tido essa audição em Teresópolis, na companhia do poeta Eli Celso? Pensei na viabilidade de lê-lo – o título Ceia das Cinzas – pela lente dos discursos míticos, das narrativas poéticas, das histórias das culturas, dos saberes.
Ceia das Cinzas insere-se na tradição literária do Ocidente. Os vocábulos desse título fazem parte do arquivo histórico e estético de signos, formas e linguagens construtoras da nossa historiografia poética. Lembra A Cinza das Horas, o primeiro livro de Manuel Bandeira, publicado em 1917. Ceia das Cinzas remete a um verso de Mallarmé: “o bosque tinge-se de ouro e cinza”. Remete também a versos de Ledo Ivo: “... a cinza sonha / ...ser o dia/ condensado nas pétalas”. Cinzas trazem de volta o fogo criador de Clarice Lispector, e a sua consciência fruitiva de que, ao escrever, o sujeito renasce delas – as cinzas.
Bandeira, Mallarmé, Ledo, Clarice. Autores que inscrevem textos e traços da tradição literária. Tradição devorada, ceada na contemporaneidade. O poeta contemporâneo sabe que, desde o Romantismo, o autor perdeu a aura / idéia de gênio herdada da tradição clássica. O poeta é testemunha de que as grandes narrativas fragmentaram-se. Ele sabe que os conceitos de verdade e realidade tornaram-se relativos (vide a virtualidade), passando a ser relidos a partir de uma estética formatada com base nas noções da simulação e do inacabado. Em sintonia com esse contexto de mutações, rupturas e cinzas, diz o poeta Manoel de Barros: “é dever dos poetas de hoje falar de tudo que sobrou das ruínas – e estar cego. Cego e torto e nutrido de cinzas”.
Este cinza nutre. Possui sabor. Saboreia-se neste livro uma memorial poética das cinzas que possui no mito da Fênix o seu “horizonte das ficções” ("Hierografia", Eli Celso). Parafraseando Bachelard (na natureza “tudo o que corre é criminoso”), poderíamos dizer que, na cultura contemporânea, tudo o que move é vital. Essa vitalidade pode ser aferida na capacidade de mutação e renascimento, lingüísticos e culturais, observada em diferentes idiomas e culturas. Pensemos, por exemplo, na Língua Latina – idioma hoje em cinzas – e o seu percurso estético e histórico da região do Lácio até os mares lusitanos...
Neste contexto mutante e cultural, a ceia é ação; a cinza, matéria. Lemos, assim, o poeta e a sua proposta mais radical: acionar o desejo gerador do texto, através dos verbos reler e rememorar – ações vitais para a re-construção da linguagem poética.
das Cinzas
Entre os Maias, a cinza tem função mágica, ligada à imaginação e ao eterno retorno. Misturar sementes de milho às cinzas, imunizando-as contra a putrefação, além de construir cruzes de cinzas para defender os seus milharais, são gestos daqueles povos latinos. Os colombianos são mais cênicos e inusitados: chamam chuvas espalhando cinzas do alto das montanhas. Bonito, esse gesto de chamar chuva.
Todos nós sabemos, a consciência humana da nossa condição-cinza é explicitada na Bíblia, em primeiro pessoa. No livro do Gênesis 18, 27 lemos: “Eu, poeira e cinza, atrevo-me a falar do meu Senhor.” Cônscia dessa condição, a poeta Iracema Macedo estetiza a mulher que, entornada ao barro, vibra no verso que indaga: “Que queres na tua janela de vidro/ com o teu corpo de cinzas?” (“Canção de amor para uma moça judia”). È imperativo lembrar que, na tradição judaico-cristã, a cinza é utilizada em certos ritos, sendo a ressurreição simbolizada pela cor cinza.
Eterna vizinha da brasa que é mãe e filha do fogo, cinza surge na ceia das cores como gris (cinzenta), sendo composta, em partes iguais, das cores branco e preto. Se o branco e o preto são, respectivamente, presença e negação de todas as cores, o cinza pode ser vista como uma cor una. Como visibilidade que unifica. Cinza lido como diálogo óptico que se dá no envolvimento das duas cores.
A universalidade das cores que compõem o cinza diz de um ser metaforizado pela própria cinza diária que o seu corpo tece. Essa metaforização pode ser aferida nas “labaredas/ queimando céus de um insuspeito azul”, que aquecem o poema “O mergulhador que deixou seus pulmões na superfície”, de André Vesne. O espaço no qual atua esse corpo é composto de cores variadas. Isso é visível no poema de Eli Celso, onde as cores que compõem o cinza matizam “Uma estrada de coisas mortas” na qual o outro convida, atalha e o estranhamento produz: “Ela me convidou a um pequeno apocalipse/ e atalhou caminho por mundos estranhíssimos”.
Essa universalidade das cores diz também de um tempo no qual os homens cantam “o sol desta manhã tão cinza”, e mulheres ardem dizendo assim: “a brasa que nos resume é muito mais ligeira” (“A casa”, Iracema Macedo). De ouvido atento a essas vozes, o que dizer de uma tela imaginária na qual as brasas estão acesas, brasas avermelhadas por entre mares de cinzas? Qual o nome desse olhar que lê e imagina brasa? Como chamar este olhar que a essa tela lê e discerne por entre o pó as brasas de la pasion?
do fogo poético
Ceia das Cinzas nos remete a Fênix, o ser mítico de dupla fábula: pássaro que arde em fogo próprio e ente que renasce das próprias cinzas. Simbologia do tempo circular e do eterno retorno (Borges e Nietzsche). Pássaro eterno como o fogo. Fogo poético roubado por Prometeu: “Eu libertei os homens da obsessão da morte... eu lhes presenteei o fogo... dele, eles aprenderão artes sem numero” (Ésquilo, Prometeu).
E o que faz o homem com o fogo que rouba dos deuses? Conscientes de sua condição de simulacro (Deleuze) perante a imagem divina, os poetas sabem que não salvam. Mas esses poetas nos convidam a cear. Há vários sabores nesta ceia. Ceia das cinzas de crianças devoradas pela mitologia potiguar adubam “A lenda da viúva Machado”, poema de Iracema Macedo. Nesta mesma ceia, uma poética memorialística inscreve-se no poema “O globo líquido”, de Eli Celso, cujas ruínas abissais de “babilônicas e babéis” anunciam que “a memória se arranja/ em alvéolos de barro”; enquanto os fragmentos das Lições de Trevas centelham, demonstrando que a palavra “se presta a vários encantamentos” (“Os jogos amorosos”, André Vesne).
Os poetas e leitores participantes desta ceia celebram sons e saboreiam novos sentidos, como em “Chove sobre a cidade”, de André Vesne. Junto com o poeta e professor Eli Celso, os participantes da ceia devoram ícones (“Angústia de Frida Khalo” e “O clitóris da história”), e flagram o verbo no seu passeio pelo imaginário (“Ancestral”, Iracema Macedo). Os 3 poetas convidam o leitor a degustar a linguagem do fogo. Linguagem do fogo eterno da poesia. Convidam o leitor a, como eles, também queimar neste fogo poético. Convidam para re-ler o idioma do pó e traduzir a sintaxe das cinzas, inscrevendo – na pele e na página – a perene memória da língua.
No cardápio destes poetas, destacam-se os textos cujo teor poético vem nos nutrindo desde as publicações de duas coletâneas: Vale Feliz (1991) e Gravuras (1995). Prometeus ladrões do fogo poético da tradição, a trindade (Eli, Iracema e André) arde, abrasa, cinza. Provemos deste fogo – da língua, da arte, da paixão – senhores leitores: nas próximas páginas é posta a ceia.
domingo, 7 de março de 2010
Letras e coisas que voam
Rosto batido de tantos ventos
a despeito de muitos mares
navegados, sua prosa pede pele,
íris e quase nenhum enfeite
Escrita com os olhos, sua frase
recusa os brincos que o céu
faz chover sobre a noite
de brisa em tempo quente
Para exilar a tristeza de se saber
sem voo, escreve os objetos
da rua e as coisas que vira
num quarto de hotel em Ouro
a despeito de muitos mares
navegados, sua prosa pede pele,
íris e quase nenhum enfeite
Escrita com os olhos, sua frase
recusa os brincos que o céu
faz chover sobre a noite
de brisa em tempo quente
Para exilar a tristeza de se saber
sem voo, escreve os objetos
da rua e as coisas que vira
num quarto de hotel em Ouro
Marcadores:
Hotel,
Íris,
Letras,
Objetos,
Ouro Preto,
Poema,
Poesia contemporânea,
Tempo,
Vento
sábado, 27 de fevereiro de 2010
Agora um salto
Com a alma azul de sempre,
continuava a ser de todos
os tempos, vãos e climas.
Ironia acesa nas retinas,
vira andorinha dispersa
num farfalhar de gestos
e pensou: agora um salto.
Do pé no chão brotou
um temperamento oposto
às ideias urtigas: glória
é amaciar agruras e arar
brotos de outra verdura
continuava a ser de todos
os tempos, vãos e climas.
Ironia acesa nas retinas,
vira andorinha dispersa
num farfalhar de gestos
e pensou: agora um salto.
Do pé no chão brotou
um temperamento oposto
às ideias urtigas: glória
é amaciar agruras e arar
brotos de outra verdura
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
Romance
Espécie de deus avulso
e contraditório, o acaso
requer alguma graça e frase
sutil por concluir: ora veja...
Duplicado, mel nos alicerces
repostos, ungido fui por este
Deus de pouca quilometragem
que transita em três tempos
e contraditório, o acaso
requer alguma graça e frase
sutil por concluir: ora veja...
Duplicado, mel nos alicerces
repostos, ungido fui por este
Deus de pouca quilometragem
que transita em três tempos
terça-feira, 23 de fevereiro de 2010
Esaú e Jacó
Como um segredo cansado
de sua mudez, bebeu a luz
da manhã e narinas abriu
ao pasto aberto sob o sol.
Vexado de tanta luz, bradei:
Tabuadas da minha infância
ai, Cartilhas, dai-me o gosto
de cobrir feras e descobrir,
a título de novos ares e elos,
Lili e o Lobo entre Letras.
de sua mudez, bebeu a luz
da manhã e narinas abriu
ao pasto aberto sob o sol.
Vexado de tanta luz, bradei:
Tabuadas da minha infância
ai, Cartilhas, dai-me o gosto
de cobrir feras e descobrir,
a título de novos ares e elos,
Lili e o Lobo entre Letras.
domingo, 21 de fevereiro de 2010
Destino do Inacabado
Sempre verdíssimas
estas montanhas mineiras.
Folheio-me nelas ao som
de riachinhos que narram
sempre às mesmas margens.
Sem a pressa de quem
cedo nomeia, sem pose
e leitor da bula brutal
da paixão, cedo, ativo,
aos ritmos do meu tempo.
No silêncio do vale
escrevo versos às coisas.
Comigo acostumadas, elas
movem e ditam o destino
do inacabado: a criação
estas montanhas mineiras.
Folheio-me nelas ao som
de riachinhos que narram
sempre às mesmas margens.
Sem a pressa de quem
cedo nomeia, sem pose
e leitor da bula brutal
da paixão, cedo, ativo,
aos ritmos do meu tempo.
No silêncio do vale
escrevo versos às coisas.
Comigo acostumadas, elas
movem e ditam o destino
do inacabado: a criação
terça-feira, 5 de janeiro de 2010
Alguns inícios são assim
Antes de iniciar este livro, imaginei
construí-lo pela divisão do trabalho.
Algum tempo hesitei se devia abrir
estas memórias pelo princípio.
Esta história começa numa noite
de março tão escura...
O céu tão azul lá fora,
e aquele mal-estar aqui dentro.
Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto;
Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai...
O mal foi ter eu medido o meu
avanço sobre o cabresto.
João está na minha frente. Pálido.
Pergunta se não quero fazer
café. Nonada. Tiros que o senhor
ouviu ergo sum, aliás, Ego
sum Renatus Cartesius,
cá perdido.
Verdes mares bravios de minha
terra natal. Trilha sonora
ao fundo:a entrada do sertão.
construí-lo pela divisão do trabalho.
Algum tempo hesitei se devia abrir
estas memórias pelo princípio.
Esta história começa numa noite
de março tão escura...
O céu tão azul lá fora,
e aquele mal-estar aqui dentro.
Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto;
Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai...
O mal foi ter eu medido o meu
avanço sobre o cabresto.
João está na minha frente. Pálido.
Pergunta se não quero fazer
café. Nonada. Tiros que o senhor
ouviu ergo sum, aliás, Ego
sum Renatus Cartesius,
cá perdido.
Verdes mares bravios de minha
terra natal. Trilha sonora
ao fundo:a entrada do sertão.
quarta-feira, 30 de dezembro de 2009
Assinaturas do In-Visível

Para a professora Claudia Fabiana
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
Com prefácio do escritor e professor Edgard Pereira, Abreviaturas do Invisível (2009) é o primeiro livro do poeta Paulo Merçon. No texto “Partilhar um pouco de tudo”, Edgard entrega a senha desta poesia que, feita em Itabira, é “cortada por um rio austero” cujas águas são claramente drummondianas em sua tonalidade. Diz o prefácio de Edgard: “Dentre as múltiplas facetas do talento de Paulo Merçon, a tendência a refletir sobre a linguagem poética, a revitalização da metáfora e a escolha da cidade como tema são também traços singulares que de imediato se destacam.”
Ensaísta que possui na poesia de Carlos Drummond um dos seus objetos de leitura, Edgard parece referir-se ao poeta que nasceu em Itabira-MG em 1902, quando ressalta os talentos de Paulo que mora em Itabira em 2009. Leitores da poesia moderna, sabemos que a reflexão metalingüística, a seleção metafórica e a leitura da cidade perpassam as principais poéticas da modernidade, e ganham na produção drummondiana uma acentuada inscrição.
Em Abreviaturas do Invisível, Itabira vê Drummond. Digo: Paulo Merçon lê Carlos Drummond. No recorte vocabular deste livro ecoa uma polifonia de versos e discursos dos quais é audível, com bastante intensidade, a voz do autor de Corpo (1984). Nessa audição, Paulo relê e abrevia as muitas faces do poeta que sabia ter cada cidade a sua linguagem, e que escreveu em Amar se Aprende Amando (1985): “Tendo a Glória do Outeiro, estou com tudo.” Para essas releituras urbanas e abreviações estéticas, o jovem autor lança mão de uma série de procedimentos estéticos como as paródias, os intertextos e as simulações (nenhuma paráfrase, please!), demonstrando ser um poeta do seu tempo. Melhor: lidando com as linguagens do seu tempo.
Atento às nuances deste tempo, o autor constrói um produtivo diálogo com o seu contexto. Isso é louvável, já que a maioria dos jovens autores recorta um contexto pretérito e sua linguagem já dita. Agrada-me muito os versos que estetizam temas e procedimentos contemporâneos, tais como: “Cada e-mail que envio é um sopro/ uma vertigem que escapa, um vôo”. Paulo demonstra ser um exímio leitor de voos, ventos e tempestades virtuais. Rasura, com acerto, assinaturas do vento urbano. Copia as rubricas do seu tempo de iPod e peixe, Internet e engasgos...
II
Voltemos aos procedimentos modernos. O poema “Confidência ao Itabirano” é uma exímia paródia construída a partir do conhecidíssimo texto “Confidência do Itabirano”, do livro Sentimento do Mundo (1940) – o segundo volume de poemas de Carlos que troca o individualismo de Alguma Poesia (1930) por um olhar universal em prol da coletividade. No novo poema, a troca da preposição “do” pela preposição “ao” cria uma inusitada interlocução, a partir da qual o poeta abrevia a visibilidade moderna e a põe, neste milênio, em movimento, desta forma:
enquanto do vidro
do carro Itabira
é a mesma fotografia
(agora em
movimento)
teus versos que
já me doeram mais.
O simulacro poético é o procedimento utilizado por Paulo em “Leitura da Poesia” – poema dedicado ao próprio Drummond –, e que remete ao seu poema “Procura da Poesia”, do livro A Rosa do Povo (1945), onde a necessidade de desvendar o procedimento da criação é imperativo. Assim como no texto do mestre moderno, o poema de Paulo é criado a partir da ironia e da negação (“Não aguarde...”, “Não a disseque...”), e começa com um verso que sintetiza, de certa forma, os roteiros da sua própria poética: “Não procure fartura na poesia”. É muito bom que um poema comece “gracilianamente” expondo os seus versos-ramos.
Outros ecos drummondianos são audíveis no poema “Antiterror”. Nele, o poeta utiliza-se da função conativa da linguagem, em sintonia com o vate de “Consolo na Praia” que diz: “Vamos, não chores.” Paulo torna-se imperativo: “Vamos/ embarque no trem sem receio...” Sem receio é mesmo a forma como Paulo devora Drummond. O poema “Ópera Carioquinha” é um belo e descarado simulacro de “Retrato de uma cidade” – poema no qual o poeta mineiro faz a sua maior declaração de amor ao Rio de Janeiro, ao dizer:
Aqui
amanhece como em qualquer parte do mundo
mas vibra o sentimento
de que as coisas se amaram durante a noite.
...
Em sua “Ópera...”, Paulo musica o formato das ruas e morros da cidade onde nasceu em 1971. E ainda faz alusão a outros poemas de Drummond, como “Inocentes do Leblon” (Sentimento do Mundo). Aqui, o “óleo suave” do mineiro transforma-se em “óleo macio” para a juventude carioca que dialoga com o sul dos próprios corpos.
Referências ao poeta que dizia não haver ausências são infindas. Paulo ainda duvida: “ – a ausência existe?” Essas referências podem ser lidas no “Verso sem gravidade” ou na “Madrugada Mineira”, onde uma “cidadezinha mineira” de Paulo remete a uma “Cidadezinha Qualquer”, de Alguma Poesia, de Carlos. Ou seja, assim como os poetas e os poemas presentes, “o vento sempre inventa outra assinatura”.
Que outros ventos – virtuais, corpóreos, contemporâneos – inventem, assinem e abreviem os próximos poemas de Paulo é o meu desejo. Tomara que ele penetre surdamente no reino dos corpos e das coisas. Assim como o primeiro Drummond, o primeiro Paulo abreviou o corpo. Será que ele também acredita que o amor começa tarde?
I
Com prefácio do escritor e professor Edgard Pereira, Abreviaturas do Invisível (2009) é o primeiro livro do poeta Paulo Merçon. No texto “Partilhar um pouco de tudo”, Edgard entrega a senha desta poesia que, feita em Itabira, é “cortada por um rio austero” cujas águas são claramente drummondianas em sua tonalidade. Diz o prefácio de Edgard: “Dentre as múltiplas facetas do talento de Paulo Merçon, a tendência a refletir sobre a linguagem poética, a revitalização da metáfora e a escolha da cidade como tema são também traços singulares que de imediato se destacam.”
Ensaísta que possui na poesia de Carlos Drummond um dos seus objetos de leitura, Edgard parece referir-se ao poeta que nasceu em Itabira-MG em 1902, quando ressalta os talentos de Paulo que mora em Itabira em 2009. Leitores da poesia moderna, sabemos que a reflexão metalingüística, a seleção metafórica e a leitura da cidade perpassam as principais poéticas da modernidade, e ganham na produção drummondiana uma acentuada inscrição.
Em Abreviaturas do Invisível, Itabira vê Drummond. Digo: Paulo Merçon lê Carlos Drummond. No recorte vocabular deste livro ecoa uma polifonia de versos e discursos dos quais é audível, com bastante intensidade, a voz do autor de Corpo (1984). Nessa audição, Paulo relê e abrevia as muitas faces do poeta que sabia ter cada cidade a sua linguagem, e que escreveu em Amar se Aprende Amando (1985): “Tendo a Glória do Outeiro, estou com tudo.” Para essas releituras urbanas e abreviações estéticas, o jovem autor lança mão de uma série de procedimentos estéticos como as paródias, os intertextos e as simulações (nenhuma paráfrase, please!), demonstrando ser um poeta do seu tempo. Melhor: lidando com as linguagens do seu tempo.
Atento às nuances deste tempo, o autor constrói um produtivo diálogo com o seu contexto. Isso é louvável, já que a maioria dos jovens autores recorta um contexto pretérito e sua linguagem já dita. Agrada-me muito os versos que estetizam temas e procedimentos contemporâneos, tais como: “Cada e-mail que envio é um sopro/ uma vertigem que escapa, um vôo”. Paulo demonstra ser um exímio leitor de voos, ventos e tempestades virtuais. Rasura, com acerto, assinaturas do vento urbano. Copia as rubricas do seu tempo de iPod e peixe, Internet e engasgos...
II
Voltemos aos procedimentos modernos. O poema “Confidência ao Itabirano” é uma exímia paródia construída a partir do conhecidíssimo texto “Confidência do Itabirano”, do livro Sentimento do Mundo (1940) – o segundo volume de poemas de Carlos que troca o individualismo de Alguma Poesia (1930) por um olhar universal em prol da coletividade. No novo poema, a troca da preposição “do” pela preposição “ao” cria uma inusitada interlocução, a partir da qual o poeta abrevia a visibilidade moderna e a põe, neste milênio, em movimento, desta forma:
enquanto do vidro
do carro Itabira
é a mesma fotografia
(agora em
movimento)
teus versos que
já me doeram mais.
O simulacro poético é o procedimento utilizado por Paulo em “Leitura da Poesia” – poema dedicado ao próprio Drummond –, e que remete ao seu poema “Procura da Poesia”, do livro A Rosa do Povo (1945), onde a necessidade de desvendar o procedimento da criação é imperativo. Assim como no texto do mestre moderno, o poema de Paulo é criado a partir da ironia e da negação (“Não aguarde...”, “Não a disseque...”), e começa com um verso que sintetiza, de certa forma, os roteiros da sua própria poética: “Não procure fartura na poesia”. É muito bom que um poema comece “gracilianamente” expondo os seus versos-ramos.
Outros ecos drummondianos são audíveis no poema “Antiterror”. Nele, o poeta utiliza-se da função conativa da linguagem, em sintonia com o vate de “Consolo na Praia” que diz: “Vamos, não chores.” Paulo torna-se imperativo: “Vamos/ embarque no trem sem receio...” Sem receio é mesmo a forma como Paulo devora Drummond. O poema “Ópera Carioquinha” é um belo e descarado simulacro de “Retrato de uma cidade” – poema no qual o poeta mineiro faz a sua maior declaração de amor ao Rio de Janeiro, ao dizer:
Aqui
amanhece como em qualquer parte do mundo
mas vibra o sentimento
de que as coisas se amaram durante a noite.
...
Em sua “Ópera...”, Paulo musica o formato das ruas e morros da cidade onde nasceu em 1971. E ainda faz alusão a outros poemas de Drummond, como “Inocentes do Leblon” (Sentimento do Mundo). Aqui, o “óleo suave” do mineiro transforma-se em “óleo macio” para a juventude carioca que dialoga com o sul dos próprios corpos.
Referências ao poeta que dizia não haver ausências são infindas. Paulo ainda duvida: “ – a ausência existe?” Essas referências podem ser lidas no “Verso sem gravidade” ou na “Madrugada Mineira”, onde uma “cidadezinha mineira” de Paulo remete a uma “Cidadezinha Qualquer”, de Alguma Poesia, de Carlos. Ou seja, assim como os poetas e os poemas presentes, “o vento sempre inventa outra assinatura”.
Que outros ventos – virtuais, corpóreos, contemporâneos – inventem, assinem e abreviem os próximos poemas de Paulo é o meu desejo. Tomara que ele penetre surdamente no reino dos corpos e das coisas. Assim como o primeiro Drummond, o primeiro Paulo abreviou o corpo. Será que ele também acredita que o amor começa tarde?
Marcadores:
Carlos Drummond,
Cidades,
e-mail,
Edgard Pereira,
Intertexto,
iPod,
Modernismo,
Paulo Merçon,
Poema,
Poesia contemporânea,
Resenha,
Tempo
terça-feira, 29 de dezembro de 2009
História com pernoite em albergue
Apesar do branco e da mão na marcha
sigo a senha da sinalização na estrada
e digo: que mais haverá em seguir
senão ir adiante, não parar mas seguir?
O roteiro é curvo. Anuncia em meio
a setas claras e serras esverdeadas
o tempo do amasso e a distribuição
de água para quem tem sede, é só
sigo a senha da sinalização na estrada
e digo: que mais haverá em seguir
senão ir adiante, não parar mas seguir?
O roteiro é curvo. Anuncia em meio
a setas claras e serras esverdeadas
o tempo do amasso e a distribuição
de água para quem tem sede, é só
sábado, 12 de dezembro de 2009
Naus a haver

.
.
.
.
.
.
Texto escrito com base na arguição da tese de doutorado A Hora e o Nevoeiro - Discurso épico, Vontade de Potência e Mal-estar da Modernidade, de Francisco Welson, defendida em 2008 na UFRN, sob orientação da professora Dra. Ilza Matias de Sousa.
.
.
I – A Hora da Forma
A tese A Hora e o Nevoeiro me pegou desde o título. Fiquei intelectual e emocionalmente aceso quando deparei com este título que parece sintetizar o que de mais preciso e precioso caracteriza a poesia de Fernando Pessoa em Mensagem: discurso épico, Vontade de Potência e Mal-estar da Modernidade.
Depois deste título belo e imagético, veio a surpresa da forma da tese (que pode ser lida como um roteiro poético – “uma épica impraticável”, filosófico e teórico da modernidade no século XX). Como Mensagem – Brasão, Mar Português, O encoberto –, a tese divide-se em três partes: A vontade de potência e a grandeza impossível, Em busca do aedo perdido e O resgate das vozes do passado.
Trata-se um de texto denso, teoricamente bem urdido, que une reflexão e domínio estético. Apresenta um exímio exercício de concisão e síntese, adensando muitas vezes num mesmo parágrafo questões teóricas e contextualizações históricas com problemas estilísticos atinentes ao verso, à sílaba, à rima. A tese inscreve-se na rubrica acadêmica da Literatura Comparada. Seu corpus apresenta um repertório que delimita muito bem o desenho teórico e reflexivo sugerido pela obra em estudo.
A pesquisa apresenta coerência e rigor ao traçar relações interdisciplinares (entre a literatura, história, filosofia, mitologia e religião) e os discursos intertextuais. Em diferentes trechos, Francisco Welson traça comparações entre Pessoa e Camões (p. 121, 122), acionando um diálogo entre 0s 44 poemas de Mensagem escritos durante 21 anos e Os Lusíadas.
As relações se dão também entre Mensagem e outros poemas de Pessoa, Mensagem e poemas de outros heterônimos de Pessoa, como “Tabacaria”; Mensagem e Odisséia; Pessoa e Baudelaire, entre Baudelaire e Bataille; entre Pessoa e Pessoa como poeta no qual ecoam autores clássicos e românticos.
Essas comparações não se limitam ao plano autoral. A tese é bastante feliz quando compara, por exemplo, os feitos de Portugal com as realizações dos gregos (p. 36), ou quando relaciona a providência como “motor lusitano” e o capital como “motor espanhol”.
Os discursos do mito e do logos são também confrontados como formas de conhecimento que “ordenam a estrutura do simbólico”, assim como a palavra e o gesto do aedo, cuja postura sincrônica (“sua palavra seria irmã do gesto”) diferem radicalmente da postura do poeta moderno, para quem o gesto – o comportamento – vai deixando cada vez mais de ser um elemento crítico.
Como intérpretes representativos da modernidade, Nietzsche e Walter Benjamin também participam do banquete comparativo, e em alguns momentos aproximam-se (p. 75). De várias maneiras as formas de pensar e sentir são aqui confrontadas, relidas. Pessoa e Nietzsche aproximam-se através das idéias de vontade de potência e entram em sintonia ao lerem, por exemplo, o cristianismo como fonte de enfermidade e de sofrimento.
Mas os mesmos autores – Pessoa e Nietzsche – afastam-se quando, por exemplo, o poeta tenta ressussitar o Deus morto pelo filósofo de quem foi leitor. Além da relevância ao traçar essas comparações, a tese possui um mérito louvável: é escrita sem o “tom onipotente” que caracteriza algumas escritas proprietárias de grandes certezas (p. 31: “Pessoa parecia ter consciência disso...” / p. 37: “A nosso ver, Pessoa pretendeu...”).
O trabalho com a linguagem é outro aspecto importante da tese. Seu texto não ostenta registros das funções conativa (o que alivia bastante na tarefa da leitura), nem se vale da função metalingüística da linguagem. A linguagem é clara; às vezes metafórica. Em alguns trechos beira poesia.
Esse discurso com função poética pode ser mensurado em expressões como “subúrbios do universo” (p. 23) ou como no trecho a seguir, onde Welson inscreve o espaço da modernidade e fala sobre a condição de ser moderno: “De forma que a ausência de chão para se pisar dará origem ao caos, caracterizando o novo espaço como lugar de combate, angústia...” (p. 39).
As leituras da maioria dos poemas são repletas de referências históricas e estéticas (como no “D. Dinis” cuja leitura se dá em conexão com os textos de Quesado e Soares). Poeta e rei, D. Dinis fundou a primeira universidade portuguesa e incentivou a agricultura, sendo portanto “o plantador de naus a haver”.
Os discursos teórico e poético aproximam-se também quando Welson fala sobre o espaço no qual se situa o poeta moderno. Diz ele: “o que resta é essa noite como símbolo de uma ausência de brilho e fulgor, num espaço em que a luz se ausenta e não permite, frente a um esforço maior, uma melhor apreensão das imagens que se formam” (29). Leitura essa que se faz em sintonia com o último poema de Mensagem: “brilho sem luz e sem arder”.
“O mito é o nada que é tudo”. Esse verso do poema “Ulisses” surge na tese como uma espécie de mantra ao qual Welson recorre de quando em vez quando deseja questionar conceitos como verdade e realidade, dentre outros. “O mito é o nada que é tudo” pode ser lido como parte da trilha sonora deste texto onde a encenação do discurso mítico leva em conta a “função epifânica” (p. 28).
A tese é atravessada por este mito que sendo o nada é também tudo. Parece haver no texto um pathos dramático, da ordem do paradoxo, de uma contradição permanente que caracteriza também a própria idéia da modernidade, e que põe em cena os extremos, o todo e a parte, a palavra sagrada e a linguagem como ruína. Essa ordem paradoxal é ratificada na repetição do verso de “Ulisses”.
II – Leitura do Nevoeiro
“Há metáforas que são mais reais do que a gente que anda na rua. Há imagens nos recantos de livros que vivem mais nitidamente que muito homem e muita mulher”
(Bernardo Soares, O Livro do Desassossego)
A Hora e o Nevoeiro trata da condição do ser moderno numa outra ordem. Nesta ordem, o logos, as idéias positivistas dão o tom e os valores são criados sem conexões com a metafísica cristã (p. 67, 81). Nesta leitura, emerge a importância de acionar uma leitura do modelo de nação criado por Mensagem; modelar “uma identidade cultural portuguesa” (p. 35); desenhar uma nação através da linguagem, num contexto no qual a palavra deixou de ser sagrada. (p. 57, 63, 73)
Esse parece ser um dos principais objetivos da tese: “É isto que se pretende resgatar no imaginário português: a idéia de uma nação... de constituir-se a pátria do Quinto Império.” (p. 42). Esse modelo surge em sintonia com a “condição portuguesa” (p. 29) que tem na “angústia” um dos seus sintomas mais ressaltados. “Mensagem foi pensada por Pessoa como uma ação de resgate da grandeza perdida” (p। 44).
I – A Hora da Forma
A tese A Hora e o Nevoeiro me pegou desde o título. Fiquei intelectual e emocionalmente aceso quando deparei com este título que parece sintetizar o que de mais preciso e precioso caracteriza a poesia de Fernando Pessoa em Mensagem: discurso épico, Vontade de Potência e Mal-estar da Modernidade.
Depois deste título belo e imagético, veio a surpresa da forma da tese (que pode ser lida como um roteiro poético – “uma épica impraticável”, filosófico e teórico da modernidade no século XX). Como Mensagem – Brasão, Mar Português, O encoberto –, a tese divide-se em três partes: A vontade de potência e a grandeza impossível, Em busca do aedo perdido e O resgate das vozes do passado.
Trata-se um de texto denso, teoricamente bem urdido, que une reflexão e domínio estético. Apresenta um exímio exercício de concisão e síntese, adensando muitas vezes num mesmo parágrafo questões teóricas e contextualizações históricas com problemas estilísticos atinentes ao verso, à sílaba, à rima. A tese inscreve-se na rubrica acadêmica da Literatura Comparada. Seu corpus apresenta um repertório que delimita muito bem o desenho teórico e reflexivo sugerido pela obra em estudo.
A pesquisa apresenta coerência e rigor ao traçar relações interdisciplinares (entre a literatura, história, filosofia, mitologia e religião) e os discursos intertextuais. Em diferentes trechos, Francisco Welson traça comparações entre Pessoa e Camões (p. 121, 122), acionando um diálogo entre 0s 44 poemas de Mensagem escritos durante 21 anos e Os Lusíadas.
As relações se dão também entre Mensagem e outros poemas de Pessoa, Mensagem e poemas de outros heterônimos de Pessoa, como “Tabacaria”; Mensagem e Odisséia; Pessoa e Baudelaire, entre Baudelaire e Bataille; entre Pessoa e Pessoa como poeta no qual ecoam autores clássicos e românticos.
Essas comparações não se limitam ao plano autoral. A tese é bastante feliz quando compara, por exemplo, os feitos de Portugal com as realizações dos gregos (p. 36), ou quando relaciona a providência como “motor lusitano” e o capital como “motor espanhol”.
Os discursos do mito e do logos são também confrontados como formas de conhecimento que “ordenam a estrutura do simbólico”, assim como a palavra e o gesto do aedo, cuja postura sincrônica (“sua palavra seria irmã do gesto”) diferem radicalmente da postura do poeta moderno, para quem o gesto – o comportamento – vai deixando cada vez mais de ser um elemento crítico.
Como intérpretes representativos da modernidade, Nietzsche e Walter Benjamin também participam do banquete comparativo, e em alguns momentos aproximam-se (p. 75). De várias maneiras as formas de pensar e sentir são aqui confrontadas, relidas. Pessoa e Nietzsche aproximam-se através das idéias de vontade de potência e entram em sintonia ao lerem, por exemplo, o cristianismo como fonte de enfermidade e de sofrimento.
Mas os mesmos autores – Pessoa e Nietzsche – afastam-se quando, por exemplo, o poeta tenta ressussitar o Deus morto pelo filósofo de quem foi leitor. Além da relevância ao traçar essas comparações, a tese possui um mérito louvável: é escrita sem o “tom onipotente” que caracteriza algumas escritas proprietárias de grandes certezas (p. 31: “Pessoa parecia ter consciência disso...” / p. 37: “A nosso ver, Pessoa pretendeu...”).
O trabalho com a linguagem é outro aspecto importante da tese. Seu texto não ostenta registros das funções conativa (o que alivia bastante na tarefa da leitura), nem se vale da função metalingüística da linguagem. A linguagem é clara; às vezes metafórica. Em alguns trechos beira poesia.
Esse discurso com função poética pode ser mensurado em expressões como “subúrbios do universo” (p. 23) ou como no trecho a seguir, onde Welson inscreve o espaço da modernidade e fala sobre a condição de ser moderno: “De forma que a ausência de chão para se pisar dará origem ao caos, caracterizando o novo espaço como lugar de combate, angústia...” (p. 39).
As leituras da maioria dos poemas são repletas de referências históricas e estéticas (como no “D. Dinis” cuja leitura se dá em conexão com os textos de Quesado e Soares). Poeta e rei, D. Dinis fundou a primeira universidade portuguesa e incentivou a agricultura, sendo portanto “o plantador de naus a haver”.
Os discursos teórico e poético aproximam-se também quando Welson fala sobre o espaço no qual se situa o poeta moderno. Diz ele: “o que resta é essa noite como símbolo de uma ausência de brilho e fulgor, num espaço em que a luz se ausenta e não permite, frente a um esforço maior, uma melhor apreensão das imagens que se formam” (29). Leitura essa que se faz em sintonia com o último poema de Mensagem: “brilho sem luz e sem arder”.
“O mito é o nada que é tudo”. Esse verso do poema “Ulisses” surge na tese como uma espécie de mantra ao qual Welson recorre de quando em vez quando deseja questionar conceitos como verdade e realidade, dentre outros. “O mito é o nada que é tudo” pode ser lido como parte da trilha sonora deste texto onde a encenação do discurso mítico leva em conta a “função epifânica” (p. 28).
A tese é atravessada por este mito que sendo o nada é também tudo. Parece haver no texto um pathos dramático, da ordem do paradoxo, de uma contradição permanente que caracteriza também a própria idéia da modernidade, e que põe em cena os extremos, o todo e a parte, a palavra sagrada e a linguagem como ruína. Essa ordem paradoxal é ratificada na repetição do verso de “Ulisses”.
II – Leitura do Nevoeiro
“Há metáforas que são mais reais do que a gente que anda na rua. Há imagens nos recantos de livros que vivem mais nitidamente que muito homem e muita mulher”
(Bernardo Soares, O Livro do Desassossego)
A Hora e o Nevoeiro trata da condição do ser moderno numa outra ordem. Nesta ordem, o logos, as idéias positivistas dão o tom e os valores são criados sem conexões com a metafísica cristã (p. 67, 81). Nesta leitura, emerge a importância de acionar uma leitura do modelo de nação criado por Mensagem; modelar “uma identidade cultural portuguesa” (p. 35); desenhar uma nação através da linguagem, num contexto no qual a palavra deixou de ser sagrada. (p. 57, 63, 73)
Esse parece ser um dos principais objetivos da tese: “É isto que se pretende resgatar no imaginário português: a idéia de uma nação... de constituir-se a pátria do Quinto Império.” (p. 42). Esse modelo surge em sintonia com a “condição portuguesa” (p. 29) que tem na “angústia” um dos seus sintomas mais ressaltados. “Mensagem foi pensada por Pessoa como uma ação de resgate da grandeza perdida” (p। 44).
Assim como no passado literário de Portugal lido por Eduardo Lourenço, na nação modelada pela poeta o imaginário possui um papel determinante (p. 85). Exemplar da dimensão do imaginário na identidade lusa é a imagem do guerreiro D. Sebastião na letra de Pessoa. Esse imaginário ecoa em Bernardo Soares: “Sofri em mim, comigo, as aspirações de todas as eras, e comigo passearam, à beira ouvida do mar, os desassossegos de todos os tempos”. (187)
No desenho desta nação, são recorrentes as idéias de totalidade e universalidade que sedimentam as grandes narrativas da modernidade, e que perseguem autores e críticos de contextos sociais e lingüísticos os mais díspares como Benjamin, Lukacs, Clarice, Guimarães Rosa e Pessoa: “Sentir tudo de todas as maneiras...”
A noção de verdade aparece relacionada, em Pessoa, à idéia de completude (p. 24). Não há falta na verdade. O próprio “futuro” de Portugal “é sermos tudo”. (p. 18). Esse futuro começa a ser traçado no discurso bíblico de Daniel e na palavra profética de Nostradamus; passa pelas quadras populares de Bandarra, adentra a oratória de Vieira e chega em Pessoa com um vigor que parece encobrir a ruína, o mal-estar de onde provém.
Marcadores:
Baudelaire,
Camões,
Ensaio,
Fernando Pessoa,
Francisco Welson,
Identidade,
Ilza Matias de Sousa,
Imaginário,
Mito,
Modernismo,
Nação,
Nietzsche,
Poema,
Verdade,
Walter Benjamin
terça-feira, 24 de novembro de 2009
Oswald Hotel
Um canibal compõe a balada
do pau brasil e deste hotel
cujo mármore claro refrata
o rosa neon da esplanada
Antigos funcionários chuvosos
apagam com bocegos a noite
e a mancha que o espelho tece
aos olhos passantes no hall
No ap, o sonho voa outra vez
das Letras de Ana, Caio, Eli
da prova dos nove do carpete
puído de onde brota o sol
São Paulo, 1998
do pau brasil e deste hotel
cujo mármore claro refrata
o rosa neon da esplanada
Antigos funcionários chuvosos
apagam com bocegos a noite
e a mancha que o espelho tece
aos olhos passantes no hall
No ap, o sonho voa outra vez
das Letras de Ana, Caio, Eli
da prova dos nove do carpete
puído de onde brota o sol
São Paulo, 1998
sexta-feira, 20 de novembro de 2009
Tramando Mar
O mar faz barulho porque não tem filho
Trouxe-me o mar
e tudo o que nele há:
peixe pedra alga e algo
tecido na trama do tempo
Trouxe-me o lar
numa travessia corpórea
que me faz mergulhar
em costas terrestres
Trouxe-me o ar
de sua graça marítima
e o desejo mirante
de ser rio, onda
Natal, 1998
Trouxe-me o mar
e tudo o que nele há:
peixe pedra alga e algo
tecido na trama do tempo
Trouxe-me o lar
numa travessia corpórea
que me faz mergulhar
em costas terrestres
Trouxe-me o ar
de sua graça marítima
e o desejo mirante
de ser rio, onda
Natal, 1998
segunda-feira, 16 de novembro de 2009
Ana C. por HBH
...identifico um ‘ethos’ substancialmente diverso
daquele dos anos 1970-80, como em Ana Cristina Cesar,
cujo jogo de subjetividades ostensivas, atuadas, desmontadas,
encenadas, prismáticas, colocou a poesia feita
por mulheres na vanguarda da sua geração.
Heloísa Buarque de Hollanda, Corola (Prefácio)
Primeiras Impressões
Tinha eu por volta dos 20 anos quando cursava Letras na UFRN e li Impressões de Viagem, de Heloísa Buarque de Hollanda. Lembro da sensação de vitalidade que senti frente a um texto que falava de temas contemporâneos e dificilmente abordados pela crítica acadêmica daquela época, como: CPC, vanguarda, desbunde, tropicalismo e, dentre outros, a poesia como instrumento ideológico. Desde então as Impressões... de Heloísa marcaram minha trajetória de Letras. Sempre que pensava o novo, o contemporâneo, tinha naquele texto uma referência imediata. Era início dos anos 80, e até hoje penso nesse livro repleto de poesia como um objeto de intensa vitalidade.
No início dos anos 80 li Poesia Jovem anos 70 – texto onde Heloísa revista esse gênero no qual as relações entre som e sentido são potencializadas. Só depois é que conheci sua antologia 26 Poetas Hoje (1976) e um ensaio em parceria com Armando Freitas Filho e Marcos Augusto Gonçalves: Anos 70 – Literatura (1979). Tendo por base essa produção inicial, os textos publicados nas mídias impressa e eletrônica, passando depois por sua incursão pelos Estudos Culturais, até a antologia Esses Poetas (1998) e o ensaio “Duas Poéticas, Dois Momentos” [1], podemos considerar o roteiro traçado por HBH como uma das referências básicas para a leitura da poesia escrita no Brasil no final do século XX.
Também nos primeiros anos da década de 80 conheci o livro A teus pés de Ana Cristina Cesar. Lembro claramente de uma noite em claro – num quarto de hotel do Recife – onde devorei aquele volume vermelho que me devorava. O texto eletrizante da poeta carioca deixou-me para sempre ligado em suas “Sete Chaves”. Ela falava de coisas cruéis e abissais com um misto de doçura, ironia e sofisticação que até então o leitor que eu era desconhecia. Eu não imaginava que Ana também seria uma marca decisiva na minha trajetória de Letras...
A partir de então acompanhei o que ia sendo lançado por essas duas damas das Letras cariocas. Na década de noventa pude reuni-las num mesmo texto, ao escrever Luvas na Marginália – dissertação de mestrado tendo a poesia de Ana C. como objeto de reflexão, e onde eu me utilizava da Introdução da Antologia 26 Poetas Hoje para refletir acerca do contexto no qual Ana foi lançada. Neste início de milênio, quando comecei a selecionar o corpus para a minha tese de doutorado, não incluí de imediato a autora do olhar estetizante entre os seis poetas. Somente no meio do percurso me dei conta de que ainda não havia esgotado o desejo em relação à sua escrita. Hei-la de volta, pois. E este retorno se dá através da professora e escritora com a qual Ana manteve um dos intertextos mais produtivos de sua vida e de sua produção literária: a própria Heloísa.
Na orelha da Correspondência Incompleta de Ana C., organizada por Heloísa e Armando Freitas Filho, a poeta que considerava como provisório ser da condição dos avessos [2], diz: cartas e biografias são mais arrepiantes que a literatura. Com base nessa assertiva relembrada por Heloísa durante nossa entrevista, utilizei – no capítulo referente a Ana –, trechos das Cartas de Caio Fernando Abreu, nas quais o autor de Os dragões não conhecem o paraíso fala sobre a poeta. Caio, como diz Heloísa nesta entrevista, é o masculino de Ana. Mais, ainda: ele é a primeira contracapa de A teus pés. Sobre esse e outros temas Heloísa lança, a seguir, o seu olhar, a sua voz.
A vida, sem intermediário
Nonato Gurgel: Na introdução da Antologia 26 Poetas Hoje (1976) você diz de uma poesia que restabelecendo o elo entre poesia e vida, restabelece o nexo entre poesia e público. Como era essa relação entre poesia e vida? Como situar a poeta Ana C. naquele contexto?
Heloísa Buarque de Holanda: Entre poesia e vida, o que os poetas daquele período queriam era tirar o intermediário. Queriam viver poeticamente. Tinham um compromisso enorme entre as ações de viver e escrever. Você lembra daquele poema do Cacaso: Poesia/ Eu não te escrevo/ Eu te/ Vivo/ E viva nós? Era verdade. Aqueles poetas não se permitiam uma porção de coisas... Para esse grupo da poesia marginal entrar, por exemplo, na TV Globo, demorou muito. Porque havia uma coisa de não se comprometer com o mercado, de não se comprometer com a lógica do trabalho. Poesia e vida eram a mesma coisa: era preciso viver poeticamente. Então eles tinham roupas esquisitas, as performances; artimanhas – como eles chamavam. Os poetas faziam os próprios livros; faziam com amigos... Os livros da Ana, cada um fazia uma capa... A produção editorial era uma produção afetiva. Então, você não tinha uma separação entre a produção, a divulgação e a própria vida. Quando paravam de escrever poesia, eles não deixavam de ser poeta: eles iam ler os poemas na porta do cinema...
Cacaso, como professor, era um intermediário interessante porque ele tentava não se institucionalizar. Mas, por exemplo, o Schwarz, o Chico Alvim, que era diplomata, eles não se misturavam muito com essas coisas... A Ana se misturava. Ela era uma coisa assim... Um objeto estranho. Ela estava lá, mas não era igual a turma; porque essa coisa de vida e arte na Ana não era a mesma coisa. Arte, para ela era uma coisa muito séria, muito trabalhada, muito profissional: o texto dela não era escrito ao acaso em hipótese alguma. Era escrito, reescrito e somente depois era mostrado, discutido, com muitas referências culturais. Ela tinha uma relação com a poesia menos canônica... Ela não saía por aí rabiscando bilhetinhos. Havia um cuidado muito especial com o texto e com a parte gráfica. Ela sabia direitinho o que queria; não publicava tudo, era bem diferente da atitude da maioria... Então, é interessante porque até aí ela era um pouco deslocada, quer dizer: era a turma dela, mas ela não era reconhecida nem reconhecia aquela turma. Você falou daquele olhar em eclipse da Ana... Era um olhar até comportamental. Ela estava mas não estava...
NG: Era um olhar performático?
HBH: Não, eu acho que era desconfortável.
NG: Desconfortável significa participar de reuniões políticas, reuniões de jornais? Isso era meio difícil para ela?
HBH: Sim. Principalmente as reuniões poéticas nas casas dos poetas, nas fazendas, onde todos discutiam seus trabalhos. Isso para ela era muito difícil. Porque o texto dela consistia num trabalho de ourivesaria, muito encenado, construído.
NG: Tem uma moça – a Regina Cunha Lima – que escreveu uma dissertação sobre o desejo no texto da Ana, e ela diz que a poeta não tinha interlocução. Você acha que Ana tinha interlocutor?
HBH: Tinha. Ela alugava todo mundo. Ela foi minha orientanda no mestrado: era um inferno! Não escrevia uma vírgula sem consultar... E tinha as outras professoras, a Clara Alvim, todas viraram amigas delas. Havia muitos interlocutores. Os outros poetas, também, discutiam com ela o tempo todo. O Chico Alvim... Aqueles trabalhos dela eram todos muito interlocutados. Agora, o que eu acho que acontecia era que esses interlocutores falavam e ela não ouvia... (risos). A moça tem uma certa razão, na medida em que Ana não aceitava... Ela ouvia mais ou menos... Mas não era uma coisa séria o aluguel que ela fazia da gente. Tinha uma coisa de sedução, de encenação. Ela encenava muito essa necessidade de ler, corrigir, de discutir o texto. Ela encenava. Era engraçado porque era diferente de precisar, de estar realmente interessada na resposta... Ela meio que manipulava um pouco isso, mas o que tinha de interlocutor disponível para ela, não era brincadeira. Talvez fosse a que mais tivesse. Desde o começo. Porque ela sempre fez uma personagem muito intrigante. Então todo mundo prestava muita atenção na Ana. Mas ela vampirizava tanto, que as pessoas acabavam saindo da vida dela.
NG: Numa outra fala, para o Wilson Coutinho, você diz o seguinte sobre a Ana: Ela foi a lady de uma geração, aquela que se convencionou chamar de filhos da PUC, porque muitos entraram na cultura ao abrigo dos pilotis da universidade. Lady ela era, magrinha, olhos claros, jeito de inglesinha às volta com chá e relva de jardim, uma espécie de aristocrata convivendo com poetas ditos marginais, artistas de charme vagabundo como Chacal e Charles.
Você mantém, hoje, essa imagem da poeta?
HBH: Mantenho. É um pouco o que eu estava querendo te dizer. Agora, o que eu acho interessante é essa necessidade dela de ficar neste lugar, e não ir para outro, entendeu? Porque ela tinha uma diferença. Era uma inglesinha, aristocrática, diferente. Mas ela tinha um hábito, ela se pertencia àquilo, a ponto de não sair dali. Ela tinha uma convivência profunda com aquelas pessoas: viajava, namorava àquelas pessoas; era tudo muito ligado àquele grupo. Ao mesmo tempo ela, lá, marcava a sua diferença.
NG: Tem um depoimento seu muito bonito, para a Ana Claudia Coutinho, no qual você diz que a Ana não fazia acordos, mas pactos. A partir disso eu escrevi que no texto da poeta não existe meio termo: ou o leitor faz o pacto (segredo, irracional) que, segundo você, Ana cobra na leitura, na autoria e na tradução, ou o leitor vai para outra margem à procura de um texto que sugira um acordo – algo mais simbólico e prazeroso, no sentido barthesiano.
HBH: É verdade. Você tem que responder a esse pacto. Ele consiste em manter uma certa distância, um certo respeito por uma coisa não dita...
NG: Só de não-ditos ou de delicadezas se faz minha conversa, ela escreve.
HBH: É, o pacto era esse. O respeito em torno disso: você topa isso ou não. A compreensão como exercício da leitura.
NG: Isso não era verbalizado, claro...
HBH: Não. Isso é uma idéia de leitura. E na própria relação dela. Porque tinha sempre alguma coisa não dita...
NG: Acho que em algum lugar você diz também que o pacto mata...
HBH: Matou. Na tese você vai escrever sobre a visibilidade?
NG: Sim. Estou tentando montar umas estratégias do olhar na poética da Ana. A primeira estratégia seria inscrita através da imagem de um olhar rápido, tipo cometa, mas, às vezes, um olhar em eclipse. Uma segunda estratégia seria desenvolvida através de um olhar que é uma extensão maquínica; e uma outra constrói um olhar que parece abandonar a dúvida do cogito cartesiano em prol de uma visão imaginária, meio lacaniana, na qual o sujeito além de olhar é olhado. O que você acha disso?
HBH: Eu concordo plenamente. Esse olhar maquínico, vejo um pouco menos. Tem algo disso, mas ela pula para a terceira estratégia imediatamente. Mesmo que ela tenha essa coisa de... , me parece que ela se situa mais no terceiro olhar. Um olhar especular e bem mais presente nela. Que é o olhar que a matou. ...Porque ela via através do olhar do outro o tempo todo. Aí ela encenava o desejo do outro, ela negociava com isso. ...Omitia-se e encenava de novo e encenava... Por esse motivo ela não pára. É inesgotável. Por isso você queria largá-la e ela retornou à cena, porque ela continua encenando. É essa coisa especular: você não a pega porque ela é um reflexo dela. A coisa dela é muito em cima dessa estratégia, eu acho. Esse estar no mundo dela que não era apenas na literatura; era com as pessoas também. ...O não-dito está aí dentro, que é especular... A materialidade da Ana era uma coisa um pouco complicada de você pegar... E eu não consigo ver muita diferença entre esse olhar especular e o olhar em eclipse, porque eu acho que um olhar deságua no outro. ...Você tem sempre uma ambigüidade aí, nesse reflexo... Porque o espelho é prismático... Ana, me parece, encenava a subjetividade o tempo todo... Era uma forma prismática...
E isso para o tema da visibilidade que você escolheu é maravilhoso, porque realmente é uma forma de ver... Uma forma meio perversa, mas é uma forma... de muita visibilidade onde é tudo imagem; uma produção imagética inesgotável: a imagem dela que é a imagem da imagem dela, e assim vai... até cair no abismo, realmente. Porque é abissal este lugar no qual ela se mete. Eu acho que é isso que traz esse fascínio da Ana... Mesmo a temática da mulher é maravilhosa com a Ana, porque é uma encenação. ... Uma coisa feminina... Se você pegar, por exemplo, naquele momento tinha muito essa coisa da mulher, da sensibilidade feminina, da escrita feminina... Ela até escreve sobre isso... Pois é. Mas aí ela pega isso e não se deixa manifestar... Ela trabalha esse tema de forma espiralada. Que é essa coisa que você falou do olhar...
NG: Você acha que nesse olhar eu poderia incluir o imaginário?
HBH: Pode. ...Só dá nisso. Mas vamos voltar ao olhar maquínico, que eu não entendi muito. Por que você falou isso? Por causa de um certo registro? Eu vejo isso nos cartões postais...
NG: É. Os escritos nos cartões, as fotografias no final de Luvas de Pelica, esse olhar que está sempre de passagem...
HBH: Meio que registrando. ...Com grandes intermediações...
NG: Sim. E perdendo um trem... depois na janela de algum automóvel... Um olhar de passagem... Mas, estou querendo contrapor a esse olhar à idéia rápida de um cometa, para não ficar apenas nessa imagem nublada do eclipse... Acho que fazendo esse contraponto do cometa com o eclipse fica bacana...
HBH: Fica. Eu acho que esse último – o olhar especular – ele não pára, ele é muito móvel, próximo dessa imagem do cometa... Porque ele se refaz a cada minuto, você não fixa... Mas o olhar intermediário... quando você fala maquínico, eu penso em carta.
NG: Também. É interessante essa idéia...
HBH: ...o outro suporta, o imaginado... como se fosse uma câmera... Eu penso em cartas, e carta para ela é um gênero importantíssimo. Ela tem uma frase colocada na orelha do livro Correspondência Incompleta (1999) que eu publiquei, na qual ela diz que cartas e biografias são mais arrepiantes que a literatura.
NG: E tem também os Escritos no Rio (1993) no qual ela fala que carta a gente escreve para mobilizar alguém...
HBH: ...E agora eu estou publicando as Cartas do Caio Fernando Abreu que o Italo Moriconi organizou. Caio é o masculino da Ana...
NG: Caio F. é também a primeira contracapa de A teus pés (1982).
HBH: Exatamente.
Notas
[1] HOLLANDA, Heloísa B. de. Revista Relâmpago. 2000. p. 43.
[2] CESAR, Ana C. Correspondência Incompleta. 1999. p. 88.
Marcadores:
Ana C.,
Armando F. Filho,
Cacaso,
Caio F,
cartas,
Chacal,
Chico Alvim,
Entrevista,
Heloísa Buarque de Hollanda,
Imaginário,
Leitura,
Mulher,
Outro,
Poema,
Poesia contemporânea,
Visibilidade
quinta-feira, 12 de novembro de 2009
Bandeira do Divino
Trecho da Aula da Saudade proferida, em 1993, para a turma concluinte do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola de Ceará-Mirim-RN.
Deus está solto
O único assunto é Deus
Deus salva; arte, alivia
Deus é curvo e lento
Deus não joga dados
Deus sabe o poder das coxas
Deus não existe, mas é muito justo
Deus não castiga sem ter avisado antes
Deus é paciência. O contrário, é o Diabo. Se gasteja.
A raça humana
é uma semana
do trabalho de Deus
Deus não curte quem cedo madruga
Um Deus dormiu lá em casa e foi bom
A íris do olho de Deus tem muitos arcos
Meu Deus não sei rezar
Por que me abandonastes
se sabias que eu não era Deus?
Deus está solto
O único assunto é Deus
Deus salva; arte, alivia
Deus é curvo e lento
Deus não joga dados
Deus sabe o poder das coxas
Deus não existe, mas é muito justo
Deus não castiga sem ter avisado antes
Deus é paciência. O contrário, é o Diabo. Se gasteja.
A raça humana
é uma semana
do trabalho de Deus
Deus não curte quem cedo madruga
Um Deus dormiu lá em casa e foi bom
A íris do olho de Deus tem muitos arcos
Meu Deus não sei rezar
Por que me abandonastes
se sabias que eu não era Deus?
quarta-feira, 11 de novembro de 2009
Cicero possui a razão e as musas
O poeta faz objetos...
Já o filósofo não faz coisa alguma:
...ele se interessa pela própria verdade.
...O professor, que é um filólogo,
se interessa pelo verso em si,
não pela sua verdade.
Antonio Cicero
Eco da voz do outro
A primeira vez aconteceu no Rio de Janeiro, em 1999. O CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil – promovera uma Roda de Leituras sobre a obra de Antonio Cicero, e o poeta lá estava para ler seus textos. Após a leitura, pedi um autógrafo num livro que lia naquela ocasião. Ele foi bastante gentil frente a minha aparente ansiedade e escreveu: Perdida em mim a voz do outro ecoa.
A voz de Cicero ecoava em mim desde o final dos anos 70 quando, em terras potiguares, sua irmã Marina Lima passou a fazer parte da trilha sonora da minha vida. Nos anos seguintes, a intérprete da subjetividade moderna entoaria versos de Cicero que, estetizando os acontecimentos e a falta que arde na pele (“Deixe estar”), marcariam o imaginário da minha geração: Eu amava e desamava/ sem peso e com poesia (“Maresia”); o farol da ilha procura agora/ outros olhos e armadilhas (“Virgem”); e o meu coração festeja o acaso que aconteceu (“Próxima Parada”).
Depois dessas, muitas outras letras do poeta sonorizariam minha trilha. No início dos anos 90, novamente o eco de sua voz. Agora advinda de uma certa Zona de Fronteira – disco do João Bosco que possui o requinte de suas parcerias com Antonio Cicero e Waly Salomão em textos como “Sábios costumam mentir”. Nessa “fronteira”, quando a trindade de compositores se dissolve em algumas canções, não é difícil distinguir na música de João a voz do poeta de “Granito”: Há entre as pedras/ e as almas/ afinidades/ tão raras/ como vou dizer?
A seguir conheci os poemas escolhidos de Guardar (Ed. Record, 1996). Além dos textos inéditos, a coletânea evidenciou a maestria do poeta já entoado em todo o Brasil através de parcerias musicais com, dentre outros, Adriana Calcanhoto (“Inverno“ e “Água Perrier”), Orlando Moraes (“Dita”, “Onze e Meia” e “Logrador”) e Caetano Veloso (“Quase”). Além disso, Guardar traz em seu pórtico um poema de título homônimo que, segundo Italo Moriconi, nasceu antológico, fazendo com que ecoasse no território acadêmico a voz do seu autor.
A voz do poeta ecoara antes, em Natal, através de diversos segmentos da mídia: no filme O cinema Falado, de Caetano Veloso; no texto “As raízes e as antenas em debate” (Jornal Folha de São Paulo, 1885); no Atlas – coleção de poemas organizada por Arnaldo Antunes, e no registro em vídeo do ontológico Todas – show de Marina Lima, onde o autor aparece ao lado de outros artistas contemporâneos assumindo sua porção moderna. Esse foi o percurso que me levou ao compositor e ao poeta.
Faltava conhecer o filósofo que estudara no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em 2000 li O relativismo enquanto visão de mundo (Ed. Francisco Alves, 1994) – livro em parceria com Waly Salomão, que reúne e introduz textos de, dentre outros, Richard Rorty, Bento Prado Jr. e Ernest Gellner. Depois foi a vez de O mundo desde o fim (Ed. Francisco Alves, 1995). Neste livro de ensaios filosóficos, Cicero afirma o moderno em oposição ao contemporâneo (a modernidade não é aqui lida como “época histórica” [1]) e relê, dentre outras questões, “O Cogito e a Essência do Agora”. Para o exercício dessa releitura, o autor tece intertexto com um elenco de filósofos no qual se destacam Kant, Descartes e Santo Agostinho. Optando pela versão agostiniana do cogito, Cicero cita Descartes e seu “erro” – atribuir semelhanças entre suas idéias e o que se encontra “fora” de si –, para concluir que o cogito não pressupõe que exista um eu mas prova que eu sou.
O carioca Antonio Cicero sempre encarnou a modernidade. Herdeiro das superfícies e das profundezas, ele é proprietário de uma poética cuja densidade inscreve-se sob o signo da leveza, através de diversos suportes midiáticos. Além de registrada nos referidos livros, em jornais e revistas, essa letra inscreve-se também em antologias (Atlas, Outras Praias, Esses Poetas, Poesia Hoje e 41 Poetas do Rio), é audível no CD Antonio Cicero por Antonio Cicero (Coleção Poesia Falada, 1997), e visível no site do poeta, cuja epígrafe é a mesma do livro O mundo desde o fim: Salve musas, salve razão! (Pushkin).
Nesta entrevista feita na cidade de páginas e peles, o poeta revela seu gosto pelo computador, o horror à câmara, fala de Shakespeare e Caetano Veloso, Zeus e Epicuro, Platão e Sophia de Mello Breyner. Didático sem parecer pedante, ele vai do clássico ao pop e ainda nos diz de onde vêm as formas. Com a palavra, o poeta da leveza, cujas canções, cujos poemas e ensaios habitam, nas duas últimas décadas, o imaginário de gerações, ajudando-nos a construir áditos pórticos... ânditos... arcadas... portelas caminhos...[2]
Nonato Gurgel - Por suas contribuições poéticas, musicais e ensaísticas, você se destaca como um dos "tradutores" mais criativos da cena artística contemporânea. O que existe de confluente entre o poeta, o compositor e o filósofo Antonio Cicero?
Antonio Cicero – O poeta e o compositor às vezes se confundem. Por exemplo, vários poemas meus foram musicados depois de publicados. É o caso de "Logrador" e "Dita": impossível, nesses casos, distinguir o poeta do compositor. Há também os casos de letras de canções que primeiro publiquei como poemas: por exemplo, “Água Perrier” e “Inverno”. Por outro lado, há letras que eu não publicaria em livro, pois não me parecem ficar tão bem no papel quanto na canção; e há poemas menos musicáveis.
No meu caso, como não toco nenhum instrumento nem canto, quando faço uma letra é, em geral, para determinado compositor ou determinada compositora; e para ser cantada por determinado cantor ou cantora; quando faço um poema para ser lido, por outro lado, não penso necessariamente em ninguém em particular. Isso representa uma diferença muito importante entre o letrista e o poeta.
Além disso, o letrista leva em conta o fato de que seu poema será ouvido, e não lido. Ele deve (é uma regra geral, mas admite exceções) ser imediatamente inteligível para quem o ouve. Isso não significa que tenha que ser superficial. Tomorrow and tomorrow and tomorrow / creeps in this petty pace from day to day, / to the last syllable of recorded time, de Shakespeare, é imediatamente compreensível, mas quem dirá que é superficial? Uma letra pode ter inúmeros níveis, e é o que se percebe quando se ouve a letra de um grande poeta, como Caetano Veloso.
Em suma, é complexa a relação entre o poeta e o compositor.
Já a relação entre o poeta/compositor (digamos, para simplificar, o poeta), por um lado, e o filósofo, por outro, é mais simples: a atividade do poeta é completamente diferente da atividade do filósofo.
O poeta faz objetos, ainda que sejam objetos de palavras: poemas ou letras. Poemas ou letras são objetos formais, como o são as composições musicais. Do mesmo modo das composições musicais, esses objetos têm valor independentemente de dizerem a verdade. Seu valor não está na sua veracidade. Assim, o que o poema diz não pode ser dito "em outras palavras". A rigor, o poema não pode sequer ser traduzido.
Já o filósofo não faz coisa alguma: ele se interessa pelas primeiras (ou últimas) verdades: ele se interessa pela própria verdade. Segundo ele mesmo, o valor do que ele pensa ou diz está no fato de ser verdadeiro. A verdade que o filósofo pretende dizer pode ser dita em outras palavras; e pode ser traduzida. Por que? Porque o que interessa ao filósofo não é nenhum objeto de palavras que ele tenha construído: o que lhe interessa são as verdades que ele diz; as palavras não passam, para ele, de meios para dizê-las.
Gosto muito da anedota contada por Sextus Empiricus, segundo a qual, quando o professor de Epicuro leu o verso de Hesíodo que diz em primeiro lugar surgiu o caos, ele perguntou de onde surgiu o caos, já que surgiu em primeiro lugar. Ouvindo do professor que não era problema dele ensinar coisas assim, mas dos chamados filósofos, Epicuro disse: então é com eles que eu tenho que estudar, se são eles que sabem a verdade das coisas.
O professor, que é um filólogo, se interessa pelo verso em si, não pela sua verdade. Epicuro, já filósofo sem o saber, se interessa pela verdade, não pelo verso em si. É claro que estou usando poesia e filosofia, aqui, como tipos ideais e que, na realidade, as coisas não são tão puras. Mas a distinção continua sendo imprescindível. As tentativas, empreendidas por certas teorias literárias pseudo - e antifilosóficas à la page - elas mesmas produtos de um velho ressentimento da teoria literária contra as pretensões constitutivas da filosofia - de negar as diferenças entre o discurso filosófico e o poético resultam, normalmente, em péssima poesia e pior filosofia.
NG – No ensaio "A poesia e a filosofia" (Revista Poesia Sempre nº 13, Dez/2000), você associa a poesia à metonímia, diz que o poema consiste numa forma pura e vê o poeta como um produtor de formas. Na sua opinião, o que possibilita a produção dessas formas?
AC – O poema é forma no sentido que indiquei antes: no sentido em que uma palavra é forma. Isso quer dizer que o poema não se confunde com nenhuma das suas instâncias, embora não exista se não tiver ao menos uma instância. De onde vêm as formas? Do informe; como a ordem vem do caos, a superfície do fundo, o dia da noite. Mas dizer que o poema é forma não é dizer muito sobre a poesia. Muitas outras coisas, além do poema, são formas. Penso às vezes que o que distingue das outras formas o poema é que, sendo forma, de algum modo contém e revela o informe de onde provém.
A questão da metonímia se resume ao seguinte. Para os gregos arcaicos, poesia significava, em primeiro lugar feitura. Depois, passou a significar em particular um tipo especial de feitura: a feitura desses objetos de palavras que chamamos poemas. Isso quer dizer que uma parte da feitura foi designada com a palavra que significava o todo da feitura. Chamar uma parte com o nome do todo é a operação retórica denominada sinédoque. Quando eu, no artigo que você menciona, volto a usar a palavra poesia para designar feitura, no sentido amplo, realizo a operação retórica inversa, que é denominada metonímia.
NG – Para falar do relativismo, farei referência a três textos seus: o livro O relativismo enquanto visão de mundo (1994), e dois ensaios: "Poesia: Epos e Muthos" (1998) e "A poesia e a filosofia" (2000).
Na Introdução de O relativismo enquanto visão de mundo, você sugere as possibilidades do relativismo na construção dos sistemas cognitivos, na produção do que seja a verdade, nas relações subjetivas. No ensaio "Poesia: Epos e Muthos" está escrito que a poesia se interessa pelo relativo, enquanto a filosofia estaria mais interessada no absoluto. Mas, no texto "A poesia e a filosofia", você assegura: Mesmo logicamente é inconsistente afirmar o relativismo universal.
Gostaria que você tecesse relações entre o que sejam o relativo e o relativismo nestes contextos tão distintos.
AC – Na verdade, mesmo em O relativismo enquanto visão do mundo eu falo das aporias do relativismo (p.14), isto é, do fato de que, do ponto de vista da lógica formal, ele é insustentável, e chamo atenção para o fato de que hoje essas argumentações formais e acadêmicas ameaçam traduzir-se não apenas em problemas lógicos ou epistemológicos, ou em questões metodológicas da etnografia e da etnologia, mas em Realpolitik. Acho interessante citar por extenso o que digo nesse parágrafo, porque se aplica bem ao que ocorre hoje em dia: Embora muitas vezes o relativismo estrito seja defendido a partir de uma atitude pluralista, em que o relativista, negando-se a tomar qualquer verdade como absoluta, cede lugar a verdades alheias, com isso ele acaba minando sua própria posição. É que, como diz Platão sobre Protágoras, 'ele é vulnerável no sentido de que às opiniões dos outros dá valor, enquanto que esses não reconhecem nenhuma verdade às palavras dele'. Para o intolerante, o tolerante não passa de um fraco, a quem falta caráter ou convicção. Quais serão as conseqüências disso, num mundo em que fundamentalismos religiosos, racismos, nacionalismos, etc. têm se tornado cada vez mais comuns? Será, então, que cada um de nós se encontra, neste final de milênio, ante o dilema de ser ou intolerante ou fraco?
Desde pelo menos essa época, minha posição é, portanto, a de que o relativismo não só é logicamente inconsistente, como - por isso mesmo - tem conseqüências práticas funestas. Uma das teses de O mundo desde o fim é que é falso o dilema entre, por um lado, um relativismo tolerante, porém lógica e eticamente fraco e, por outro lado, a afirmação de um absoluto positivo qualquer - uma religião, uma nacionalidade, uma ideologia – intolerante, porém (aparentemente) ética e logicamente consistente. Exponho, nesse livro, outra possibilidade, que não tem a fraqueza de nenhuma dessas duas posições: o reconhecimento do caráter negativo do absoluto. Quanto à afirmação de que, enquanto a poesia se interessa pelo relativo, a filosofia se interessa pelo absoluto, é decorrência da concepção acima exposta de filosofia e poesia. A poesia é uma feitura; o que faz são poemas. Ora, nenhum poema é absoluto. Por mais perfeito que seja, nenhum poema pode pretender ser o poema definitivo. Nenhum poema pode tomar o lugar dos outros poemas já feitos ou a serem feitos. Já a filosofia se interessa pela verdade: e, em primeiro lugar, pela verdade absoluta.
NG - Existe em sua poética um nítido intertexto com a arte clássica, embora isso não resulte necessariamente num retorno aos paradigmas do classicismo. No elenco de mitos e divindades com os quais você dialoga destacam-se, dentre outros: Tâmiris, Proteu, Ulisses, Narciso, Hera, Telêmaco, Ícaro, Helena, Ajax, Dédalo e a Medusa. Se tivesse de escolher, com qual dessas "musas" você construiria templos... com mãos e com sobras/ de paixões, mergulhos, fodas, livros, viagens...? Por que?
AC - Todos esses personagens são partes da nossa língua, do nosso mundo. As literaturas – e as línguas – grega e latina fazem parte do patrimônio da língua portuguesa, parte da cultura brasileira. É por isso que elas podem naturalmente ser usadas para falar de nós mesmos. Não se pode entender nada da cultura brasileira se não se souber quem é Ulisses. Meus "templos" são construídos com todos esses personagens e, em particular, com as próprias filhas de Zeus e da Memória.
NG – Através de sons, imagens e reflexões, você vem construindo um arquivo cujas formas se inscrevem tanto na mídia escrita como na eletrônica. Transita no território acadêmico e no terreiro pop; vai do CD ao livro, passando pelo site e pelo vídeo. Lembro de suas participações em Todas (registro do antológico show de Marina Lima), no filme O cinema falado, de Caetano Veloso, e mais recentemente no filme Janela da alma, de João Jardim e Walter Carvalho. Como é a sua relação com essas mídias e, particularmente, com a câmara?
AC – Adoro tudo o que tem a ver com a escrita. Adoro em particular a mídia escrita eletrônica. Não sei como eu conseguia escrever, antes do computador. Por outro lado, desconfio dos depoimentos orais e detesto participar de cinema ou televisão. Tenho horror à câmara. Não gosto de nenhuma das minhas participações nas fitas de que você fala. Elas ocorreram somente porque, por alguma razão, não consegui dizer "não", ou o meu "não" não colou. No ano passado, resolvi que não participaria mais de programa nenhum de televisão, mídia que simplesmente abomino. Não consegui realizar o meu plano: Marina voltou a cantar após seis anos, e não pude me recusar a dar um depoimento sobre ela. Mas espero que, daqui para frente, nunca mais tenha que aparecer em tv ou cinema.
NG – No primeiro capítulo de O mundo desde o fim (Ed. Francisco Alves, 1995), você diz da dificuldade de explicar a modernidade, embora o faça com bastante lucidez no decorrer do texto. E a pós-modernidade? Por que o pós-moderno é impossível?
AC – Não se pode falar de pós-moderno sem saber o que é o moderno. Ora, os pós-modernistas não sabem o que é o moderno. Quando tentam falar do moderno falam, no máximo, de uma determinada espécie de modernismo. Isso não acontece por acaso, mas sim porque a própria expressão "pós-moderno" pressupõe que o moderno seja uma época histórica superável. Pois bem, em O mundo desde o fim mostro não só que a modernidade não é uma época histórica superável, mas que não é nem sequer uma época histórica. A modernidade é, ao contrário, a tomada de distância em relação a toda e qualquer época histórica. Ela realiza a relativização de toda e qualquer época histórica, de toda e qualquer cultura dada, a partir de uma posição universalista.
Como tal, a modernidade não pertence à cultura alguma, nem mesmo à "européia" ou "Ocidental", onde, acidentalmente, ela se manifestou de maneira mais vigorosa do que noutras culturas: ela é justamente a negação das pretensões absolutistas de toda cultura particular, inclusive da "Ocidental". Quando se dá essa negação, tem-se a modernidade; quando ela falta, tem-se a pré-modernidade. Assim, como mostra Amartya Sem (em seu livro Develpment as Freedom, Anchor Books, N.Y., 1999, cap. 10), a legislação do Imperador Ashoka, na Índia do século III a.C., foi perfeitamente moderna. Ou se dá a tomada de distância que constitui a modernidade ou ela não se dá. Não há terceira possibilidade. A rejeição da modernidade só poderia, portanto, consistir na reafirmação da pré-modernidade. Os fenômenos que normalmente se chamam de "pós-modernos", como, por exemplo, a pluralidade estilística de nossa época, na verdade têm seu fundamento exatamente na tomada de distância que constitui o moderno.
NG – Neste bélico cenário em ruínas, ainda é necessário um mergulho para redescobrir o espanto?
AC – Nem o espanto nem a admiração jamais me abandonaram. Na Terra, sempre caminhamos sobre ruínas. Basta mergulhar no mundo para experimentar a admiração: talvez, como Sophia de Mello Breyner Andresen, Porque pertenço à raça daqueles que mergulham de olhos abertos. E reconhecem o abismo pedra a pedra anêmona a anêmona flor a flor.
NG – Como o eu estetizado em "Cara" (Guardar, Ed. Record, 1996), você acha que continua escuro/ no país do futuro/ e da televisão?
AC - Sim. Acho que o Brasil tem melhorado, mas muito lentamente. Como não ser impaciente?
[1] …Somos modernos pelo simples fato de vivermos no presente (Borges, Esse Ofício do verso).
[2] CICERO, Antonio. Guardar. Cit. 1996. p. 39.
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
“Penso com o olho”

"A visibilidade é, para mim, uma afirmação da vida,
do viver, do mundo, da existência como absoluta presença."
Eucanaã Ferraz
do viver, do mundo, da existência como absoluta presença."
Eucanaã Ferraz
Olhar como forma de a(r)mar
Primeiro foi o texto; depois, a pessoa. Através da antologia Esses Poetas (1998) – organizada por Heloísa Buarque de Hollanda, tomei conhecimento da poesia de Eucanaã Ferraz. Lembro do prazer que me deu a leitura do sutilíssimo “Acontecido” [1] – poema do livro Martelo (1997), incluído na referida antologia, cujo início aqui transcrevo:
Como quem se banhasse
no mesmo rio
de águas repetidas,
outra vez era setembro
e o amor tão novo.
...
Em 1999 conheci, no Leblon, no relançamento da referida antologia, o poeta. Dele ganhei o próprio livro onde havia o referido poema de "águas repetidas". A leitura de Martelo acionou em mim um mergulho na superfície da página, do qual retornei com asas mais leves e músculos fortalecidos. Quando li depois o Livro Primeiro (1990) e suas linguagens estetizadas de forma clara, direta, sem hermetismo, embora distanciada do discurso naturalista, coloquial, vi confirmada – na orelha escrita por Roberto Corrêa dos Santos – a minha associação da poesia de Eucanaã à musicalidade poética de Manuel Bandeira; embora, como sugere Carlos Secchin, exista no autor de Desassombro a elaboração de um real menos ‘natural’ do que o de Bandeira [2].
Depois passei a encontrar o poeta pelos corredores da UFRJ, onde eu cursava as disciplinas do doutorado em Literatura Comparada, e ele ministrava aulas nos cursos de Literatura Brasileira. Passei também a acompanhá-lo em recitais de poesia e a assisti-lo em programas como os da TVE. Esses encontros demonstravam cada vez mais a sintonia existente entre a pessoa e o texto: parecia haver entre eles uma mesma leveza, embora ambos parecessem densos. Ou seja: o que de luminoso esplendia no poema de Eucanaã, era visível nos gestos do poeta, na forma dele habitar e estetizar o espaço de suas relações.
Crendo na poesia como arte que dialoga com nosso espanto diante das coisas, Eucanaã assume procurar, através de sua letra, o resgate da alegria em um mundo no qual a perfeição se encontra exilada [3]. Para esse resgate, o poeta ‘recorta’, no plano da enunciação, a própria sintaxe, exemplarmente elíptica [4], e lança ao seu redor um olhar através do qual constrói um conhecimento que possui no diálogo do corpo com a forma, a luz e a cor um dos seus procedimentos mais produtivos.
A seguir, o poeta fala, dentre outros, de um topos a partir do qual um sujeito poético vê sem que fique muito claro de onde se configura sua visão. Contra a melancolia da letra e num dos momentos mais instigantes da nossa entrevista, o autor discorre acerca dos procedimentos estéticos que diferenciam os textos de Martelo e Desassombro e celebra, de forma nietzscheana, a poderosa alegria que reside latente na concretude de todas as coisas.
Como em outras entrevistas publicadas no Brasil e em Portugal, Eucanaã assume mais uma vez seu apreço pelo exercício da reescrita. Destaca a pintura como arte com a qual travou, antes da letra, suas primeiras imagens e elenca cinco poetas como fundamentais para a sua criação: Sophia de Mello Breyber, Eugênio de Andrade, João Cabral, Manuel Bandeira e Drummond. Através dos três primeiros, Eucanaã diz haver sido orientado para um certo materialismo e uma espécie de realismo solar, mas consigna ser o autor mineiro de Alguma Poesia quem mais o ensinou o ofício da poesia. Lição que Eucanaã nos repassa, com alegria e luminosidade, nas próximas páginas.
Nonato Gurgel: Belo/ porque é isso/ belo. Desde o seu Livro Primeiro (1990), passando pelo Martelo (1997), é visível a influência de Manuel Bandeira na sua poesia: Também é o beco/ o que vejo. Na poética de Bandeira, o alumbramento cotidiano acontece muitas vezes em casa; mais especificamente no quarto – o espaço de inscrição da subjetividade. Qual o topos ao qual você recorre com mais freqüência para inscrever seu itinerário poético?
Eucanaã Ferraz: Não me recordo, agora, de um topos privilegiado. Talvez não haja. É provável que no Livro Primeiro a rua tenha sido um ponto forte de observação. Em Martelo, penso que a casa ganha muita importância, pois nele há um desejo de registro das coisas no espaço íntimo, no andamento cotidiano, doméstico. Na nossa cultura, no nosso imaginário, no nosso espírito a casa é o lugar central do acolhimento. Daí ela aparecer neste livro com muita freqüência, embora compareça também em Desassombro. Mas, por outro lado, a rua é importantíssima para os meus poemas. Há neles um espaço externo muito marcado. A arquitetura, os jardins, a cidade, os automóveis tudo isso forma uma massa de signos da visibilidade que são inerentes à experiência de vida de que tratam os versos. São, numa primeira instância, materialidades com as quais cruzo diariamente. E minha poesia não é feita senão disso. São “experiências”. Matérias da experiência. Mas talvez eu possa dizer que embora eu preze imensamente nos poemas a concretude das coisas e da relação com elas, na maior parte deles a observação é a de um sujeito que vê, sem que fique claro de onde ele vê. Ele está próximo da coisa, mas talvez não importe muito onde ele está. Ou melhor, o espaço talvez seja mais importante para situar os seres e as coisas do que para definir as especificidades da apreensão. Penso que meus poemas, de um modo geral, falam das coisas em seus espaços (que pode ser a casa ou a rua) mas o olho que as vê (que as sente e escreve) situa-se numa espécie de objetividade subjetiva que, simultaneamente, adere ao espaço das coisas mas este é, em última instância, sempre interno. O topos então, deixa de o ser, fundido com o sentimento e a criação de uma linguagem que materializa a experiência sem perder de vista a materialidade dos corpos em cena. Mas não estou muito certo disso tudo, pois nunca pensei sobre tal questão e eu teria de rever os livros e os poemas para falar melhor.
NG: Levando-se em consideração os procedimentos estéticos e literários, quais distinções você faria entre o "acontecido" Martelo (1997) e o luzidio Desassombro (2001)?
EF: Há, de fato, algumas diferenças. Grosso modo, posso dizer que os poemas de Martelo apresentam uma plasticidade mais estática, que, embora não tenha desaparecido no Desassombro, diminuiu, ou melhor, tornou-se mais dinâmica. Embora o poema de abertura deste livro (“Desassombro I”) seja uma natureza-morta, penso que nele há mais movimento, ou ainda, que as formas estão em movimento, enquanto no Martelo as coisas são vistas como conjuntos ou quadros relativamente imóveis, totalmente oferecidos à visão. Mas creio que talvez a maior diferença para mim esteja no fato de que no Martelo há uma absoluta confiança na forma, na arquitetura, na procura da perfeição (pouco importa alcançá-la). No livro seguinte, já surge a desconfiança e mesmo uma certa ironia para com tal procura. Toda a parte “A mesa de trabalho” trata disso, das desconfianças, dúvidas, questionamentos. Há mesmo um poema que é emblemático, pois trata de uma questão crucial: o fracasso. O primeiro verso diz “O tema é antigo”, ou seja, vai à tradição recuperar esta experiência inexorável na atividade de todo artista, escritor, poeta, que é fracassar. Só um tolo ou um ingênuo não vivencia a derrota de alguns (muitos, poucos…) de seus projetos e tentativas. A falha, o erro, a dúvida, o vazio são parte da criação e devem ser vividos integralmente. Acho esta mudança de um livro para o outro fundamental. Foi mesmo uma mudança de perspectiva.
Além disso, em termos estritamente construtivos, adotei em Desassombro a divisão estrófica (quase sempre dísticos ou tercetos) que ficou ausente de Martelo, onde os versos aparecem em blocos inteiriços. Outra “novidade” são os poemas "narrativos", que descrevem cenas, eventos, bom exemplo de construção plástica dinâmica, diferente das construções mais estáticas de Martelo.
NG: No belíssimo texto "Entre estilhaços e escombros" (Revista Relâmpago nº 07), Silviano Santiago o compara a um compositor de Bossa Nova que consegue extrair da negatividade do desencanto o encanto. Como operar a musical sutileza do desassombro num tempo no qual o exercício da ternura é quase uma impossibilidade?
EF: Vou lhe responder fazendo uso de uma outra pergunta que me fizeram para uma revista portuguesa. Observava-se, ali, que um dos temas predominantes na minha poesia era a busca da alegria. Afirmei que, embora menos presente em Desassombro que nos dois livros anteriores, havia, sim, este desejo, esta busca da alegria, que acredito ser possível não apenas na infância. Não nos imagino como seres exilados de um paraíso que estaria no passado, seja ele histórico, mítico ou pessoal. Digo num dos poemas de Martelo que a alegria é “uma prática”. Concebo-a, portanto, como algo a ser construído. A arte não tem de ser um acerto de contas com nossas misérias coletivas ou particulares. E se ela deseja sempre o impossível, por que a alegria, a felicidade e a saúde têm de estar fora de seu horizonte? Se recuarmos à música de Bach ou de Mozart, veremos esta alegria. Mesmo no século XX, temos a música de Satie, as pinturas de Matisse, de Miró, e mesmo parte significativa da obra de Picasso. A poesia de Jaques Prévet, de Manuel Bandeira e de Eugênio de Andrade também têm muito a nos ensinar neste sentido. A tristeza não faz a arte melhor, faz apenas a arte mais triste. Pode-se argumentar que a tristeza é inevitável. Está certo. Mas por que a alegria e outros estados felizes parecem indignos de figurar entre os sentimentos que produzem a poesia e as outras artes?
E, ainda, detesto, por exemplo, a mitificação do que muitos chamam de "o sujo" como marca necessária à verdadeira poesia, à poesia mais intensa. Digo, ainda, que a limpeza que muitos vêem nos meus versos é, sim, uma intensidade. E que demanda um envolvimento efetivo, afetivo, emocional, estético, ético para que a poesia não seja só o recolhimento do “sujo”, tão facilmente detectável nas coisas. A “sujeira” pode ser isso: uma crosta fácil. Acredito que a “limpeza” pode ser um trabalho intenso de audição das coisas, de abrigo da dignidade das coisas, da alma, de penetração para além do só reconhecimento da realidade como “sujeira”. Na verdade, há um disseminado desprezo pela realidade! A impregnação do real nos poemas Desassombro é veemente, absurdamente visível, explícita, escandalosamente fácil de ver e sentir. Mas tudo isso, não (por ser isso) pode ser, e é, motivo de desconfiança e dúvida. Daí a primeira parte do livro, “À mesa de trabalho”, e penso sobretudo, mais uma vez, naquele poema cujo tema é exatamente o fracasso.
NG: Desassombro foi lançado em Portugal antes do Brasil. Antes do lançamento, alguns textos apareceram na lusitana revista Relâmpago nº 07. Comparando-se os poemas publicados na revista e posteriormente lançados pela edições Quasi, percebe-se que os poemas possuíam belos títulos (Romance, Luzeiro, A leitora, Janeiro no Rio, Crônica...).
Por que você optou, no índice do livro, pelo uso do primeiro verso? Também em alguns textos como em "Eram penhas entre águas enormes" (um dos melhores poemas da nossa poesia contemporânea), percebe-se duas modificações em termos de recorte vocabular. Qual a importância de se reescrever o poema?
EF: Todos os poemas que integram o livro tinham, originalmente, títulos. Retirei-os porque queria chamar atenção para os títulos das partes que os reúnem. É comum que o poeta se esforce para criar alguma estrutura e o livro seja lido ou analisado como se fora destituído de qualquer estruturação e os poemas estivessem numa seqüência linear e aleatória. Daí, quis sublinhar a estrutura do livro retirando os títulos. Depois, me arrependi um pouco, porque acho que o leitor está mais acostumado com títulos e tem dificuldades para dizer que gosta (ou desgosta) deste ou daquele poema sem poder dizer os nomes deles. Mas a coisa está feita.
Quanto a reescrever, sou radical: prefiro reescrever a escrever. Claro que posso dizer que enquanto não dou o poema como pronto ele está sendo escrito. Portanto, não há reescrever, apenas escrever. Mas se pensarmos no binômio “escrever”/ “reescrever”, tenho de dizer que gosto imensamente da segunda tarefa. Gosto de ver o poema. Quando ele ainda está se descolando do limbo, é ainda imaterialidade, tem muito de invisibilidade. Gosto de rabiscar sobre o que está, de refazer, esticar, cortar, substituir, colar e assim por diante. Gosto da intervenção plástica, que para mim é sempre uma operação sensível. Não há dúvida de que é muito gratificante ver o poema apurar sua forma. Aprendo a escrever na reescrita. Deveria dizer, pois não deixa de ser verdade, que depois esqueço muita coisa e o que aprendi pouco servirá para outro poema. De fato, não há fórmulas. Mas não posso ser cabotino a ponto de dizer que o poeta sempre parte do zero. Isto é uma mentira. Um poeta sabe muito sobre sua escrita. Mas também é preciso que se diga que isto não é uma garantia e, pior ainda, pode ser uma desgraça. Enfim, antibandeirianamente falando, gosto mais do “exercício” do que do “alumbramento”.
NG: Se a poética de Armando Freitas Filho é recentemente perpassada por um Fio Terra alimentado da nudez de qualquer superfície, o seu Desassombro inicia por um fio de luz que à concretude dos objetos confere uma extrema nitidez. Isso parece outorgar à visibilidade uma dimensão bastante representativa da sua poética. Qual a importância da ação do olhar na construção de sua poética?
EF: Esta questão é complexa, plena de implicações e penso que sua real dimensão deve ser avaliada pela crítica que um dia vier, se vier, a se interessar pela poesia que escrevo. Mas posso dizer, por exemplo, que não me interesso pela abstração do pensamento. Não tenho aptidão, por exemplo, para a filosofia. Interessa-me a pintura, a arquitetura, a fotografia. Interesso-me por aquilo que posso ver. Tenho bem clara a noção de que esta é uma limitação enorme. E se algumas vezes procurei, sem muito sucesso, diminuir esta insuficiência, a certa altura imaginei que talvez devesse procurar, pelo contrário, extrair desta minha limitação alguma coisa positiva. E, de fato, acabei por tentar explorar as possibilidades da minha estreiteza, o que, no fim das contas, talvez tenha apenas tornado mais estreito o alcance reflexivo do que escrevo. Mas, de qualquer modo, adquiri consciência de que deveria converter em projeto estético a minha particular sensibilidade quando ia escrevendo os poemas de Martelo, que é em larga medida um livro marcado pela busca de um mundo apreendido como matéria, como corporeidade. Há, por exemplo, uma pequena série de poemas chamados “Figura”, “Figura com mulher”, “Figura II” e “Figura III” que dialogam diretamente com a pintura de Matisse, que é a referência plástica mais forte e decisiva da minha vida. Descobri a arte moderna com o “Grand nu couché/Nu rose”. Eu era um menino sem livros em casa. Aos poucos, fui comprando os romances de Alencar e dos outros românticos. Tinha como única referência poética o Eu de Augusto dos Anjos. A arte, para mim, era uma coisa do passado. Um belo dia, o menino deu de cara com a reprodução da tela de Matisse. Pronto! Foi um choque e um deslumbramento. Conheci a pintura moderna antes da literatura moderna. Eu desenhava bem e com muita desenvoltura. Depois cheguei a pintar. Gostava de fazer colagens. Podia passar, e passava, horas e horas recortando papéis, figuras, sem nenhuma necessidade de leitura, sem nenhum pensamento que não a avaliação do quanto uma forma e uma cor podiam ser belas. A beleza, que considero a mais alta qualidade que a arte pode alcançar, para mim está diretamente ligada à visibilidade. Para mim, a beleza, que é uma abstração total, é algo que reconhecemos sobretudo naquilo que vemos. Claro que há outras belezas, mas sinto as coisas visíveis como mais belas que as outras.
Mas, voltando à série das figuras, no “Figura com mulher” digo que a “odalisca” (referência direta a um dos motivos mais recorrentes da obra matissiana) “não sonha” e “vive a delícia – cor/ e perfume – de estar totalmente/ neste mundo.” A visibilidade é, para mim, uma afirmação da vida, do viver, do mundo, da existência como absoluta presença. Num outro poema de Martelo, ao falar de Deus, imagino que um navio talvez possa ser um pedaço de um pedaço/ de um pedaço do seu nariz (…) Só sei pensar as coisas mais abstratas e vagas como matéria, corpo, visibilidade. Penso com o olho. O olho é minha sensibilidade. E creio mesmo que a poesia que escrevo reflete isso. Tudo o que escrevo aspira ser como aquele grande nu de Matisse, absolutamente aqui, absolutamente agora, aberto à vida e ao olhar.
NG: Gostaria que o poeta tecesse um paralelo entre o seu mergulho nas poéticas águas lusitanas e sua viagem pela rigorosa arquitetura do verso cabralino.
EF: O contato inicial com as “águas lusitanas” deu-se com a leitura da poesia de Fernando Pessoa, de todo inevitável, já que no Brasil ele era e é obrigatório. Posteriormente, aconteceu-me a poesia de Jorge de Sena, que li com bastante atenção e entusiasmo. E, ainda, creio que por volta de 1985, eu e mais dois amigos adoecemos de Os passos em volta, de Herberto Helder. Digo adoecemos porque o livro se converteu numa fixação para os três, algo patológico! Quando não estávamos em casa a ler o livro, estávamos juntos, cada qual com o seu exemplar. Então, íamos para algum bar ou para a casa de um de nós e ficávamos madrugada adentro, maravilhados, lendo aqueles textos. Sabíamos de cor passagens enormes de “Estilo”, “Holanda” e “Coisas elétricas na Escócia”. À época eu já conhecia alguma coisa de Sophia e Eugénio, mas só depois suas poéticas ganhariam a dimensão de forças reveladoras da minha própria escrita.
Creio que o mecanismo da influência é mais ou menos esse: descobrimos algo que faz claro aquilo que desejamos secretamente, como uma vereda para chegarmos ao que nos tornamos. Sendo assim, realmente os dois nomes portugueses a citar são Sophia de Mello Breyner Andresen e Eugênio de Andrade. Encontrei em ambos, sobretudo, a força que nasce da delicadeza e da luz. Já disse em outra oportunidade que a ternura de Eugênio é das coisas mais grandiosas que a poesia já produziu. Toda a sua palavra é de uma luminosidade que nunca cega, pois nasce de uma vivência erótica que afirma o corpo, que o festeja, ele e seus desejos, ele e suas sedes. A palavra é também um corpo na poesia de Eugênio, que convoca cada sílaba com o seu corpo inteiro. A atmosfera erótica eugeniana sempre me excitou, fisicamente mesmo, pouco importando sobre o que falasse. Até porque a poesia, de fato, não fala “sobre” coisas. As coisas é que são invitadas a virem para o poema como testemunhos da existência. A vida é real, sim, sabemos disso porque as coisas o dizem, e o dizem sobretudo, plenamente, nos poemas. Esta asserção das coisas no poema é absoluta, é maravilhosa, estonteante e patética. A poesia de Eugénio mostrou-me isso, assim como a de Sophia, cuja poética, toda a crítica já o disse, procura libertar-se de toda contingência de tempo e espaço, da descontinuidade dos nomes e dos corpos, a fim de fundar na escrita um tempo/lugar no qual tudo se reintegra e volta à unidade perdida.
Aparentemente, a escrita de João Cabral seria muito aposta à destes dois poetas. Sophia e João Cabral, porém, não apenas foram amigos, mas admiravam-se como escritores, homenagearam-se em poemas, trocaram livros e dedicatórias. Cabral comentava os poemas da amiga e O livro cigano mostra uma clara influência da escrita cabralina sobre Sophia de Mello Breyner. Também sei que Eugénio é um admirador da poesia do nosso pernambucano e seria possível traçar um quadro de convergências na poesia de ambos. Não pretendo ensaiar aqui um estudo aproximativo, e se sublinho alguma vizinhança fora do âmbito da minha poesia é apenas por uma espécie de vício crítico. Voltando ao círculo restrito que me inclui, penso que estes três poetas orientaram-me para um certo materialismo e para um realismo solar. Como poeta, eu não conseguiria, por temperamento, aproximar-me da poesia desejadamente incômoda de Cabral. Sua materialidade áspera e cortante, sem dúvida esplendorosa, definitivamente não me serviria. Estou mais próximo da delicadeza de Eugênio e Sophia. Mas, nos três, encontrei o rigor construtivo casado à emoção.
Também preciso consignar que, ao lado destas três referências fortes, o poeta que mais me ensinou o ofício da poesia foi Drummond. Quando aluno de graduação e de mestrado em Letras, li e estudei em várias oportunidades a sua poesia, orientado pela extraordinária professora e ensaísta Marlene de Castro Correia. A manipulação dos ritmos, das repetições, as alternâncias de tom, a variação de registros, as múltiplas vozes e outros recursos utilizados extensamente e magistralmente por Drummond eram vistos e pensados, pesados em relação com a reflexão que os poemas propunham. E penso não haver dúvidas de que a poesia drummondiana, neste sentido, é mais rica que a daqueles três poetas. Digo mais. Em língua portuguesa, só Pessoa ombreia com Drummond. Este aspecto do aprendizado formal foi fundamental para mim, que sou, por gosto, um poeta-trabalhador. Mas se pudesse eleger uma poesia como padrão, vislumbrada timidamente numa espécie de utopia íntima, esta seria a de Manuel Bandeira, pois penso que ela congrega todas as qualidades que me atraem neste ou naquele poeta, neste ou naquele pintor.
RN: Contribuindo para o desmoronamento da antiga crença de que construção teórica e criação poética não caminham de mãos dadas, você personifica o exemplo do poeta, profissão: professor. Não é algo muito comum no território acadêmico. Como você concilia sua atividade acadêmica com a produção ensaística e a criação poética?
EF: Não faço qualquer esforço para conciliar estas coisas, simplesmente porque isto não me parece necessário. Para mim, ao contrário, elas fazem parte de uma coisa só: a poesia. Dar aulas de literatura brasileira é um modo de estar próximo da poesia. Escrever ensaios sobre outros poetas tem esta mesma dimensão. Estou sempre lendo, escrevendo, falando sobre a poesia, poemas e poetas. Mas devo dizer que não gosto, absolutamente, da idéia de que hoje a poesia vem sendo feita por professores e/ou universitários. Penso que é melhor para a poesia estar livre. Não porque a academia possa lhe fazer mal. Sinto bem o contrário disso: a poesia e os poetas devem muito à Universidade, pois ali se formam críticos e leitores. Ela é um centro de recepção e divulgação extraordinário e insubstituível. Mas penso que a poesia deve ser lida e escrita por todos. Sua força está, repito, na liberdade, na amplidão. O verso não é uma especialidade, um artefato técnico sob controle de alguns estudiosos. O professor tem uma função, e seu papel não deve se superpor ao do criador.
NOTAS
[1] FERRAZ, Eucanaã. Martelo. Cit. 1997. p. 20.
[2] SECCHIN, Antonio C. Jornal do Brasil. 2002. p. 4.
[3] CANTINHO, Maria J. “Desassombro”. 2001.
[4] SECCHIN, Antonio C. Op. Cit. 2002. p. 4.
Em 1999 conheci, no Leblon, no relançamento da referida antologia, o poeta. Dele ganhei o próprio livro onde havia o referido poema de "águas repetidas". A leitura de Martelo acionou em mim um mergulho na superfície da página, do qual retornei com asas mais leves e músculos fortalecidos. Quando li depois o Livro Primeiro (1990) e suas linguagens estetizadas de forma clara, direta, sem hermetismo, embora distanciada do discurso naturalista, coloquial, vi confirmada – na orelha escrita por Roberto Corrêa dos Santos – a minha associação da poesia de Eucanaã à musicalidade poética de Manuel Bandeira; embora, como sugere Carlos Secchin, exista no autor de Desassombro a elaboração de um real menos ‘natural’ do que o de Bandeira [2].
Depois passei a encontrar o poeta pelos corredores da UFRJ, onde eu cursava as disciplinas do doutorado em Literatura Comparada, e ele ministrava aulas nos cursos de Literatura Brasileira. Passei também a acompanhá-lo em recitais de poesia e a assisti-lo em programas como os da TVE. Esses encontros demonstravam cada vez mais a sintonia existente entre a pessoa e o texto: parecia haver entre eles uma mesma leveza, embora ambos parecessem densos. Ou seja: o que de luminoso esplendia no poema de Eucanaã, era visível nos gestos do poeta, na forma dele habitar e estetizar o espaço de suas relações.
Crendo na poesia como arte que dialoga com nosso espanto diante das coisas, Eucanaã assume procurar, através de sua letra, o resgate da alegria em um mundo no qual a perfeição se encontra exilada [3]. Para esse resgate, o poeta ‘recorta’, no plano da enunciação, a própria sintaxe, exemplarmente elíptica [4], e lança ao seu redor um olhar através do qual constrói um conhecimento que possui no diálogo do corpo com a forma, a luz e a cor um dos seus procedimentos mais produtivos.
A seguir, o poeta fala, dentre outros, de um topos a partir do qual um sujeito poético vê sem que fique muito claro de onde se configura sua visão. Contra a melancolia da letra e num dos momentos mais instigantes da nossa entrevista, o autor discorre acerca dos procedimentos estéticos que diferenciam os textos de Martelo e Desassombro e celebra, de forma nietzscheana, a poderosa alegria que reside latente na concretude de todas as coisas.
Como em outras entrevistas publicadas no Brasil e em Portugal, Eucanaã assume mais uma vez seu apreço pelo exercício da reescrita. Destaca a pintura como arte com a qual travou, antes da letra, suas primeiras imagens e elenca cinco poetas como fundamentais para a sua criação: Sophia de Mello Breyber, Eugênio de Andrade, João Cabral, Manuel Bandeira e Drummond. Através dos três primeiros, Eucanaã diz haver sido orientado para um certo materialismo e uma espécie de realismo solar, mas consigna ser o autor mineiro de Alguma Poesia quem mais o ensinou o ofício da poesia. Lição que Eucanaã nos repassa, com alegria e luminosidade, nas próximas páginas.
Nonato Gurgel: Belo/ porque é isso/ belo. Desde o seu Livro Primeiro (1990), passando pelo Martelo (1997), é visível a influência de Manuel Bandeira na sua poesia: Também é o beco/ o que vejo. Na poética de Bandeira, o alumbramento cotidiano acontece muitas vezes em casa; mais especificamente no quarto – o espaço de inscrição da subjetividade. Qual o topos ao qual você recorre com mais freqüência para inscrever seu itinerário poético?
Eucanaã Ferraz: Não me recordo, agora, de um topos privilegiado. Talvez não haja. É provável que no Livro Primeiro a rua tenha sido um ponto forte de observação. Em Martelo, penso que a casa ganha muita importância, pois nele há um desejo de registro das coisas no espaço íntimo, no andamento cotidiano, doméstico. Na nossa cultura, no nosso imaginário, no nosso espírito a casa é o lugar central do acolhimento. Daí ela aparecer neste livro com muita freqüência, embora compareça também em Desassombro. Mas, por outro lado, a rua é importantíssima para os meus poemas. Há neles um espaço externo muito marcado. A arquitetura, os jardins, a cidade, os automóveis tudo isso forma uma massa de signos da visibilidade que são inerentes à experiência de vida de que tratam os versos. São, numa primeira instância, materialidades com as quais cruzo diariamente. E minha poesia não é feita senão disso. São “experiências”. Matérias da experiência. Mas talvez eu possa dizer que embora eu preze imensamente nos poemas a concretude das coisas e da relação com elas, na maior parte deles a observação é a de um sujeito que vê, sem que fique claro de onde ele vê. Ele está próximo da coisa, mas talvez não importe muito onde ele está. Ou melhor, o espaço talvez seja mais importante para situar os seres e as coisas do que para definir as especificidades da apreensão. Penso que meus poemas, de um modo geral, falam das coisas em seus espaços (que pode ser a casa ou a rua) mas o olho que as vê (que as sente e escreve) situa-se numa espécie de objetividade subjetiva que, simultaneamente, adere ao espaço das coisas mas este é, em última instância, sempre interno. O topos então, deixa de o ser, fundido com o sentimento e a criação de uma linguagem que materializa a experiência sem perder de vista a materialidade dos corpos em cena. Mas não estou muito certo disso tudo, pois nunca pensei sobre tal questão e eu teria de rever os livros e os poemas para falar melhor.
NG: Levando-se em consideração os procedimentos estéticos e literários, quais distinções você faria entre o "acontecido" Martelo (1997) e o luzidio Desassombro (2001)?
EF: Há, de fato, algumas diferenças. Grosso modo, posso dizer que os poemas de Martelo apresentam uma plasticidade mais estática, que, embora não tenha desaparecido no Desassombro, diminuiu, ou melhor, tornou-se mais dinâmica. Embora o poema de abertura deste livro (“Desassombro I”) seja uma natureza-morta, penso que nele há mais movimento, ou ainda, que as formas estão em movimento, enquanto no Martelo as coisas são vistas como conjuntos ou quadros relativamente imóveis, totalmente oferecidos à visão. Mas creio que talvez a maior diferença para mim esteja no fato de que no Martelo há uma absoluta confiança na forma, na arquitetura, na procura da perfeição (pouco importa alcançá-la). No livro seguinte, já surge a desconfiança e mesmo uma certa ironia para com tal procura. Toda a parte “A mesa de trabalho” trata disso, das desconfianças, dúvidas, questionamentos. Há mesmo um poema que é emblemático, pois trata de uma questão crucial: o fracasso. O primeiro verso diz “O tema é antigo”, ou seja, vai à tradição recuperar esta experiência inexorável na atividade de todo artista, escritor, poeta, que é fracassar. Só um tolo ou um ingênuo não vivencia a derrota de alguns (muitos, poucos…) de seus projetos e tentativas. A falha, o erro, a dúvida, o vazio são parte da criação e devem ser vividos integralmente. Acho esta mudança de um livro para o outro fundamental. Foi mesmo uma mudança de perspectiva.
Além disso, em termos estritamente construtivos, adotei em Desassombro a divisão estrófica (quase sempre dísticos ou tercetos) que ficou ausente de Martelo, onde os versos aparecem em blocos inteiriços. Outra “novidade” são os poemas "narrativos", que descrevem cenas, eventos, bom exemplo de construção plástica dinâmica, diferente das construções mais estáticas de Martelo.
NG: No belíssimo texto "Entre estilhaços e escombros" (Revista Relâmpago nº 07), Silviano Santiago o compara a um compositor de Bossa Nova que consegue extrair da negatividade do desencanto o encanto. Como operar a musical sutileza do desassombro num tempo no qual o exercício da ternura é quase uma impossibilidade?
EF: Vou lhe responder fazendo uso de uma outra pergunta que me fizeram para uma revista portuguesa. Observava-se, ali, que um dos temas predominantes na minha poesia era a busca da alegria. Afirmei que, embora menos presente em Desassombro que nos dois livros anteriores, havia, sim, este desejo, esta busca da alegria, que acredito ser possível não apenas na infância. Não nos imagino como seres exilados de um paraíso que estaria no passado, seja ele histórico, mítico ou pessoal. Digo num dos poemas de Martelo que a alegria é “uma prática”. Concebo-a, portanto, como algo a ser construído. A arte não tem de ser um acerto de contas com nossas misérias coletivas ou particulares. E se ela deseja sempre o impossível, por que a alegria, a felicidade e a saúde têm de estar fora de seu horizonte? Se recuarmos à música de Bach ou de Mozart, veremos esta alegria. Mesmo no século XX, temos a música de Satie, as pinturas de Matisse, de Miró, e mesmo parte significativa da obra de Picasso. A poesia de Jaques Prévet, de Manuel Bandeira e de Eugênio de Andrade também têm muito a nos ensinar neste sentido. A tristeza não faz a arte melhor, faz apenas a arte mais triste. Pode-se argumentar que a tristeza é inevitável. Está certo. Mas por que a alegria e outros estados felizes parecem indignos de figurar entre os sentimentos que produzem a poesia e as outras artes?
E, ainda, detesto, por exemplo, a mitificação do que muitos chamam de "o sujo" como marca necessária à verdadeira poesia, à poesia mais intensa. Digo, ainda, que a limpeza que muitos vêem nos meus versos é, sim, uma intensidade. E que demanda um envolvimento efetivo, afetivo, emocional, estético, ético para que a poesia não seja só o recolhimento do “sujo”, tão facilmente detectável nas coisas. A “sujeira” pode ser isso: uma crosta fácil. Acredito que a “limpeza” pode ser um trabalho intenso de audição das coisas, de abrigo da dignidade das coisas, da alma, de penetração para além do só reconhecimento da realidade como “sujeira”. Na verdade, há um disseminado desprezo pela realidade! A impregnação do real nos poemas Desassombro é veemente, absurdamente visível, explícita, escandalosamente fácil de ver e sentir. Mas tudo isso, não (por ser isso) pode ser, e é, motivo de desconfiança e dúvida. Daí a primeira parte do livro, “À mesa de trabalho”, e penso sobretudo, mais uma vez, naquele poema cujo tema é exatamente o fracasso.
NG: Desassombro foi lançado em Portugal antes do Brasil. Antes do lançamento, alguns textos apareceram na lusitana revista Relâmpago nº 07. Comparando-se os poemas publicados na revista e posteriormente lançados pela edições Quasi, percebe-se que os poemas possuíam belos títulos (Romance, Luzeiro, A leitora, Janeiro no Rio, Crônica...).
Por que você optou, no índice do livro, pelo uso do primeiro verso? Também em alguns textos como em "Eram penhas entre águas enormes" (um dos melhores poemas da nossa poesia contemporânea), percebe-se duas modificações em termos de recorte vocabular. Qual a importância de se reescrever o poema?
EF: Todos os poemas que integram o livro tinham, originalmente, títulos. Retirei-os porque queria chamar atenção para os títulos das partes que os reúnem. É comum que o poeta se esforce para criar alguma estrutura e o livro seja lido ou analisado como se fora destituído de qualquer estruturação e os poemas estivessem numa seqüência linear e aleatória. Daí, quis sublinhar a estrutura do livro retirando os títulos. Depois, me arrependi um pouco, porque acho que o leitor está mais acostumado com títulos e tem dificuldades para dizer que gosta (ou desgosta) deste ou daquele poema sem poder dizer os nomes deles. Mas a coisa está feita.
Quanto a reescrever, sou radical: prefiro reescrever a escrever. Claro que posso dizer que enquanto não dou o poema como pronto ele está sendo escrito. Portanto, não há reescrever, apenas escrever. Mas se pensarmos no binômio “escrever”/ “reescrever”, tenho de dizer que gosto imensamente da segunda tarefa. Gosto de ver o poema. Quando ele ainda está se descolando do limbo, é ainda imaterialidade, tem muito de invisibilidade. Gosto de rabiscar sobre o que está, de refazer, esticar, cortar, substituir, colar e assim por diante. Gosto da intervenção plástica, que para mim é sempre uma operação sensível. Não há dúvida de que é muito gratificante ver o poema apurar sua forma. Aprendo a escrever na reescrita. Deveria dizer, pois não deixa de ser verdade, que depois esqueço muita coisa e o que aprendi pouco servirá para outro poema. De fato, não há fórmulas. Mas não posso ser cabotino a ponto de dizer que o poeta sempre parte do zero. Isto é uma mentira. Um poeta sabe muito sobre sua escrita. Mas também é preciso que se diga que isto não é uma garantia e, pior ainda, pode ser uma desgraça. Enfim, antibandeirianamente falando, gosto mais do “exercício” do que do “alumbramento”.
NG: Se a poética de Armando Freitas Filho é recentemente perpassada por um Fio Terra alimentado da nudez de qualquer superfície, o seu Desassombro inicia por um fio de luz que à concretude dos objetos confere uma extrema nitidez. Isso parece outorgar à visibilidade uma dimensão bastante representativa da sua poética. Qual a importância da ação do olhar na construção de sua poética?
EF: Esta questão é complexa, plena de implicações e penso que sua real dimensão deve ser avaliada pela crítica que um dia vier, se vier, a se interessar pela poesia que escrevo. Mas posso dizer, por exemplo, que não me interesso pela abstração do pensamento. Não tenho aptidão, por exemplo, para a filosofia. Interessa-me a pintura, a arquitetura, a fotografia. Interesso-me por aquilo que posso ver. Tenho bem clara a noção de que esta é uma limitação enorme. E se algumas vezes procurei, sem muito sucesso, diminuir esta insuficiência, a certa altura imaginei que talvez devesse procurar, pelo contrário, extrair desta minha limitação alguma coisa positiva. E, de fato, acabei por tentar explorar as possibilidades da minha estreiteza, o que, no fim das contas, talvez tenha apenas tornado mais estreito o alcance reflexivo do que escrevo. Mas, de qualquer modo, adquiri consciência de que deveria converter em projeto estético a minha particular sensibilidade quando ia escrevendo os poemas de Martelo, que é em larga medida um livro marcado pela busca de um mundo apreendido como matéria, como corporeidade. Há, por exemplo, uma pequena série de poemas chamados “Figura”, “Figura com mulher”, “Figura II” e “Figura III” que dialogam diretamente com a pintura de Matisse, que é a referência plástica mais forte e decisiva da minha vida. Descobri a arte moderna com o “Grand nu couché/Nu rose”. Eu era um menino sem livros em casa. Aos poucos, fui comprando os romances de Alencar e dos outros românticos. Tinha como única referência poética o Eu de Augusto dos Anjos. A arte, para mim, era uma coisa do passado. Um belo dia, o menino deu de cara com a reprodução da tela de Matisse. Pronto! Foi um choque e um deslumbramento. Conheci a pintura moderna antes da literatura moderna. Eu desenhava bem e com muita desenvoltura. Depois cheguei a pintar. Gostava de fazer colagens. Podia passar, e passava, horas e horas recortando papéis, figuras, sem nenhuma necessidade de leitura, sem nenhum pensamento que não a avaliação do quanto uma forma e uma cor podiam ser belas. A beleza, que considero a mais alta qualidade que a arte pode alcançar, para mim está diretamente ligada à visibilidade. Para mim, a beleza, que é uma abstração total, é algo que reconhecemos sobretudo naquilo que vemos. Claro que há outras belezas, mas sinto as coisas visíveis como mais belas que as outras.
Mas, voltando à série das figuras, no “Figura com mulher” digo que a “odalisca” (referência direta a um dos motivos mais recorrentes da obra matissiana) “não sonha” e “vive a delícia – cor/ e perfume – de estar totalmente/ neste mundo.” A visibilidade é, para mim, uma afirmação da vida, do viver, do mundo, da existência como absoluta presença. Num outro poema de Martelo, ao falar de Deus, imagino que um navio talvez possa ser um pedaço de um pedaço/ de um pedaço do seu nariz (…) Só sei pensar as coisas mais abstratas e vagas como matéria, corpo, visibilidade. Penso com o olho. O olho é minha sensibilidade. E creio mesmo que a poesia que escrevo reflete isso. Tudo o que escrevo aspira ser como aquele grande nu de Matisse, absolutamente aqui, absolutamente agora, aberto à vida e ao olhar.
NG: Gostaria que o poeta tecesse um paralelo entre o seu mergulho nas poéticas águas lusitanas e sua viagem pela rigorosa arquitetura do verso cabralino.
EF: O contato inicial com as “águas lusitanas” deu-se com a leitura da poesia de Fernando Pessoa, de todo inevitável, já que no Brasil ele era e é obrigatório. Posteriormente, aconteceu-me a poesia de Jorge de Sena, que li com bastante atenção e entusiasmo. E, ainda, creio que por volta de 1985, eu e mais dois amigos adoecemos de Os passos em volta, de Herberto Helder. Digo adoecemos porque o livro se converteu numa fixação para os três, algo patológico! Quando não estávamos em casa a ler o livro, estávamos juntos, cada qual com o seu exemplar. Então, íamos para algum bar ou para a casa de um de nós e ficávamos madrugada adentro, maravilhados, lendo aqueles textos. Sabíamos de cor passagens enormes de “Estilo”, “Holanda” e “Coisas elétricas na Escócia”. À época eu já conhecia alguma coisa de Sophia e Eugénio, mas só depois suas poéticas ganhariam a dimensão de forças reveladoras da minha própria escrita.
Creio que o mecanismo da influência é mais ou menos esse: descobrimos algo que faz claro aquilo que desejamos secretamente, como uma vereda para chegarmos ao que nos tornamos. Sendo assim, realmente os dois nomes portugueses a citar são Sophia de Mello Breyner Andresen e Eugênio de Andrade. Encontrei em ambos, sobretudo, a força que nasce da delicadeza e da luz. Já disse em outra oportunidade que a ternura de Eugênio é das coisas mais grandiosas que a poesia já produziu. Toda a sua palavra é de uma luminosidade que nunca cega, pois nasce de uma vivência erótica que afirma o corpo, que o festeja, ele e seus desejos, ele e suas sedes. A palavra é também um corpo na poesia de Eugênio, que convoca cada sílaba com o seu corpo inteiro. A atmosfera erótica eugeniana sempre me excitou, fisicamente mesmo, pouco importando sobre o que falasse. Até porque a poesia, de fato, não fala “sobre” coisas. As coisas é que são invitadas a virem para o poema como testemunhos da existência. A vida é real, sim, sabemos disso porque as coisas o dizem, e o dizem sobretudo, plenamente, nos poemas. Esta asserção das coisas no poema é absoluta, é maravilhosa, estonteante e patética. A poesia de Eugénio mostrou-me isso, assim como a de Sophia, cuja poética, toda a crítica já o disse, procura libertar-se de toda contingência de tempo e espaço, da descontinuidade dos nomes e dos corpos, a fim de fundar na escrita um tempo/lugar no qual tudo se reintegra e volta à unidade perdida.
Aparentemente, a escrita de João Cabral seria muito aposta à destes dois poetas. Sophia e João Cabral, porém, não apenas foram amigos, mas admiravam-se como escritores, homenagearam-se em poemas, trocaram livros e dedicatórias. Cabral comentava os poemas da amiga e O livro cigano mostra uma clara influência da escrita cabralina sobre Sophia de Mello Breyner. Também sei que Eugénio é um admirador da poesia do nosso pernambucano e seria possível traçar um quadro de convergências na poesia de ambos. Não pretendo ensaiar aqui um estudo aproximativo, e se sublinho alguma vizinhança fora do âmbito da minha poesia é apenas por uma espécie de vício crítico. Voltando ao círculo restrito que me inclui, penso que estes três poetas orientaram-me para um certo materialismo e para um realismo solar. Como poeta, eu não conseguiria, por temperamento, aproximar-me da poesia desejadamente incômoda de Cabral. Sua materialidade áspera e cortante, sem dúvida esplendorosa, definitivamente não me serviria. Estou mais próximo da delicadeza de Eugênio e Sophia. Mas, nos três, encontrei o rigor construtivo casado à emoção.
Também preciso consignar que, ao lado destas três referências fortes, o poeta que mais me ensinou o ofício da poesia foi Drummond. Quando aluno de graduação e de mestrado em Letras, li e estudei em várias oportunidades a sua poesia, orientado pela extraordinária professora e ensaísta Marlene de Castro Correia. A manipulação dos ritmos, das repetições, as alternâncias de tom, a variação de registros, as múltiplas vozes e outros recursos utilizados extensamente e magistralmente por Drummond eram vistos e pensados, pesados em relação com a reflexão que os poemas propunham. E penso não haver dúvidas de que a poesia drummondiana, neste sentido, é mais rica que a daqueles três poetas. Digo mais. Em língua portuguesa, só Pessoa ombreia com Drummond. Este aspecto do aprendizado formal foi fundamental para mim, que sou, por gosto, um poeta-trabalhador. Mas se pudesse eleger uma poesia como padrão, vislumbrada timidamente numa espécie de utopia íntima, esta seria a de Manuel Bandeira, pois penso que ela congrega todas as qualidades que me atraem neste ou naquele poeta, neste ou naquele pintor.
RN: Contribuindo para o desmoronamento da antiga crença de que construção teórica e criação poética não caminham de mãos dadas, você personifica o exemplo do poeta, profissão: professor. Não é algo muito comum no território acadêmico. Como você concilia sua atividade acadêmica com a produção ensaística e a criação poética?
EF: Não faço qualquer esforço para conciliar estas coisas, simplesmente porque isto não me parece necessário. Para mim, ao contrário, elas fazem parte de uma coisa só: a poesia. Dar aulas de literatura brasileira é um modo de estar próximo da poesia. Escrever ensaios sobre outros poetas tem esta mesma dimensão. Estou sempre lendo, escrevendo, falando sobre a poesia, poemas e poetas. Mas devo dizer que não gosto, absolutamente, da idéia de que hoje a poesia vem sendo feita por professores e/ou universitários. Penso que é melhor para a poesia estar livre. Não porque a academia possa lhe fazer mal. Sinto bem o contrário disso: a poesia e os poetas devem muito à Universidade, pois ali se formam críticos e leitores. Ela é um centro de recepção e divulgação extraordinário e insubstituível. Mas penso que a poesia deve ser lida e escrita por todos. Sua força está, repito, na liberdade, na amplidão. O verso não é uma especialidade, um artefato técnico sob controle de alguns estudiosos. O professor tem uma função, e seu papel não deve se superpor ao do criador.
NOTAS
[1] FERRAZ, Eucanaã. Martelo. Cit. 1997. p. 20.
[2] SECCHIN, Antonio C. Jornal do Brasil. 2002. p. 4.
[3] CANTINHO, Maria J. “Desassombro”. 2001.
[4] SECCHIN, Antonio C. Op. Cit. 2002. p. 4.
sexta-feira, 9 de outubro de 2009
Quando o corpo e a paisagem chovem
 Sobre a poesia de Elizabeth Gontijo
Sobre a poesia de Elizabeth GontijoTexto apresentado em 2008 no II Congresso de Letras da Universidade de São João Del Rey- MG
1. O ciclo poético “de”
A poeta mineira Elizabeth Gontijo é autora de 5 livros de poesia. Três deles foram lançados na última década do século XX: De cor (1991), De amoras e outras (1993) e De um segredo (1999). Os outros dois títulos produzidos neste milênio são: Setembros (2004) e A Palma e o Verso (2007).
Proponho aqui uma leitura desta poética levando em conta essa divisão secular. Ressalto, nos três primeiros livros, o recorte vocabular dos versos onde escuto ecos das letras mineiras. Principalmente ecos roseanos, sertanejos: travessia – veredas – aragem – avessos – neblina - pedra... Chama atenção nos títulos destes três livros do século XX o uso da preposição de – De cor, De amoras e outras, De um segredo.
Com base na repetição seqüencial da proposição “de” nesses três primeiros títulos, leio, nesta fase inicial da poesia de Elizabeth Gontijo, uma poética da filiação. Nesta primeira fase, o leitor está, portanto, diante do ciclo poético “de”. Recordemos um pouco de preposição, então. Como uma palavra que liga dois termos entre si, a preposição estabelece entre eles uma relação de dependência. A gramática ensina ainda que em essenciais e acidentais são classificadas as preposições, sendo o “de” uma preposição essencial.
Para a leitura dessa filiação literária com essa preposição essencial, é bom lembrar que, por haver a dependência entre os termos, De cor é diferente de “cor” sozinho; assim como De um segredo não é igual ao segredo, o substantivo em si. Neste sentido, não é apenas o segredo em si que está em jogo, mas a idéia de alguma coisa que se liga, que se filia a esse segredo.
Nessa direção, a leitura da filiação aponta para uma poesia que se constrói a partir da idéia de pertencer. O poema acontece numa relação de pertencimento. Ou seja: alguma coisa ou algum ser dialoga com outra; está em interação com outro ser. Algum signo atrela-se a outro. E esse entrelaçamento entre os signos gera a matéria e a forma do poema.
.
.
2. Identidade e máscaras do feminino
2. Identidade e máscaras do feminino
Nesta poética da filiação, uma coisa vem sempre relacionada a uma outra, sugerindo uma filiação identitária. Em sintonia com essa filiação identitária, o primeiro poema do primeiro livro - De cor - chama-se “Identidade”. No seu diálogo com a tradição literária, o poema sugere a linhagem drummondiana do minério e do pó à qual Elizabeth se filia, como comprova a leitura de outros textos como “Minas” e suas pedras, “Minas” e suas luzes, por exemplo.
Essa filiação identitária, produzida no século XX, inscreve as máscaras de um feminino que ordena as miudezas e os gestos largos do cotidiano, apontando suas múltiplas direções. Múltiplas são, portanto, as máscaras desse feminino. Uma, na meia idade, se despe e penhora suas culpas. Outra máscara elucida um feminino que faz, farto da soberania da racionalidade, um pacto (“sombra”) e dialoga com as quaresmeiras sobre a paixão. No poema “Baile de Máscaras”, de Setembros, o tom muda radicalmente, dando maior consistência ao desejo que a máscara comporta.
Outra máscara do feminino exercita, de forma moderna, a visibilidade como “Ritual” e diz: “Com o olhar, ensaiamos um pacto”. Outras máscaras menos modernas preferem o tom confessional e elíptico dos diários, das cartas, dos bilhetes datados, e inscrevem a gradação crescente dos afetos dessa poesia guiada, lapidada pela magia do acaso. Haveria acaso? O poema “Átrios” do livro De amoras e outras (1993) já estetiza o futuro ao anunciar o livro “setembro” (2004) num verso isolado. O futuro é também estetizado, nesse mesmo livro de 1993, ao terminar com um texto intitulado “com o segredo”. Esse final anuncia, de certa forma, o volume seguinte que seria publicado em 1999 pela poeta: De um segredo.
Em De cor a poeta estetiza um discurso feminino que engendra um suave diálogo entre o sagrado e o erótico, a contemplação e o tato. Diz ela: “No escuro reza comigo,/ amansa meus cabelos, revoltos de outros carinhos.” Esse escuro fabrica a poesia do avesso, do invisível, embora seja esse um invisível que rutila na sombra, na penumbra, longe da cena do espetáculo e dos seus brilhos repetitivos. Esse invisível pode ser mensurado, por exemplo, onde a poeta “entre parentes” lê-se “entre parênteses” e palpitações. Esse invisível pode também ser lido na imagem da pedra. A produtiva lição que a pedra vem lecionando na poesia brasileira, desde o Arcadismo.
3. Corpo, paisagem e história
Na linhagem poética traçada principalmente pela poesia mineira, a pedra é um signo recorrente e que constrói roteiros. De Cláudio Manoel da Costa e suas penhas à conhecida pedra do meio do caminho do Drummond, há sempre uma lição da terra, suas pedras, para quem atravessa e descobre “a planície dos ombros” no poema “Amante”. Sugiro que nesta poética do ciclo “de”, os ombros sejam a capital do corpo da maioria dos eus estetizados pela poeta. “Estória Natural” e “Frágil”, dentre outros, são textos que justificam essa eleição metonímica dos ombros como capital (Drummondianamente falando, os ombros ainda suportam o mundo?).
Corpo, paisagem e história já renderam belos livros de poemas como O Romanceiro da Independência, de Cecília Meireles. Por algumas veredas da poesia de Elizabeth, ouve-se o fragmentado discurso da história e do cotidiano mais subjetivo passeando de mãos dadas. O sagrado fica de olho e, de quando em vez, ecos do seu discurso são também audíveis por entre veredas. Em alguns poemas, a história e a paisagem passeiam abraçadinhas. Esse passeio pela história, pela paisagem e pelo sagrado traduz um tipo de subjetividade que não exclui o signo erótico, a esfera dos afetos; e faz viajar o leitor por veredas que o sertão mineiro e sua poesia conduzem há tempos.
Ouçamos o poema “Entradas e Bandeiras” do livro De cor. Nele, Elizabeth empreende uma releitura da história mineira por “Veredas de mim”. Nessa releitura o seu recorte vocabular sugere os tons subjetivos e afetivos que permeiam o imaginário de nossa história política e social. Diz o poema:
Entradas e Bandeiras
Fulgurações de cidade antiga,
entre fantasmas da era do ouro.
Transeuntes de becos, musgos, ladeiras.
Luz intensa,
quase silêncio.
Como ávidos bandeirantes
repisamos graves,
pesadas botas.
Sem saber exato caminho
arriscamos escuros confins.
Relações entre o eu, a história e a paisagem intensificam a produção deste discurso poético. “In-confidência” é outro texto onde a história e a subjetividade dialogam. Esse eu que dialoga com a história e a paisagem não esquece a força de eros. Há ainda na poética de Elizabeth uma erótica da paisagem, como lemos em poemas como “Paisagem” (De amoras e outras) e “Horizonte” (De um segredo). Nos poemas “Espelho” e “Gestação” (De um segredo) a poeta trata de forma afetiva a paisagem e a história:
Espelho
...
Fruto maduro
quase gente,
a vaca sou eu,
com saudade da pré-história.
.
.
Gestação
...
Entre pólen e favo
a abelha trama um enredo.
Entre a flor e o fruto
o homem urde a história
Após o ciclo “de”, Elizabeth parece inaugurar uma outra poética e lança, em 2004, aquele que considero o seu melhor texto: Setembros. O livro abre com versos falando em “paisagem da escrita” e termina com “...Recomeço...”. Os poemas são menos fragmentados e, embora ostentem o poder de síntese que a poeta detém, há em alguns deles uns tons narrativos (“Limbo”) que tornam mais leves e consistentes os seus versos. Noutros, a autora se permite um tom coloquial, mais em sintonia com a linguagem do seu tempo, como no poema “Assombro”; embora ainda perdurem, em alguns poemas, ecos de um recorte vocabular (pena – valsa) que mais remete ao universo poético do século XIX.
.
Setembros apresenta madureza ao tematizar poemas relacionados às duas questões destacadas nesta leitura: a construção da identidade e a presença das máscaras do feminino, e as relações entre o corpo, a paisagem e a história. Acentuadas e amadurecidas em Setembros, essas questões possibilitam o “recomeço” de uma outra história poética. Nela encontramos substantivos e verbos que dizem das cores dos frutos, dos gestos dos corpos e do jeito de dizer que a poeta recorta aqui de forma menos velada. “Limbo” é um texto que estetiza esse jeito de dizer. É no limbo onde o corpo e a paisagem “chovem”, e dão conta desta história do feminino e suas máscaras.
Setembros apresenta madureza ao tematizar poemas relacionados às duas questões destacadas nesta leitura: a construção da identidade e a presença das máscaras do feminino, e as relações entre o corpo, a paisagem e a história. Acentuadas e amadurecidas em Setembros, essas questões possibilitam o “recomeço” de uma outra história poética. Nela encontramos substantivos e verbos que dizem das cores dos frutos, dos gestos dos corpos e do jeito de dizer que a poeta recorta aqui de forma menos velada. “Limbo” é um texto que estetiza esse jeito de dizer. É no limbo onde o corpo e a paisagem “chovem”, e dão conta desta história do feminino e suas máscaras.
Marcadores:
Carlos Drummond,
Corpo,
Elisabeth Gontijo,
Ensaio,
Guimarães Rosa,
História,
Identidade,
Paisagem,
Poema,
Poesia contemporânea
Assinar:
Postagens (Atom)