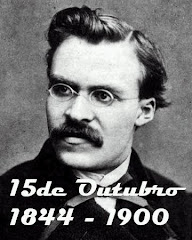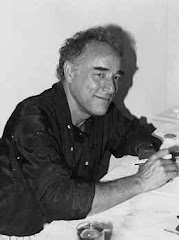Ressonâncias da Literatura Romanesca no livro
A Mulher que Matou os PeixesTexto apresentado no 5 Encontro de Literatura Infantil e Juvenil, Rio de Janeiro, UFRJ, 2008, e publicado no cd 5 Encontro de Literatura Infantil e Juvenil, 2008. v.1.
Eu gosto tanto de crianças,
eu gostaria tanto de publicar um filho chamado João!
(Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, 1978)
Escrita do perdão e do desejo
Este estudo tem como objetivo acionar uma leitura do texto A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, publicado em 1968, com capa e ilustrações de Carlos Scliar. Essa leitura é realizada através de um procedimento intertextual que leva em conta esse livro destinado ao público infanto-juvenil, mais dois outros cultuados volumes da autora: o romance A Paixão Segundo GH (1964), primeiro romance de Clarice na primeira pessoa, e a novela A Hora da Estrela (1977), o último livro publicado pela autora.
Essa novela ostenta, nas suas primeiras frases, uma tonalidade clara e afirmativa, lembrando a forma e a sintaxe de muitas histórias infantis. Após uma Dedicatória do Autor (Na verdade Clarice Lispector) e dos 13 títulos que encabeçam a história de Macabéa, o narrador afirma: “Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida”. Assim começa esse último texto da autora, no qual a morte é “personagem”, e que foi publicado no mesmo ano em que ela morre no Rio de Janeiro.
Tema recorrente na obra de Clarice, a morte é uma “personagem” de destaque nestas três narrativas. No livro destinado aos leitores infanto-juvenis, a morte vem impressa na afirmação do próprio título: A Mulher que Matou os Peixes. No romance A Paixão Segundo GH, a personagem G.H. – uma escultora de “classe alta” que vive numa cobertura do Leme no Rio de Janeiro – esmaga uma barata na porta de um guarda-roupa; vive uma via crucis da paixão onde o “crime” contra a “vida pessoal” é cometido em prol da própria vida. E na novela A Hora da Estrela, Rodrigo S. M. narra no final:
Então – ali deitada – teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço da morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto. (Lispector: 1977, p. 103)
Mas não será apenas a morte o personagem desta leitura. Para ouvirmos o que ressoa da literatura romanesca de Clarice Lispector, no seu livro A Mulher que Matou os Peixes, elegemos alguns dentre os múltiplos núcleos temáticos que engendram suas narrativas, como: a escrita do desejo e do perdão; o apreço pelo outro, o leitor, e sua configuração subjetiva; a sincronia que a autora cria entre os animais, os vegetais, os objetos cotidianos e sua escrita. Além desses núcleos temáticos, atentaremos para os intertextos criados por Clarice a partir dos seus próprios textos, e que também estruturam esta leitura.
Nas crônicas antes publicadas em jornal que compõem o livro A Descoberta do mundo, encontramos trechos de contos, embriões romanescos, textos que serão depois retomados por Clarice. Exemplar desse procedimento textual é o que acontece com o conto “Macacos”, do livro A Legião Estrangeira. Esse texto narra a história de Lisette, uma macaquinha que “tinha saia, brincos, colar e pulseiras de baianas. E um ar de imigrante que ainda desembarca com o traje típico de sua terra”. Muito bem acolhida e amada pela narradora, esta mesma Lisete (agora sem um t), reaparece em A Mulher que Matou os Peixes, ganhando a mesma descrição e a mesma pergunta feita pelo filho no conto de A Legião Estrangeira: “Você acha que ela morreu de brincos e colar?”
Clarice dizia haver três coisas para as quais ela nasceu e pelas quais ela “daria a vida”: amar os outros, escrever e criar filhos. Dizia também que esta ação de amar os outros é tão vasta que inclui perdão até para si. Sua literatura é permeada por essa escrita do perdão, onde o desejo é combustível para a ação narrativa. Nessa escrita, inusitadas conexões são criadas entre Deus e as baratas, os milagres e os crimes, a fome e a mesa “para homens de boa vontade”, a condição dos santos, dos criminosos e as epifanias.
As epifanias surgem em meio a um cotidiano áspero, repetitivo, e remetem à idéia de iluminação oriunda do universo religioso. Ostentando um tom que oscila entre o confessional que deseja a coisa dita e o religioso que contém a coisa (mesmo que essa coisa seja uma barata ou um rato), essa escrita do perdão é audível nos gêneros pelos quais Clarice transitou e no grande arquivo de formas que ela construiu: romances, contos, novelas, crônicas, cartas e textos da Literatura infanto-juvenil.
Essa escrita do perdão pode ser mensurada na recorrência a títulos e frases que remetem ao substantivo perdão e ao verbo perdoar. Além disso, essa escrita apresenta um recorte vocabular que remete ao universo religioso, e que inclui palavras como milagre, culpa, medo e salvação. Nem a própria Bíblia fica de fora. No seu “processo de reconquista do humano através do inumano” (Nunes: 1976), a narradora G.H. cita a Bíblia, e indaga por que este livro se preocupou tanto com os imundos:
.
...Eu me sentia imunda como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos, e fez uma lista dos animais imundos e proibidos?...o imundo é a raiz... (Lispector: 1977).
O recorte vocabular que remete ao universo religioso e à porção romântica de Clarice Lispector, em plena modernidade, é também audível em crônicas densas como “Perdoando deus” ou “Cem anos de perdão”, do livro póstumo A Descoberta do Mundo. Esse mesmo recorte ressurge num tom mais leve, de timbres bíblicos, no conto “A repartição dos pães”. Neste conto do livro A Legião Estrangeira, ouvimos:
Lá fora Deus nas acácias. ...Nunca Deus foi tão tomado pelo que Ele é. A comida dizia rude, feliz, austera: come, come e reparte...Nós somos fortes e nós comemos. Pão é amor entre estranhos. (Lispector: 1977, p. 29)
O recorte vocabular dessa escrita do perdão invade o espaço romanesco da autora. “Perdão é um atributo da matéria viva” – essa é uma assertiva da narradora de A Paixão Segundo G.H. Ao invés de matar os peixes, ela esmaga uma barata que leciona fecundação e nojo. Mas não é apenas na literatura romanesca da autora que o perdão vira “personagem”. Concluída a leitura de A Mulher que Matou os Peixes, o leitor descobre que a narradora precisa do perdão de quem ouve ou lê. No fragmento 146, ela dissera: “Então me dêem perdão”. E o último fragmento – 148 – é composto de uma única pergunta que ratifica essa necessidade de perdão da parte de quem narra: “Vocês me perdoam”?
Com essa pergunta a autora encerra sua narrativa de poucos fatos e repleta das muitas repercussões desses fatos na vida de quem narra e de quem lê. O texto de Clarice traduz um forte apreço pelo outro, pelo ritmo alheio, pelo leitor e sua respiração. Ela sabe do poder de, ao escrever, interferir nessa respiração, com um simples modo de pontuar, como diz o narrador de A Hora da Estrela. As vozes que narram nesses textos atestam o desejo de amar o outro, de compreender a diferença que marca a subjetividade alheia, despertando na autora a necessidade de uma certa “compreensão sagrada” (Caio F.) – e ás vezes sangrada - das pessoas, dos bichos e das coisas ao seu redor.
Nesta literatura é audível um incessante diálogo da autora com os animais, com os objetos e as máquinas cotidianos. Nesse sentido sua arte dialoga com as produções contemporâneas que se interessam mais pelo que está em volta, no entorno; e não por verdades abissais, distantes do cotidiano; embora as reflexões possibilitadas pelos textos de Clarice estejam longe de se restringirem ao registro ou a documentação desse cotidiano.
Esse diálogo com o entorno não exclui as estações que passam e alteram as formas de sentir, nem a cidade onde o corpo transita lendo, cheio de fé, a paisagem que diz, promete, muda. A natureza, as plantas, os vegetais são um capítulo à parte no universo clariceano. No conto “A repartição dos pães”, as frutas e os vegetais apresentam humores e ciclos, e como os humanos também se protegem na sua subjetividade úmida, inexplicável, como faz os pepinos: “pepinos se fechavam duros sobre a própria carne aquosa”. Ouçamos, do livro A Mulher que Matou os Peixes, o discurso que elege o universo vegetal como tema e parceria dessa narrativa:
Planta, se a gente pegar com jeito, as folhas delas parecem cantar. E falam com a gente. O quê? Depende de a gente estar triste ou alegre, com fome de beleza e de conversa. (Lispector: 1974, p. 51/52)
Deve ter sido por motivo dessa “fome de beleza e de conversa” que o filho Paulo perguntou, quando Clarice morava em Washington, por que ela não escrevia um livro para crianças. A autora ficou emocionada, lembrou dos coelhos de sua infância e publicou, em 1967, O Mistério do Coelhinho Pensante. Depois, vieram os textos A Mulher que Matou os Peixes (1968) e A Vida Íntima de Laura (1974), formando a trilogia de textos publicados em vida para o público infantil e juvenil.
Essa trilogia de textos produz um inusitado intertexto. Habituada a expor a sua porção metalingüística nos textos romanescos (principalmente em seus dois últimos textos de ficção, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida), Clarice constrói em A mulher que matou os peixes dois fragmentos – 33 e 34 – a fim de exercitar uma espécie de metalinguagem para leitores mais jovens. Referindo-se ao coelho e ao livro que o elege como personagem, ela diz:
Coelho tem uma história muito secreta, quer dizer, com muitos segredos. Eu até já contei a história de um coelho num livro para gente pequena e para gente grande. Meu livro sobre coelhos se chama assim: “O mistério do coelho pensante”. (Lispector, 1974, 19)
Seriam a porção materna e a sintonia com os animais responsáveis pela geração desses tons reflexivos e repletos de afetos pelo humano? Coelho que pensa, peixe que morre sem voz, galinha que possui vida íntima... A literatura de Clarice é assim: seja no texto romanesco, seja na literatura infantil e juvenil, existe uma esfera do inumano que é toda permeada de bichos, estrelas, vegetais, objetos, máquinas (máquina de escrever, guindaste) e coisas. “Eu juro que a coisa tem aura”, diz Ângela em Um Sopro de Vida (Lispector, 1999, p. 103). “Ela humaniza as coisas”, diz o autor acerca de Ângela que deseja escrever um “romance das coisas”.
Haja bichos! A Mulher que Matou os Peixes serve de pré-texto para Clarice falar de barata logo no primeiro fragmento: “Até deixo de matar uma barata ou outra”. Mas não pára por aí: no fragmento 23, elas estão de volta, as baratas, quando a narradora diz haver pago a um homem para “matar baratas”. Impossível não lembrar da famosa barata com quem G.H. interage, enxergando o vazio interior e o deserto no qual transita ao olhar o animal, aprendendo a “amar mais o ritual de vida que a si próprio”.
Mas nem só de peixe e barata faz-se a narrativa de A Mulher que Matou os Peixes. Este livro serve de pré-texto para Clarice falar também de ratos e lagartixas e coelhos e patos e cachorros e macacos... É vasta a fauna criada pela autora neste texto onde quem narra assume seu crime na primeira linha do primeiro fragmento: “Essa mulher que matou os peixes infelizmente sou eu”.
No estudo que empreende em torno do universo imaginário de Clarice Lispector, Benedito Nunes diz que “os bichos constituem”, na obra da autora, “uma simbologia do ser“ (Nunes: 1976, p. 125). Essa constituição simbólica nos remete ao conto “Uma história de tanto amor”, onde a narradora disserta acerca do destino da galinha. Narrando que ser comida é o destino de quem nasce galinha, ela atenta para o poder do olfato e lembra que ninguém brinca com o cheiro de uma galinha viva, abaixo das asas...
Para a narradora, os homens e as galinhas não podem ser curados de serem homens e galinhas. Sua lição nos ensina que quando a gente come bichos, fica parecido com eles – os bichos comidos. Mas o apogeu da voz que narra acontece quando ela ressalta o prazer de ter uma galinha muito querida incorporada em si. “Só continuavam a viver os pintos que tinham alma mais forte”, leciona a mulher que matou os peixes, depois de assumir que já comprara “muitos pintos e a maioria morreu”.
A leitura que retira do universo interior
Segundo Walter Benjamin, a história do livro infantil demonstra, desde os seus primórdios, a predominância e a importância das cores no universo dessa literatura. No entanto, na reflexão que empreende entre as imagens coloridas e as xilogravuras em preto e branco de vários autores europeus, o pensador alemão assim escreve, levando em conta a percepção infantil:
A imagem colorida faz com que a fantasia infantil mergulhe sonhando em si mesma. A xilogravura em branco e preto, reprodução sóbria e prosaica, tira a criança de seu próprio interior. (Benjamin: 2002, 64/65).
Para Benjamin, o valor original da xilogravura em branco e preto é “equivalente ao das gravuras coloridas e desempenha função complementar”. Com base nesta leitura, nos aproximamos dos desenhos de Carlos Scliar que ilustram o livro de Clarice para leitores infantis e juvenis, já que o livro não contém nenhuma imagem colorida.
Composto de 148 fragmentos irregulares, que tanto podem ter uma como 17 linhas (como atesta o fragmento 110), A Mulher que Matou os Peixes é um livro que propõe, em certos aspectos, uma leitura semiótica; isso, se pensarmos nessa ciência dos signos como aquela que investiga todas as linguagens possíveis, e não apenas a linguagem verbal, o objeto de análise da lingüística.
Essa proposição semiótica é ratificada pela supremacia imagética dos desenhos de Carlos Scliar que dialogam, durante toda a narrativa, com a escrita da autora. Esse diálogo é produtivo e acompanha as sugestões da escrita verbal, a ponto de algumas páginas serem tomadas apenas por imagens, e não haver nelas nenhuma palavra. Isso acontece, por exemplo, nas páginas 12, 15, 26, 54, 56 e 57, dentre outras.
No livro A Mulher que Matou os Peixes, todos os animais são desenhados com a mesma cor preta, num tom levemente acinzentado. Em sintonia com a leitura perceptiva e pedagógica, proposta por Benjamin, através das cores preto e branco da xilogravura de diferentes séculos, podemos inferir que a escrita produzida por Clarice, juntamente com as imagens sombrias de Scliar, no branco da página, possibilitam ao leitor uma retirada do seu universo interior.
Ao ser retirado desse universo interior, o leitor desperta e retorna para o mundo que o cerca na sua materialidade colorida e concreta. Esse retorno possibilita a experiência de outras formas, a audição de novos ritmos, a percepção de outros sons. Para o registro dessa experiência, Clarice cria uma ilha como signo no final da sua narrativa. A forma da ilha remete geralmente ao espaço da utopia, ao universo rico de possibilidades narrativas e existenciais. “Essa ilha é um pouco encantada”, diz a narradora. Ela sabe do potencial sensorial e afetivo que esse encantamento aciona no imaginário do leitor.
Na materialidade do texto, esse leitor depara, além da ilha, com as imagens da fauna da qual Clarice lança mão para a sua escritura, como vimos na parte I deste estudo. Sabemos da predileção da autora por ratos, baratas e peixes. Mas existem muitos outros animais que ela transforma em personagens do livro A Mulher que Matou os Peixes. Dentre as imagens dessa fauna, destacamos, nas páginas 50 e 51, os peixes habitantes da ilha, cujo silêncio “é atravessado pelos sons característicos dos habitantes animais e vegetais” (Lispector: 1974).
Nas páginas 54 e 55 os desenhos de Scliar dialogam com os “cardumes de peixes pequenos e grandes”. E as imagens que “inundam” as duas páginas seguintes, são sugeridas pelo texto da autora que assim narra: “no mar da ilha também tem cardumes de botos ou delfins: parecem com uma baleia pequena”. Por que será que um livro que fala de peixes no seu título dedica tantos páginas para outros animais, e como é que botos ou delfim remetem à baleia?
São muitas as perguntas sugeridas pelo texto de Clarice e múltiplas as possibilidades de respostas. A leitura das imagens de Scliar auxilia nas perguntas de quem lê, ao vermos em meio aos peixes, traços que dão idéia de movimento, imagens de tonalidades díspares, desenhos irregulares e que sugerem as formas distorcidas da “baleia pequena” em seu movimento. Ou seja: as imagens do desenhista ampliam as possibilidades de experiências vivificadas pelo leitor, auxiliando com mais vigor na construção das formas do seu imaginário.
Os últimos desenhos de Scliar possuem como tema este universo de peixes e águas em movimento. É dele, após o pedido de perdão da narradora, a bela imagem final do casal de peixes que se movimenta na mesma direção. As formas se arredondam, na página 59, e a autora continua explorando a ilha, embora prometa voltar para os bichos. E aí surge um dos temas mais caros na escrita de Clarice, seja no seu texto romanesco ou neste livro destinado aos leitores infantil e juvenis: o medo. Parra registrar essa relação entre bichos e medo, ouçamos o que diz a narradora:
Eu fico muito ofendida quando um bicho tem medo de mim, pois sou corajosa e protejo os animais. Quem de vocês tiver medo, eu cuido e consolo. Porque sei o que é o medo que as crianças têm porque já fui criança. Até hoje ainda tenho medo de certas coisas. (Lispector: 1974, p. 60)
Este medo parece estar relacionado com as experiências, às vezes radicais, vivificadas pelos personagens de Clarice; experiências essas que levam em conta os diálogos dos seus corpos com os espaços pelos quais transitam, como acontece com o espaço que tece e mata Macabéa nA Hora da Estrela. No trânsito por estas três narrativas, as experiências do medo e da morte na vida de quem narra se fez presente, possibilitando outras formas de relações entre corpos e espaços.
Nas conexões tecidas entre os três textos, atentamos para as variadas formas e os múltiplos tons construídos pela autora. De ouvido na tonalidade romanesca – que oscila entre o confessional e o desejante –, e atentos aos tons que a autora utiliza para pedir perdão em seu texto destinado ao público infantil e juvenil, percebemos como os tons da fala interferem no peso que é dado aos fatos. Com base nessa audição, sugerimos ser possível ao leitor ouvir ressonâncias dos aspectos textuais da romancista nos seus escritos de Literatura Infanto-Juvenil. Ou aquela imagem dos dois peixes no final, após o pedido de perdão, seria obra do acaso?
BIBLIOGRAFIA
BENJAMIN, Walter. “Livros infantis velhos e esquecidos” In: Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas cidades, 2002.
BIBLIOTECA Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil. V. 14. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 2006.
CAMPEDELLI, Samira Y. & ABDALA Jr., Benjamin. Clarice Lispector. São Paulo: Abril Educação, 1981. (Literatura Comparada).
GOTLIB, Nádia Battella. “No território da paixão: a vida em mim” In: LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo GH. 18. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.
LISPECTOR, Clarice. A Mulher que Matou os Peixes. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974.
______. A Paixão Segundo GH. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977.
______. A Hora da Estrela. 22. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993.
______. A repartição dos pães / Macacos. In: A Legião Estrangeira. São Paulo: Ática, 1977. (Nosso Tempo).
______. Um Sopro de Vida. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
.
______. A Descoberta do Mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
NUNES, Benedito. “O mundo imaginário de Clarice Lispector” In: O dorso do tigre. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 93. (Col. Debates 17)