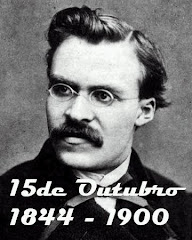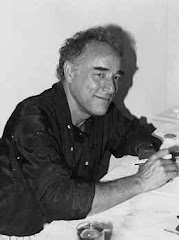Sabemos que, desde Aristóteles e sua
Poética, arte e técnica têm tudo a ver (embora ambos os conceitos sejam hoje bem diferentes da Antiguidade Clássica). Sabemos também que, desde o final do século XIX, a linguagem – principalmente a linguagem literária - começou a ganhar um novo impacto a partir do desenvolvimento tecnológico. Isso foi intensificado durante todo o século XX com a instauração do que chamamos de Modernidade: uma estética que possui no ceticismo e no deslocamento duas de suas principais “senhas”.
A criação de objetos e máquinas como a lâmpada elétrica, o automóvel, o cinematógrafo, o vídeo, a TV e a máquina de escrever transformaram radicalmente os cenários e costumes da vida urbana. Nas cidades, as ações cotidianas – mediadas principalmente pela técnica - passaram a ser mais imediatas, o que de certa forma interferiu no ritmo da produção da escrita e na recepção das artes e culturas.
Também o aparecimento da imprensa diária contribuiu para a mudança de hábitos. Formou um novo tipo de leitor. Um leitor com um outro ritmo de leitura. Desde então, a literatura passou a ter uma forma mais apressada de recepção; e gêneros como o romance, por exemplo, sofreu influência do jornal. A literatura começava a perder a sua aura.
Uma nova sensibilidade no ar
Difícil não perceber que a entrada de tanta tecnologia em cena contribuiu para a mudança de percepção do sujeito. E a lição do crítico e pensador Walter Benjamin nos ensina que quando muda essa percepção, transformam-se os modos de existência da coletividade e os seus meios de produzir arte e cultura. Cria-se, com essa transformação perceptiva, uma re-leitura do contexto.
Para essa releitura do contexto, gosto muito de lembrar um autor que os jovens alunos adoram: o poeta Paulo Leminski, romancista que publicou em 1975 o denso e injustamente esquecido Catatau. Ele foi professor de História, ensaísta e tradutor de Petrônio, Joyce e Lennon, dentre outros.
Sintonizado com a concretude do seu contexto histórico e estético, Leminski leu Oswald de Andrade, e por isso sabia que a poesia existe na maquinaria e nos fatos. Por causa deles, os fatos, o poeta não perde a sintonia com o contexto, e sabe que não apenas as formas estéticas e culturais são históricas e mutantes, mas até os sentimentos, os nossos gestos... São as mutações identitárias dos filhos da modernidade e suas movências... Leminski leu Karl Marx, é claro. E escreveu um texto belíssimo, como diria minha querida amiga Tetê, chamado "Latim com gosto de vinho tinto".
Voltemos às novas sensibilidades que sedimentam as identidades modernas. Somos testemunhas de que vários fatos contribuíram para a produção de outras linguagens, além das mutações e alterações nos ritmos e tons do texto literário. Dentre esses fatos e mutações mencionamos:
- a leitura do jornal
- a possibilidade de observarmos imagens que se locomovem na tela - do cinema, da TV, do PC
- a transformação do ritmo temporal gerada pelos meios de locomoção
- a criação de uma escrita automática...
Esses são alguns dos fatos e/ou motivos que contribuíram para que o texto literário ganhasse uma outra oralidade e/ou um outro ritmo no início do século XX. Neste início de milênio, esse ritmo torna-se mais radical, a partir do advento da informática, dos roteiros da computação e da escrita virtual. Surge uma oralidade maquínica que gera outras modalidades de escrita.
Nada disso eu soube dizer quando defendi a “letra” contemporânea na Universidade. "Letra" essa sintomaticamente inscrita num Departamento de Tecnologias e Linguagens. Tudo a ver. Uma “letra” do meu tempo. Escrita com as tintas e as trevas do presente. Conteúdos mais voltados para os roteiros das novas tecnologias que se inscrevem, de forma irreversível, em nosso contexto histórico, estético e cultural. Isso porque muito me inquieta a distância que separa a subjetividade maquínica que aciona atualmente o nosso cotidiano, e o quadro de giz do século VXIII com o qual buscamos inscrever o universo de quem nos assiste.
Essa “letra” contemporânea faz-me pensar na palestra que o crítico George Yudice proferiu na UFRJ em 2009. O autor de A conveniência da cultura: usos da cultura na era global iniciou a sua comunicação ressaltando a importância dos professores e pesquisadores atentarmos para o universo dos jovens. Segundo ele, os jovens alunos devem ser inseridos "libidinosamente". Essa inserção tema ver com o fato de que, na sua opinião, "as mudanças culturais não estão relacionadas apenas com a cultura". Essas mudanças têm a ver com a escola e com as políticas educacionais, pois no atual contexto a cultura é lida como "prática material", e não apenas como uma abstração, um bem simbólico.
Professores gostam?Segundo Yudice, a maioria dos professores não conhecem (ou não se interessam) pelas práticas culturais dos jovens contemporâneos: video-games, yotube, blogs, chats, MP-3, músicas no pc... Para ele, esse desconhecimento dificulta a interação entre mestres e alunos. Inseridos na atual "cultura do acesso", esses jovens sentem-se desinteressados pelo modelo proposto pela escola.
. Atentando para a importância dos suportes materiais e dos produtos midiáticos da cultura, o ensaísta ressalta "os lugares de socialização da internet". Para tecer relações com o atual contexto digital e midiático, onde novas tecnologias proporcionam o surgimento de outras sensibilidades, o crítico americano resgata a leitura que Walter Benjamin faz do flaneur e do seu trânsito no espaço urbano no século XX.
Segundo ele, a expressão dessas sensibilidades exige outros modos de percepção, outros meios de interação; assim como as formas perceptivas que o pensador alemão conseguiu captar nas primeiras décadas do século XX, principalmente através do cinema e da arquitetura. Principalmente através das
Passagens de Paris, suas modas e mercadorias, e da poesia de Baudelaire.
Já ouvi muita gente boa dizer que, se vivo estivesse, Walter Benjamin leria hoje os shoppings... Tudo a ver. Ele sabia que o crítico é um leitor que rumina. Por isso precisa ter vários estômagos, múltiplos olhares... Benjamin sabia principalmente que a tecnologia circula na veia moderna escrevendo outra letra.