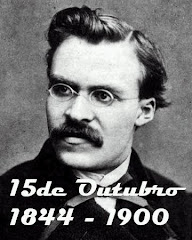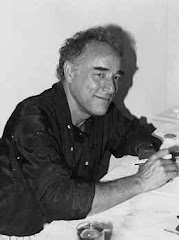O ensaio como poética da audição
.
.
.
Prefácio do livro Descoordenadas cartesianas em três
ensaios de quase filosofia, de Pablo Capistrano, Natal, 2001
de volta ao começo
Depois de incursionar pelo fanzine, por recitais de poesia e pelo jornalismo, o escritor Pablo Capistrano lançou, em 1999, Domingos do Mundo (Boágua Editora) - seu 1º livro de poemas. Com um olhar voltado para a tradição filosófica/literária e outro mirando o presente da cultura de massas, o autor assumia sua formação acadêmica e sua porção pop. Mostrou com isso uma das facetas mais instigantes das novas gerações produtoras de arte e cultura: a disponibilidade de operar passagens, experienciar novos trânsitos, construir transciência.
Os procedimentos imagéticos de Domingos... deixavam entrever o poeta fitando as cores de Wittgenstein, olhando pela fresta o cinismo dos românticos, zarpeando páginas beats e vencendo o distraído jogo dos poetas marginais... De olho em Spiellberg e seu “cinema/show”, Pablo dissolvia o verbo em Domingos... Erigia imagens fragmentadas de um sujeito que, de ouvido no Nirvana e noutras sonoridades pop, anulava sentimentos em prol de uma intuição corpórea. Noutras palavras: o poeta compunha o espaço dos afetos, desviava o tempo da norma. Não era pouco. Fosse no terreiro acadêmico ou no território pop, deu para perceber que “um grão do domingo se esconde em todo dia de semana, e quantos dias de semana nesse domingo” (Walter Benjamin, Rua de Mão Única).
Quando resenhei Domingos do Mundo (“A poesia move o mundo, os dias” in O Jornal de Hoje, 16/09/99), detive-me apenas nos poemas. Faltou dizer que o primeiro livro de Pablo já sinalizava a hibridez de um autor voltado para outros gêneros literários. A última parte do livro (“Ética”) compunha-se de uma “Tabula Rasa” onde o narrador - de tonalidade filosófica - relatava as fragmentadas memórias de um sujeito em busca de sua linguagem e de uma mulher. Rilkeanamente, ele descobriu o que há de terrível não apenas no sublime e no anjo, mas na ausência deles. O descompasso entre sua excessiva produção mental de signos e a escassez de música nas entranhas deixou-o desritmado. Teria ele vocação para mapear abismos? Triste e pleno, o homem desistiu de imitar a nostalgia e a delicadeza. Depois disso, outro era seu nome.
Outro é também o novo texto de Pablo. Se nos poemas anteriores era o olhar quem estetizava a poesia, ora ela é audível numa “floresta cantante”. Descoordenadas cartesianas em três ensaios de quase filosofia celebra - eclesiasticamente - que “há tempo para cantar e há tempo para ouvir”. A extensão dessa voz ecoa nos três ensaios do livro (principalmente nos dois primeiros), produzindo uma audição que (a)colhe tons da história pessoal do poeta e da oralidade cotidiana na qual ele "atua".
Dando continuidade à sinalização prosaica/filosófica do livro anterior, o autor anuncia, na Apresentação destas Descoordenadas cartesianas..., tratar-se de um “risco” situado entre “o rigor da filosofia” e a “fluidez da prosa literária”. Um “risco” que desafia também o arquivo de formas da poesia (no “Anexo poético” do final do livro). Tudo isso, apesar de problemático, torna-se bastante sedutor, na medida em que convida o leitor para uma aventura desconhecida, sem mapeamento de área. Neste roteiro poético/filosófico tudo pode acontecer.
ensaio contemporâneo
A sedução deste tipo de texto está no fato dele pertencer a mais contemporânea vertente ensaística: aquela que rompe com a forma do ensaio ao inserir nele uma mescla de informações teóricas, de procedimentos estéticos, com experiências e reflexões pessoais. Essa mistura faz emergir do texto, além do tom reflexivo, uma tonalidade imaginária. Será por isso que o poeta, ao referir-se ao seu livro, diz da “fluidez da prosa literária”? Haveria neste ensaio reflexivo-imaginário a mesma tonalidade fruída do texto literário?
Fruir e refletir são os verbos de quem ensaia na contemporaneidade. A partir disso o aparato estético, a dimensão cultural e a substância histórica do ensaio produzem outras imagens e outros tons. Utilizando-se de procedimentos literários e do repertório filosófico, Pablo produz um ensaio híbrido e polifônico. Em seu corpus o elemento biográfico, a memória da pele, o discurso corporal, os dados contextuais, os cadernos de anotações, as viagens, impressões cotidianas, informações literárias, a sala de aula - tudo pode ser incorporado à “arquitextura” ensaística.
Os ensaios de Pablo Capistrano apresentam boa dose de oralidade. A introdução dessa oralidade no texto tem a ver, dentre outros, com o exercício do magistério e da escrita jornalística desenvolvidos pelo autor, e com o seu talento para a arte da prosa, da conversação. Na sala de aula, na redação ou no espaço cotidiano do bate-papo, o aluno, o leitor do jornal e o ouvinte podem tornar-se parâmetro para o futuro leitor do texto ensaístico. A inserção dessa oralidade no discurso ensaístico - geralmente marcado por uma sintaxe e um tom que pouco evidenciam das estruturas narrativas cotidianas -, dá um charme muito especial à leitura destes “três ensaios de quase filosofia”.
o filósofo e o ensaísta como intérpretes
Como a autobiografia, o diário, as cartas e tudo aquilo que Bakhtin enquadra no "grupo especial de gêneros", o ensaio é uma deriva que possui o eu como ponto de partida, embora tenha o outro e sua diferença como alvo. Mas, ao contrário destes outros gêneros citados, que geralmente confessam ou fundamentam (e é bom lembrar que a idéia do fundamento possibilita geralmente a guerra dos extremos, dificultando a visão da multiplicidade), ele - o ensaio - busca refletir.
Essa reflexão ensaística possibilita, na leitura destas Descoordenadas... capistraneanas, a inscrição de uma poética da audição. Nela é audível o exercício de uma escrita calcada na imaginação, na conexão e no entusiasmo, além da reflexão. Pensando na ação reflexiva como procedimento filosófico, podemos ler nas figuras do filósofo e do ensaísta um intérprete - sujeito reflexivo e de intuição corpórea que interpreta o espaço (conectado à experiência) e o tempo (de olho nas pegadas da tradição). Penso que por essa trilha entoa o autor.
É bom lembrar que esse intérprete e sua interpretação não estão nem aí para as grandes verdades abissais (a geração à qual pertence o autor sabe como é complicado esse negócio de verdade escondida no fragmentado museu de nossas memórias). Trata-se, na verdade, de uma interpretação que nada funda; apenas sugere, insinua, desloca. A movência é o signo dessa interpretação. Ela move-se ao sabor de um saber de superfície. Um saber que, não sendo superficial, evita o mergulho, sintonizando-se com, dentre outros, duas coisas: a profundidade da pele e a proposição da leveza exaltada por Ítalo Calvino em Seis propostas para o próximo milênio.
Nos “...três ensaios de quase filosofia”, Pablo Capistrano viabiliza a leveza em sua tonalidade ensaística. Trata-se de um tom que, descartando a grandiloqüência e a senha - às vezes áspera e descartável - da margem trepidante e suicida, busca no roteiro da pele a senha da superfície. Para o exercício dessa busca, o autor conecta sua reflexão ao ritmo cotidiano e às vozes da tradição, transita pela história pátria e dá uns bons mergulhos em sua própria história pessoal. Nisso está um dos “riscos” que ele assume. O resultado pode ser desafiante e saboroso para alguns; ou parecer inconsistente para outros. Como leitor desta poética, penso que o bloco do desafio do sabor terá mais audição.
um ritmo em prol de algo que se deseja ouvir
As Descoordenadas cartesianas... são compostas de um anexo poético e três ensaios: “Desconstruindo o filósofo”, “Maiakóvski, arte e política” e “Mística e Lógica: onde a linguagem pára”. Uma leitura do romance Catatau, do poeta curitibano Paulo Leminski, resgata a vida e a obra de Descartes em “Desconstruindo o filósofo”. Nesse texto - entremeado de versos, falas e trechos de canções do poeta, Pablo lê a prosa leminskiana por um inusitado ângulo de visão:
O “Catatau” parece mais com um quadro de Jackson Pollock, com Willian De Konig, com o be bop de Charlie Bird, com a psicodélia.
Assim como Leminski, que dizia escrever ouvindo música, Pablo escreveu seu ensaio ouvindo jazz. Ë de ouvido na desconstrução melódica e nos improvisos desse gênero musical americano que ele compõe a trilha sonora do Catatau. Para que o leitor entenda esta poética da audição, o autor discorre - num dos melhores momentos do ensaio - sobre gravações de Dizzy Guilespie, Miles Davis e George Gershwin, dentre outros. Essas obras apresentam elementos de ruptura como a digressão sonora, criando “um enorme labirinto” entre as notas musicais. É aí que música e literatura aproximam-se. Segundo Pablo, o dilema de Cartesius no Catatau é exatamente este: “Entre uma proposição e outra existe um imenso labirinto”. Para penetrar esse labirinto é convidada uma das principais personagens do sistema literário: sua excelência, o leitor (aquele misto de irmão e hipócrita moderno que vem nos seduzindo desde Baudelaire). Ao leitor, Leminski passa a bola durante toda a jogada. Seu texto convoca a ação de quem lê. E nesse jogo, a gente já sabe, vence o distraído (embora ninguém saia impune após adentrar a usina de signos que é o Catatau, como impune também não sai depois que atravessa os sertões de Rosa ou Euclides).
Além da visão sonorizada do Catatau, Pablo reconhece ler no texto de Leminski influências de Joyce, Oswald de Andrade, do Tropicalismo, de Wittgenstein e Franz Kafka (Nenhum anacronismo: é bom lembrar que Antonio Risério leu Borges na prosa leminskiana). Do escritor tcheco, por exemplo, o autor ressalta, o
humor macabro... O riso por trás do absurdo. O espanto diante de um mundo cheio de animais fantásticos e de formas em constante metamorfose. O espanto da fábula e o profundo anti-classicismo da cabala judaica.
Noutro momento instigante do ensaio, Pablo aproxima Cartesius - a personagem leminskiana - de Descartes. Utilizando-se de referências da vida e da obra do filósofo, o autor diz da desproteção de Cartesius sem um “quarto pouco iluminado”, sem “suporte matemático”:
Cartesius é derrotado pelo calor, pela absoluta inviabilidade tropical de se trancar num quarto. A paisagem super poderosa dita seu contra discurso, deixando-o atônito, perplexo, fraturado e absolutamente confuso.
O quarto que Cartesius não dispõe é aquele habitado por Descartes em seu Discurso do Método. Cartesius possui o sol e a cor dos trópicos; Descartes, a solidão e a treva do quarto. É nele que o filósofo - como Cartesius, “nutrido nas letras” - exercita seu exílio, na tentava de conduzir a si próprio. “Só e nas trevas”, num espaço no qual o outro não tem voz, Descartes habita o solitário quarto e, diferentemente de Cartesius, não tem sequer Artyschewsky para esperar (é bom lembrar que, no final do Catatau, a espera produz luminosidade; mesmo quando a luz existe a partir do urro da fera). Mas o que o fragmento acima mais denota, além da derrota de Cartesius, é o efeito do poder espacial. O texto mostra como o espaço, se não determina, pelo menos condiciona a produção de formas e linguagens, evidenciando as conexões existentes entre a produção reflexiva e o imaginário de quem lê ou escreve.
É consistente e inovadora a leitura do texto leminskiano empreendida por Pablo. Há em seu ensaio a vitalidade de um ritmo em prol de algo que se deseja alterar; algo a ser ouvido. Há, porém, um ponto questionável: o autor não vê concretismo no Catatau. Isso parece discutível. Apesar de entrever as possibilidades de outras estéticas em sobreposição ao concretismo, não sei se seria possível o experimento da prosa leminskiana sem a experiência poética dos concretos. Dentre outros procedimentos, pelo menos dois sugerem que “o bandido que sabia latim” escalou o concreto paulista. Primeiro, o modo como Leminski opera com o signo lingüístico e seu efeito significante (por exemplo, o processo de composição das palavras), em detrimento da expressão, do significado; segundo, a exaltação formal. Ou seja: a forma como reflexão expressiva da própria obra (embora essa exaltação da forma seja uma idéia que Walter Benjamin já lera nos autores românticos alemães do século XVIII, quando escreveu a sua tese de doutorado sobre o conceito de crítica de arte, na Suiça, entre 1917 e 1919).
Dentre outras lições, Leminski ensinou que a gente nasce limitado por um estoque de formas. Mas ele não faz disso um drama; ao contrário: de posse do arquivo de formas da tradição, rompe com a noção de gênero literário, simula estilos, recicla ditos e provérbios e relê a infra-estrutura da língua. De olho na historicidade desses procedimentos, Leminski constrói com o Catatau uma alegoria do próprio arquivo de formas no qual se constitui a arte contemporânea. Lição que Pablo aprendeu ao pé da letra, e nos traduz neste belo ensaio de carnavalesco final, onde livros, Cds, vídeos e telas compõem as indicações bibliográficas.
Esse intertexto entre as artes está presente também no ensaio seguinte: “Maiakóvski, arte e política”. O texto trata das relações entre a produção artística e a política, ressaltando a autonomia estética da obra de arte. Para isso, o autor utiliza-se da poesia e do teatro de Maiakóvski, da crítica literária de Walter Benjamin e do cinema de Leni Riefenstahl, dentre outras referências. Mas, como o título sugere, o poeta russo é a principal personagem do texto.
Tratando de uma produção estética que se subordina “ao ethos político”, o autor diz ironicamente do poeta como “um novo Homero” - antes porta-voz das musas; agora, dos operários. A temática é delicada. Ao ensaiar acerca de “revolucionários e ressentidos”, Pablo indaga até que ponto o contexto impulsiona o autor no sentido de colocar “sua arte a favor de uma causa”.
Como vê-se, o ensaio é permeado por questões fundamentais, como a noção de valor para a produção artística (é sempre bom lembrar: Nietzsche e Marx nos ensinam que os valores, assim como os sentimentos, são históricos; não são eternos). Em seu texto, Pablo questiona, estabelece parâmetros e toma partido, num ritmo que seduz e provoca o leitor. Na leitura que empreende acerca de Walter Benjamin e seu texto “O autor como produtor”, Pablo coloca o leitor no centro de uma discussão que envolve “tendências” corretas nas esferas política e literária. O tema é quente; produzirá boas releituras. No final, o autor brinda seu leitor com uma “Estrutura do argumento”, na qual explicita de forma clara e concisa seu roteiro. Vale a pena trilhá-lo...
Retomando Paulo Leminski na epígrafe de “Mística e lógica: onde a linguagem pára”, Pablo inicia seu último ensaio questionando “as conseqüências da idéia de Deus”. O autor deixa claro que não se trata de empreender uma descrição ou uma compreensão divina, já que os modelos mentais não reproduzem a “experiência de Deus”. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de inscrever essa “experiência de Deus”. A coisa é meio complicada porque, segundo o autor, essa “experiência” situa-se numa esfera inalcançável para a linguagem.
Pelo título e pela Personagem inscrita, vê-se que estamos diante do momento mais “sério” do livro. Aqui a tonalidade e a forma acadêmica ganham espaço, amparadas por uma polifonia e uma bibliografia na qual Wittgenstein ganha um bom - e merecido - espaço. Há tempos que com o autor do Tratactus Pablo mantém um produtivo intertexto. Mais atento ao “estilo oracular” que ao sistema lógico do autor, Pablo demonstra sua predileção pelos aforismos e pela fusão da lógica com a mística em Wittgenstein.
Num dos melhores momentos deste ensaio, Pablo faz uma belíssima leitura de “Der Panther” - o poema de Rilke traduzido por Augusto de Campos. De olho no olhar gradeado da pantera, diz o autor:
A pantera de Rilke se contorce dentro das grades de sua cela como nossa capacidade de compreensão se contorce dentro de nossa semântica e de nossa sintaxe.
O autor reflete acera das limitações impostas pela linguagem. Seu texto noticia nossa eterna impossibilidade perante a língua. Como único meio de criação de conceitos, ela jamais alcança a “essência” (êta palavrinha esquisita) das coisas, tornando possível a produção do conhecimento somente através de uma série de metaforizações. Tudo limitado e sempre no campo do possível. Como naquela canção da Tracy Chapnam, na qual uma voz entoa a dificuldade de dizer a palavra certa na hora certa. Seria muita pretensão? Ou, como indaga Cartesius: “onde o amor entre coisas e palavras?”
Entre as palavras e as coisas, o autor passa a bola ao leitor. Se em alguns momentos corre em excesso, não importa. O que vale é o seu desempenho na área: o domínio formal do jogo, a escolha do time (o elenco e o repertório), o resultado final da partida. Através de Pablo, sua geração começa a mostrar vida reflexiva sob o sol dos trópicos. Como Cartesius, ele sabe que “só por excessos se cria”. Que o excesso e as migalhas desse banquete alimentem o desejo do leitor é o meu desejo.