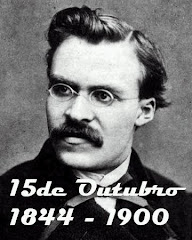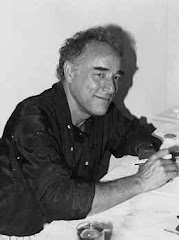Seminário apresentado no curso de doutorado As Controvérsias da Modernidade ministrado pelo prof. Dr. Eduardo Portella, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1999.
Proposta do Seminário
Diz Hans-Georg Gadamer que foi Nietzsche quem “nos ensinou a duvidar da fundamentação da verdade na autocerteza da própria consciência”.
Atentando para o recorte vocabular a partir do qual se elabora a assertiva de Gadamer acerca de Nietzsche, percebe-se a inscrição de três palavras cujos significados são complexos e bastante questionáveis na contemporaneidade: fundamentação, verdade e autocerteza. Não é por acaso que essa trindade vocabular vem associada ao vocábulo duvidar - um dos verbos mais conjugados no discurso da pós-modernidade.
Segundo o italiano Vattimo, Nietzsche é o filósofo a partir do qual nasce a pós-modernidade. A leitura de sua obra possibilita, dentre várias outras interpretações, uma crítica da racionalidade ao romper com a tradição filosófica centrada na razão instrumental. Trata-se de uma crítica ao conhecimento construído a partir de Sócrates e Platão (daí porque o autor retoma as doutrinas dos filósofos pré-socráticos - Parmênides, Heráclito... - que valorizavam a arte). Com Nietzsche, a razão é questionada. A partir de sua escritura, Dona Razão passa a ser suspeita.
Essa retomada dos autores pré-socráticos e esse questionamento da razão possibilitam a Nietzsche celebrar uma estetização da existência. Nela estão incorporadas outras instâncias do saber, como a dimensão artística, exemplificada, dentre outros, na música de Wagner e na escrita dionisíaca de Schopenhauer. Essa celebração estetizante da vida põe em questão os conceitos aos quais se refere Gadamer, sugerindo outras possibilidades de leitura da arte e da própria vida.
Se Nietzsche nos ensina a duvidar da fundamentação da verdade... é porque ele critica a verdade como valor supremo; ele elabora a crítica do valor que se atribui à verdade. Nesse sentido, ele sugere que não haveria algo a ser encontrado: a verdade poderia ser “interpretada” como uma perene possibilidade criativa.
Segundo Vattimo, já que a noção de verdade não subsiste e o fundamento já não funciona, dado que não há nenhum fundamento para acreditar no fundamento, e, portanto, no fato de que o pensamento deve “fundar”, torna-se necessário procurar uma outra via para lermos a contemporaneidade. Isso porque os conceitos produzidos pela modernidade já não dão conta da nova subjetividade que se constrói, por exemplo, a partir de um saber mediado pela simulação. Esse saber pode ser produzido com base numa semiótica dos afetos e das percepções, ou numa espécie de sintaxe dos sentidos. Seria um saber que não exclui os elementos dos sonhos, o discurso dos instintos e das paixões, as regiões dos desejos. Um saber com sabor, no sentido barthesiano, e que objetiva uma “vontade de potência”.
Perdidas as ilusões, a idéia da aura, o olhar olímpico e a plenitude de um eu agora metonímico, resta a certeza de lidarmos com uma verdade produzida a partir de uma construção lingüística (segundo Foucault, Nietzsche é o primeiro filósofo a pensar a questão da linguagem). Nietzsche questiona a validade de tais conceitos (verdade, certeza, fundamento...) ao perceber que a produção do conhecimento e da verdade – fundamentados nas leis da linguagem – só se torna viável por meio de uma “série de metaforizações” (Vattimo).
Como meio que possibilita a criação de conceitos, a língua não consegue atingir a “essência” das coisas, na medida em que a própria linguagem articula-se – arbitrariamente – como um sistema sujeito a regras fixas. Tais regras não dissimulam as ambigüidades oriundas de toda criação lingüística, excluindo o que de silêncio e fenda e falha resiste em cada discurso. Como diz Foucault, a linguagem não diz exatamente o que diz. E isso possibilita ao leitor /ouvinte a audição de um discurso outro que se constrói “sob as palavras”. Um discurso que, no dizer do filósofo francês, “seria mais essencial”.
Já as coisas não parecem tão necessariamente presas às regras e aos valores, como apregoam alguns crédulos. Elas surgem sintonizadas com um devir que parece necessitar mais de atenção que de julgamento, mediante o que anuncia de possibilidade e potência. Um devir de olho na ação e na reação de formas e forças. Sabe-se que esse devir não apresenta a “segurança” nem a “soberania” patrocinadas pelo projeto da metafísica. Viria daí o temor por algo que, na sua gênese, não anuncia a continuidade de uma história caracterizada por elementos seqüenciais, determinantes, lineares?
a verdade no arquivo
Para criticar a verdade como valor superior, Nietzsche faz o elogio da aparência e do fim das dicotomias (verdade-ilusão, essência-aparência, certo-errado...). Sua crítica possui como base a leitura dos valores morais calcados em dualidades.
Segundo Roberto Machado, em Nietzsche a verdade não tem como critérios a evidência e a certeza; tem como condição um esquecimento e uma suposição. Nessa leitura nietzschiana, a verdade é lida como uma ficção necessária que torna possível as relações entre os homens. O que Nietzsche critica em sua filosofia é a noção de valor atribuída à verdade. Por isso ele propõe um conhecimento elaborado a partir de uma pluralidade de valores. Porque o juízo de valor é mutante, contextual. Depende de certos condicionamentos sociais. Sua leitura sugere que os valores não são eternos, mas históricos. Resultam de uma produção que se dá a partir de interpretações. Os valores não são fatos.
A verdade é produzida em bases morais, e a moral é um sintoma relacionado à linguagem simbólica das paixões. Em Nietzsche, a genealogia da moral demonstra os danos que a mesma pode causar ao indivíduo, gerando o niilismo e suas principais figuras: o ressentimento, a má consciência e o ideal ascético. Essa crítica nietzschiana aos valores e à Dona Moral busca superar a metafísica dos valores. Para isso o filósofo propõe uma outra perspectiva para além das dicotomias; o que evidencia um pensamento voltado para o disfarce e a superfície como instâncias produtoras de figurações.
Esta releitura da verdade e este “duvidar” “na autocerteza da própria consciência” têm a ver com a morte de Deus anunciada por Nietzsche. O que o filósofo sugere com o assassinato divino é a produção de um novo conhecimento (não para conhecer a verdade, mas para inventá-la, no sentido de dar forma, estruturar, interpretar), e a construção de novos valores que tenham o homem – e não Deus – como referencial. Isso nos remete à leitura empreendida por Deleuze, segundo a qual em lugar da descoberta da verdade surge uma possibilidade de “interpretação”, de “avaliação”, fixando-se o sentido “parcial e fragmentário”, sempre voltado para a pluralidade. Nesta leitura deleuziana, a construção do sentido não acontece em sintonia com as noções de unidade e de totalidade que tanta sustentação deram para o projeto da modernidade.
Também é como uma “interpretação” que Foucault lê não apenas a produção de Nietzsche, mas também os textos de Freud e Marx. E para justificar sua leitura, o autor de “As palavras e as coisas” diz que a partir do século XIX, com as “interpretações” da citada trindade, transformou-se a natureza do símbolo, modificando-se as formas de interpretá-los. Para o filósofo francês,
os símbolos escalonaram-se num espaço mais diferenciado, partindo de uma dimensão do que poderíamos qualificar de profundidade, sempre que não a considerássemos como interioridade, antes pelo contrário, exterioridade.
A leitura dessa “dimensão” simbólica pode ser exemplificada na produção de uma cultura atualmente voltada para a visualidade e baseada nos amplos espaços horizontais da superfície (do vídeo à fachada descartável da arquitetura pós-moderna). É como se Foucault dissesse de uma escritura que inscrevesse os abismos da superfície, denunciando que a profundidade não é senão um jogo.
Neste jogo alguém morre. E esse alguém é nada menos que a divindade. Morto Deus, os “homens superiores” substituíram os valores divinos pelos humanos. Como não aconteceu nenhuma “transmutação” valorativa (os valores foram apenas substituídos), estes homens são considerados niilistas: defendem a vitória comum das forças reativas e da vontade de negar (Deleuze, “Nietzsche”). Esses homens são considerados escravos, apesar de serem maioria. Eles não utilizam as armas dionisíacas acionadas por Nietzsche: o riso, a dança, a brincadeira...
A morte de Deus na história do saber possibilita ao homem a construção do seu arquivo de formas. Formas estéticas e culturais. Formas que dialogam com o corpo e com a terra. Neste arquivo histórico e ideológico, o saber deixa de ser calcado em verdades teológicas, e isso serve para que o homem encare o seu projeto metafísico como algo aberto (uma “racionalidade aberta”), falível, passível de mutação.
Com base neste projeto, podemos continuar duvidando da “autocerteza” de nossa “consciência”. Nietzsche nos ensinou também que, ao invés de crermos em símbolos originais que postulam uma verdade, podemos vivificar uma “interpretação”, cujo princípio é o seu próprio “intérprete”. Ou seja: ninguém morreu. Se bem que esse “intérprete” encontra-se bastante fragmentado, anda esquizofrênico, como admite Sérgio Paulo Rouanet. Esse intérprete pós-moderno é capaz de escrever, num muro qualquer do planeta, o seguinte grafite: Deus está morto, Marx também e eu não estou me sentindo muito bem.
BIBLIOGRAFIA
Deleuze, Gilles. Nietzsche. Trad. Alberto Campos. Lisboa: Edições 70.
Foucault, Michel. Nietzsche Freud & Marx. Theatrum Philosoficum. Trad. Jorge Lima Barreto. 4ª ed. São Paulo: Ed. Princípio, 1987.
Machado, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro: Graal/ São Paulo: Paz e Terra, 1999.
Vattimo, Gianni. O fim da modernidade. Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. Trad. Maria de Fátima Boavida. Lisboa: Editorial Presença, 1987.