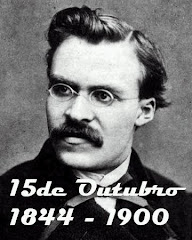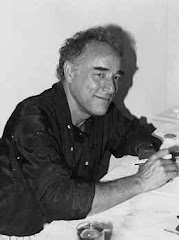Henrique Cairus de olho
na história dos conceitos
Entrevista publicada em 2005 no Portal de Literatura e Cultura Blocos de Leila Miclos
http://www.blocosonline.com.br/entrevista/pop_artistas/hcairus.php
"Do que os gregos gostavam mesmo era de ver. Por isso, há os notáveis cegos na mitologia, como Tirésias e Édipo. “Os olhos são melhores testemunhas do que os ouvidos”, diziam os gregos."
Nómos e êthos. Phýsis e gnôsis. Dóxa, páthos, alétheia e mythos.
Quem mergulha no imaginário grego ou transita pelos modernos espaços das artes, culturas, teorias e filosofias, conhece ou já deparou com essas palavras. Elas fundam alguns dos mais importantes conceitos da cultura ocidental, referenciam suas histórias e inscrevem algumas mitologias sociais. Esses conceitos são também as forças motrizes da atual pesquisa acadêmica de Henrique Cairus – Dr. em Letras Clássicas (Língua e Literatura Grega) pela UFRJ, com a tese Os limites do sagrado na nosologia hipocrática (1999).
Professor Adjunto de Língua e Literatura Grega e Diretor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de Letras da UFRJ, Henrique Cairus transita pelo universo da Grécia Antiga com a rapidez de quem conhece seus principais conceitos, dialoga com sua história e reverencia seus mitos. Prova isso o ritmo e as poucas horas nas quais erigiu-se esta entrevista. Rápido e certeiro, o co-autor de Ars longa: o doente, o médico e a doença na Grécia Antiga (2003) é também tradutor e ensaísta, tendo publicado nas revistas Range Rede, Inimigo Rumor, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, Calíope: presença clássica, Terceira Margem, Poesia sempre e no Suplemento Literário de Minas Gerais, dentre outros.
Membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, Henrique relaciona, a seguir, Arte e Medicina, fala de suas pesquisas na UFRJ e assume a sua paixão pela história dos conceitos (vide a aula acerca de Phýsis, com a qual o autor nos brinda). Imperativo ainda atentar para a narrativa de sua experiência na coordenação do Fórum Poesia da UFRJ, e para a eleição de Agamêmnon como o mito grego predileto deste professor e tradutor de grego. Dos gregos, Henrique herdou, além do gosto pela visibilidade, a paixão pelo saber. Paixão essa que se expressa nas formas como ele lê o “cotidiano ático”, estuda a “profanação da doença”, mergulha nas “águas de Tales” ou ouve uma “lira entre Hermes e Apolo” – para citar alguns dos temas caros a este pesquisador.
Professor Adjunto de Língua e Literatura Grega e Diretor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de Letras da UFRJ, Henrique Cairus transita pelo universo da Grécia Antiga com a rapidez de quem conhece seus principais conceitos, dialoga com sua história e reverencia seus mitos. Prova isso o ritmo e as poucas horas nas quais erigiu-se esta entrevista. Rápido e certeiro, o co-autor de Ars longa: o doente, o médico e a doença na Grécia Antiga (2003) é também tradutor e ensaísta, tendo publicado nas revistas Range Rede, Inimigo Rumor, Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, Calíope: presença clássica, Terceira Margem, Poesia sempre e no Suplemento Literário de Minas Gerais, dentre outros.
Membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, Henrique relaciona, a seguir, Arte e Medicina, fala de suas pesquisas na UFRJ e assume a sua paixão pela história dos conceitos (vide a aula acerca de Phýsis, com a qual o autor nos brinda). Imperativo ainda atentar para a narrativa de sua experiência na coordenação do Fórum Poesia da UFRJ, e para a eleição de Agamêmnon como o mito grego predileto deste professor e tradutor de grego. Dos gregos, Henrique herdou, além do gosto pela visibilidade, a paixão pelo saber. Paixão essa que se expressa nas formas como ele lê o “cotidiano ático”, estuda a “profanação da doença”, mergulha nas “águas de Tales” ou ouve uma “lira entre Hermes e Apolo” – para citar alguns dos temas caros a este pesquisador.
NG – O número 9 número da revista Terceira Margem (UFRJ) abre com um texto de sua autoria: “A arte hipocrática entre o logos e a práxis”. Neste ensaio você faz uma interessante leitura do tratado Peri tékhnes (De arte), destacando, dentre os seus objetivos, “a garantia da permanência da medicina no universo das tékhnai, que nos acostumamos a chamar de arte.” Gostaria que você falasse dessa relação entre a Medicina e a Arte.
HC: O artigo a que você se refere foi escrito especialmente para um número da Terceira Margem que tratava especificamente do tema da arte. Acabei entregando o artigo tarde demais, e, assim, ele só foi publicado graças à generosidade dos Professores de Teoria Literária da Faculdade de Letras, que cuidam da revista.
O que procurei expressar no artigo é a necessidade de se repensar o conceito de arte a partir de um momento em que ele se firma no ocidente. Não se trata de recorrer à etimologia – de resto, bem interessante – da palavra arte, mas trata-se de buscar, no momento mais remoto da vida deste conceito o seu núcleo, seu vértice apical, com o qual ele mantém hoje parcas relações.
Nesse momento embrionário, a arte filiava-se ao valor do saber, e o dado estético podia conferir-lhe autenticidade, como expressão do resultado perfeito. Mas esse resultado perfeito variará de acordo com o que se espera do mundo. Assim, a arte podia ter um resultado religioso, um resultado político, um resultado político-religioso, etc. Isso vai sempre depender do que se espera da ordem do mundo.
A medicina é um dos primeiros campos do saber que se circunscreveram como tal no ocidente. Desde muito cedo, mais mágica ou menos mágica, a medicina foi reconhecida como um campo do conhecimento, e com um fim específico. Ela é, portanto, exatamente aquilo que os gregos entendiam por arte: um saber com seus códigos específicos que visa a um fim específico e que deve ser autenticada pela representação do mundo esperado (donde advém a relação entre a arte e a estética).
NG – Ainda em relação a esse ensaio da Terceira Margem, gostaria de fazer outra pergunta: se "êidos" aponta para “onde é possível a observação”, o que diferencia essa idéia da noção de "topos", por exemplo?
HC: A palavra êidos ganhará alguns sentidos extras, especialmente na obra dos filósofos, mas fiquemos com o uso do termo com o qual trabalhei no artigo, qual seja o de coisa visível. A palavra êidos nunca se divorciou por completo de sua origem no verbo que significa ver. Para o autor do tratado com o qual trabalhei no artigo, o êidos são as manifestações visíveis de algo que não é necessariamente visível. Essa acepção enquadra-se apenas parcialmente na idéia que Aristóteles instala no termo.
A palavra tópos indica apenas o lugar determinado, o local apreensível pelo conhecimento. Nada mais. Do que os gregos gostavam mesmo era de ver. Por isso, há os notáveis cegos na mitologia, como Tirésias e Édipo. “Os olhos são melhores testemunhas do que os ouvidos”, diziam os gregos.
Palavras capitais, como “idéia” e “história”, têm sua origem no mesmo verbo “ver” de onde vem “êidos”.
NG: Você filia-se a uma linha de pesquisa, na Pós-Graduação da UFRJ, que se interessa pelo “trânsito dos saberes no século V”. Quais autores e obras você escolheu como corpus para essa pesquisa, e a que ela se propõe?
HC: Como você sabe melhor do que eu, geralmente escolhemos os temas. Dessa opção brotam os autores e o corpus de nosso estudo. Desde meu curso de graduação, ficou claro para mim que eu não teria isenção para fazer do objeto estético o meu tema. Posso tê-lo por corpus, mas não por tema. A partir daí, comecei a interessar-me pela forma como os textos fazem circular as idéias. De um modo muito especial interessei-me por determinados momentos e lugares que julguei capitais na transmissão e na propagação de idéias. Dentre esses momentos, dedico-me intensamente, desde 1993, à circulação dos ideais laicizantes e de equilíbrio difundidos pelos primeiros textos de medicina do ocidente. Esses ideais contribuíram decididamente para a formação da nossa maneira de pensar. A primeira reverberação sensível que podemos hoje perceber dessa propagação de ideais está nos textos das poucas tragédias que nos chegaram, nos escritos dos historiadores da época clássica e nas obras dos filósofos.

NG: Poderia citar exemplo desses “ideais” “difundidos” pela medicina e que “contribuíram” para a nossa formação?
HC: Posso citar alguns, mas creio que o mais relevante seja o da justa medida como idéia de saúde. Essa idéia teve seu encontro feliz e profícuo com o sentido que a pólis buscava para si. Nesse momento, cidade e corpo se fundem em torno do senso de equilíbrio, e distancia-se sensivelmente dos ideais heróicos dos excessos dos grandes feitos. A medida do homem, que antes era os deuses, passa a sua própria natureza. Não se tratava de um ateísmo, mas de um grande processo onde se inseria a laicização.
Em um livro que escrevi em co-autoria com um helenista de São Paulo, Wilson A. Ribeiro Jr., busco mostrar como a natureza, nesse momento, situa-se na margem, como ela está em constante construção conceitual e como ela enuncia o possível. Trata-se de uma natureza que passa a ser matizada pela possibilidade de intervenção humana.
NG: A ementa de um dos seus cursos anuncia a leitura da “trajetória de alguns conceitos gregos”. Nessa “trajetória”, quais conceitos você selecionou para estudar e por quê?
HC: Minha grande paixão, por influência assumida de Helena Mollo, como objeto de estudos é a história dos conceitos. Gosto imenso de perseguir um conceito desde o seu aparente nascedouro até os nossos tempos. Gosto de vê-lo fortalecer-se, agonizar, renascer, mudar, adaptar-se. Contra toda essa minha maneira de ver a trajetória dos conceitos, voltam-se as etimologices, que negam justamente esse trajeto; que criam laços indiscriminados e levianos entre um conceito atual e sua origem. O que me interessou, ao contrário, sempre foi a maneira como os conceitos se constroem incessantemente, in moto continuo.
Em cursos de pós-graduação, já trabalhei com conceitos como nómos e êthos, neste semestre, de 2004, pretendo oferecer um curso sobre phýsis, alétheia e mythos. A idéia é considerar as ocorrências desses termos em autores que se tornaram referenciais. A partir dessas ocorrências, estudando-as, esmiuçando-as, é que se pode concluir algo acerca do significado desses termos em tal ou qual época e circunstância.
Os termos deste semestre foram escolhidos pelos seguintes critérios: primeiramente expressam conceitos capitais no pensamento ocidental, sem os quais a compreensão de nós mesmos fica deficitária. Em segundo lugar, porque expressam conceitos que são costumeiramente vítimas de especulações ditas filosóficas, mas que, muitas vezes, não vão muito além de deduções a partir de dados etimológicos que reproduzem o que Marc Bloch chamou de “o ídolo das origens”.
NG: Poderia traçar um paralelo entre um determinado conceito na sua originalidade e sua re-leitura na contemporaneidade?
HC: Eu poderia exemplificar, muito resumidamente, a trajetória de um conceito, evocando o termo phýsis. Phýsis é, costumeiramente traduzido por “natureza”. Os tradutores mais radicais arriscam traduzi-la por “algo espontâneo”. De fato, a palavra phýsis nasceu com essa missão de significar aquilo que brota, posto que formada do verbo phýo e do sufixo – sis, que indica uma ação verbal. Traduzi-la etimologicamente resultaria em algo como “brotamento”.
É evidente que essa palavra teve essa acepção que justifica o seu surgimento. Podemos encontrá-la com esse significado em Homero, por exemplo, e mesmo em autores mais recentes (porque um sentido que nasça não faz sucumbir o outro). Uma outra matiz originária do termo é conservada por mais tempo, refiro-me à idéia de nascimento.
No século V a.C., em uma estrutura de pensamento binário, o conceito ganha seu par de oposição, o nómos (que merece um estudo detalhado para ser compreendido). O autor do tratado hipocrático ‘Ares, águas e lugares’ explicita essa oposição com a máxima clareza. Começa então um binômio ao qual aprendemos a chamar, graças a Lévi-Strauss, de natureza e cultura, ou ‘o que parte do homem’ e ‘o que não parte do homem’. Esse duelo de forças interpenetrantes foi fundamental para constituirmos o nosso conceito de natureza, mas, antes disso, tivemos de passar por outras ‘naturezas’: as naturezas adjetivadas dos séculos XVIII e XIX, por exemplo, que são tão presentes na construção de nossa nacionalidade. Adjetivada, porquanto ‘índole’ (que é onde a natureza mais penetra na cultura), e adjetivada, porquanto selvagem e exuberante, mas que deve ser domada (nesse caso procura-se uma penetração da cultura na natureza).
Não será difícil constatar que o cerne dessas observações está em autores como o médico hipocrático sobre o qual falei ou como Tucídides. Trata-se, portanto, de releituras que oscilam ao sabor das conjecturas, mas que também constroem essas conjecturas.
NG: Bela releitura, essa da phýsis. Passemos agora à práxis. De 1998 a 2001, você coordenou o criativo Fórum Poesia da UFRJ. Qual balanço você faz dessa experiência situada entre a poesia, “o logos e a práxis”?
HC: Esse é o meu assunto predileto! O Forum Poesia, referido na sua tese doutoral, foi uma incumbência que recebi (de má vontade) das mãos do Prof. Doutor Afonso Carlos Marques dos Santos (também ele poeta, do grupo Adversos), que, na época, era Coordenador do Forum de Ciência e Cultura da UFRJ. Ele queria que eu levasse adiante um projeto engavetado de produzir, no nobilíssimo espaço do Palácio Universitário da Praia Vermelha, um evento de poesia. Deu-me completa liberdade para fazê-lo.
Aos poucos, fui animando-me com o projeto. A primeira versão foi pensada por mim e por amigos da área da literatura, como Carlos Alves de Oliveira (hoje, proprietário do maior sebo do Rio). Foi uma edição tímida, com um público de umas dez pessoas por noite.
Mas o projeto amadureceu, e aproveitei a oportunidade para pensá-lo pedagogicamente. Ele não servia, estava claro, para alimentar a estrutura da inteligetzia literária carioca. Para isso não dava. Pensei então em outro perfil, o de um evento de formação de leitores de poesia. Não queria mais apenas leitores formados, mas sobretudo futuro leitores. Pessoas que fossem ouvir poetas e poesias para ter vontade de lê-los.
Assim, fiz duas divisões do evento na minha cabeça. Uma coloquei no programa. Tratava-se da divisão temática, sugerida pelo alfarrabista Carlos Alves e endossada pelos nossos amigos comuns, os grandes poetas Armando Freitas Filho e Geraldinho Carneiro. Teríamos, portanto, o dia de “poesia e erotismo”, de “poesia em tradução”, “poesia em prosa”, etc... A outra divisão ficou só na minha cabeça. Eu queria misturar poetas que despertassem a vontade da leitura com poetas exclusivamente para iniciados. Esses últimos estariam lá para serem uma testemunha viva da sua literatura. Para muitos espectadores do evento, alguns desses poetas estavam tão distantes quanto Castro Alves. Dar-lhes vida foi mais do que gratificante para mim. Nessa categoria incluo Ferreira Gullar e o próprio Armando Freitas Filho.
Fui assumindo essa missão conferida pelo Prof. Afonso de uma forma mais entusiasmada ainda, quando percebi que eu me encontrava em uma boa posição para organizar um evento daqueles. Sem ser do “meio”, eu não deixo de transitar por ele. Pude reunir, assim, poetas que dificilmente estariam juntos de forma tão espontânea. Muitos, por purismo ou vaidade, não cederam à pluralidade que o Forum Poesia impunha, mas não quiseram faltar à festa, e ajudaram a completar o ambiente múltiplo. Rigores eruditos, dessa forma, deram os braços à verve libertária da década de setenta, e espero que sem muita dor.
O que exigiu mais coragem foi também o que rendeu mais sucessos. Trata-se das sessões dedicadas à relação entre a música e a poesia. Conseguimos lotar o salão nobre do Palácio (conhecido como Salão Dourado) por três vezes. Nessas emocionantes ocasiões, a poesia beijou sua origem e respirou de público. Foi a hora de brilharem Bráulio Tavares, Numa Ciro, poetas cordelistas, e outros poetas que fazem música, além de um brilhante músico que cria melodia para poemas, o Flávio de Lira (Flaviola).
O resultado dessa empreitada foi que conseguimos dar à poesia uma moldura dourada. No Forum Poesia, o poema teve status de música erudita, e tentamos, a equipe do Forum, dignificar a arte de dizer e cantar poesia, tirando-lhe o ranço rancoroso de arte derrotada.
NG: Numa conferência proferida em 2003, em São Paulo, você diz da sedução que o controverso termo nómos carrega. Na sua etimologia, nómos significa “partilhar”. Depois você dele fala como “comportamento”, cita-o nos versos de “Antígona” e aponta, dentre outros, a “oposição” que o pensamento grego estabelece entre nómos e phýsis. Afinal, “quando o nómos não é a lei”?
HC: Esse é um problema de tradução. De técnica de tradução. Um determinado sentido de “lei” de fato coincide com um determinado sentido de “nómos”. Os termos “lei”, em português, e “nómos”, em grego, têm sentidos outros que não coincidem entre si. Na conferência a que você se refere -- e que acabou virando capítulo de um livro que ainda não recebi – procurei explorar os outros sentidos do termo “nómos”, significados que apenas tangenciam o sentido de “lei”.
NG: Num passeio pelo imaginário grego, descobrimos que Prometeu, por exemplo, é o mito predileto de Karl Marx. Pesquisador da Grécia clássica e “leitor” do seu imaginário, qual mito você elege como predileto? Por quê?
HC: Prometeu é o mito predileto de todos os que prezam a capacidade que se tem de realmente mudar a realidade. Prometeu é sobretudo um mito de mudança definitiva, um mito fundador da cultura. Marx o prefere por esse seu significado transformador e pelo seu caráter de revolta, mas também os cristãos o preferem, porque ele é passível de uma leitura filantrópica.
No momento, estou saboreando o reflexo da coerência nas incoerências dos mitos, estou aprendendo com a observação de que a força e fraqueza convivem abertamente no mito. Nesse sentido, tenho apreciado a figura de Agamemnon. Um homem solitário e isolado da humanidade por um poder que, às vezes, é maior do que ele pode suportar. Pelo seu lugar, sacrificou sua filha amada; pelo seu lugar, provocou a ira de Aquiles, mas, depois de emblematicamente derrotar os bravos troianos, é assassinado por uma trama doméstica. É um homem atormentado, patético e solene. Como me disse um aluno por inocência, mas com muita verdade, ele é a cabeça.
NG: Leminski diz do mito como uma forma que não se supera, e através dele assegura ser possível uma “leitura absoluta das essências”. Qual seria, na sua opinião, a essência do mito de Agamemnon?
HC: Leminski é um de meus poetas prediletos. É grande, e você é especialista em sua obra. Também por isso eu te admiro tanto. Mas Leminski é poeta. E poeta desses que estão à frente de seu tempo, e sempre será atual e moderno. Isso implica em uma liberdade de dizer de que eu não me sinto à vontade para dispor. Um mito, seja ele qual for, é um produto de uma cultura e de um tempo, e está comprometido com a cultura e com o tempo que o engendrou. Grandes mitos tornaram-se grandes ou porque coincidem com as leituras que nós fazemos de sua matéria ou porque fundaram a leitura que fazemos dela. Objeta-se, geralmente, dizendo que o mito trata do humano, do imutavelmente humano. Mas hoje em dia não é mais possível sermos tão ingênuos a ponto de não reconhecer que o imutável depende de como o vemos. Um carioca de hoje pode considerar uma bela “diversão” o mesmo mar que um português da década de 30 ou 50 consideraria a materialização da ‘saudade’. Os mitos são leituras, em diversos níveis (que também dependem do tempo e da cultura) da ordenação do universo, dos homens, da natureza e da cidade.